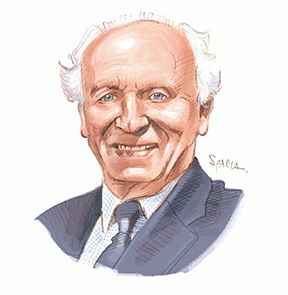Francisco Doratioto lembra, 150 anos após a Guerra do Paraguai, como divisões políticas afetaram a condução do conflito
Marcelo Godoy
O Estado de S. Paulo, 3 de maio de 2020
Poucas obras recentes na historiografia brasileira tiveram o impacto que Maldita Guerra teve quando foi lançada há 19 anos. Escrita pelo historiador e professor da UnB Francisco Doratioto, de 63 anos, ela consolidou a visão de que a Guerra do Paraguai, o maior conflito da história da América do Sul, foi fruto de um processo regional, rompendo com a visão que o vinculava à ação do imperialismo inglês. O livro será relançado com novos documentos pela Companhia das Letras em razão dos 150 anos do fim da guerra. Com base no período, Doratioto diz que a profissionalização e o distanciamento da política são fundamentais para o Exército e a para a defesa nacional. Eis a sua entrevista.
Como o conflito se projeta com suas consequências na região do Rio da Prata 150 anos depois? A guerra faz parte da identidade nacional dos países. Em alguns deles com mais intensidade do que outros. No Paraguai, derrotado e com mais perdas humanas e de território, a guerra está entranhada desde o nascimento de cada cidadão. Solano López é um herói nacional. No Brasil é algo inconsciente. Não se fala em Guerra do Paraguai, mas nomes como Humaitá e Itororó estão presentes em todas as partes do País como praças e ruas. Faz parte de nossa identidade. Na Argentina e no Uruguai também. O fundador da República Argentina, em 1862, é Bartolomé Mitre, que vai ser o comandante aliado na Guerra do Paraguai. Nas províncias argetninas que sofreram, como Corrientes, a invasão paraguaia, o sentimento da presença do dia a dia da guerra ainda está lá em mausoléus e cemitérios. Há as mulheres correntinas que foram levadas à força para o Paraguai e são consideradas heroínas. E, no Uruguai, cuja guerra civil foi o estopim da guerra, a guerra do Paraguai está sempre presente. Uma vez o historiador paraguaio Manuel Peña Villamil me disse um coisa interessante: ‘A guerra devia ser vista como primeiro momento da integração, pois foi a primeira causa comum vivenciada pelos quatro países’. Os processos de independência deles foram todos diferentes. E a guerra foi o primeiro evento comum e trágico dos quatro.
O custo da guerra teve alguma influência na escolha da diplomacia para a resolução posterior dos problemas entre os países?
Não creio. Na minha interpretação da guerra, todos nós hoje no mundo acadêmico que trabalhamos o tema, é raríssimo quem não diga que a guerra não é fruto de um processo histórico regional. E isso está vinculado ao fato de não existirem estados nacionais definidos na região do Rio da Prata. Até Guerra do Paraguai tínhamos tentativas de Estado. Buenos Aires tentava se impor ao interior em 1862 e o Uruguai era uma criação da diplomacia britânica, que antes da guerra tinha 200 mil habitantes. Ele não era um país consolidado com identidade nacional. O Paraguai tinha uma população pequena submetida ao absolutismo de uma família; o Estado era uma propriedade privada. Formalmente era um Estado, mas as estruturas eram muito precárias. Os dois Estados que foram centralizados precocemente na América Latina foram o Império do Brasil, na década de 1840, e o Chile também na década de 40. Não é à toa que esses dois países quando se envolvem em guerras saem vitoriosos; o Chile, na guerra do Pacífico, apesar da desvantagem numérica. Eles tinham Estados mais organizados, com serviço diplomático para defender seus interesses. Nessa visão, a Guerra do Paraguai era o fim de um processo, com o confronto de caudilhos que tinham suas milícias e com o Império, que se organizara contra uma facção argentina, em 1852, contra Rosas. Depois vai ser privilegiada a diplomacia, porque até a Guerra do Paraguai, o Rio da Prata era um espaço vital economicamente para a elite de Buenos Aires, que era agroexportadora. O espaço geoeconômico era vital para os criadores de gado. Mas o final da Guerra do Paraguai coincide com a segunda revolução industrial, com a criação do navio frigorífico, que permite exportar carne fresca, e a compra de cereais. De repente, vão ter início os milagres econômicos argentino e uruguaio. Como consequência, o espaço do Rio Prata, apesar de ainda importante, deixa de ser vital. E o Império brasileiro está em crise política e econômica, em razão dos gastos com a guerra. O Rio da Prata não vale mais uma guerra. E a diplomacia se torna o instrumento. Por fim, uma guerra implicaria na perturbação da agroexportação argentina, o que não interessava às suas elites.
A mentira muitas vezes tem um papel na história. Na Guerra do Paraguai existe a do falso acordo entre Brasil e Argentina para dividir o Uruguai, que se transforma em um dos dentes da engrenagem que leva ao conflito. Qual o seu peso para a eclosão da guerra?
Eu tenho dúvidas sobre o papel do fator aleatório, do acidente na história. Pois há coisas que parecem acidentes, mas quando você vai ao arquivo, à micro-história, você percebe que tem uma lógica. E o historiador é por definição alguém que busca a lógica dos acontecimentos. Mas há momentos em que há o fator aleatório. Um exemplo: Tancredo Neves pega uma septicemia e morre, mudando a história recente do país. Na Guerra do Paraguai, tomo como exemplo a Batalha do Riachuelo, pois a derrota paraguaia inviabilizou a vitória de Solano López, impedindo o acesso à Buenos Aires. O ataque podia ter sido bem sucedido. A ideia era a flotilha paraguaia chegar aonde estavam fundeados os navios brasileiros ao amanhecer, quando os navios a vapor não estariam com fornalhas acesas e não poderia se movimentar. Só que a pá de um dos navios da flotilha paraguaia teve um problema e atrasou a partida. Ela chegou duas horas depois do planejado e aí já estavam acesas as fornalhas e a frota brasileiro conseguiu reagir. Se não fosse esse atraso o resultados seria outro. E por que não deixaram para o dia seguinte? Aí tem a lógica. Solano López punia qualquer chefe militar que não seguisse uma ordem dele. Preferiu-se então atacar mesmo com o bom senso dizendo que as condições seriam outras. No desencadear da guerra em si não vejo fator aleatório, mas muitos fatores racionais explicados. No caso da mentira, não havia plano de se dividir o Uruguai, mas o fato concreto é que Solano López acreditou nisso e eu não sei se o governo uruguaio não acreditava. Brasil e Argentina nunca haviam agido em acordo antes no Rio da Prata. Seria razoável se pensar que pretendiam dividir o Uruguai. O fato concreto é a convicção de Solano López de que aquilo era verdade e que teria um desdobramento: o ataque ao Paraguai. Solano López já tinha interesse de participar dos negócios do Rio da Prata. Enfim, não é a mentira ou informação duvidosa que leva ele à guerra, mas ela é um pretexto, uma justificativa.
Os principais atores tinham consciência para onde se dirigiam nos momentos que antecedem a guerra?
Eu acho quer ninguém acreditava na guerra. Do lado brasileiro e argentino como pensar em um país como Paraguai, com 400 mil habitantes, isolado dentro do continente e sem armamento moderno, fosse atacar o Brasil, que tinha 9 milhões de habitantes, um comércio externo muito maior que o Paraguai e tinha marinha de guerra e a Argentina, que tinha uma população de 2 milhões de habitantes e com saída para o mar? Não era razoável supor que haveria esse ataque. Nem a elite brasileira - nem a argentina - acreditava a guerra. Os blancos uruguaios tinham esperança no socorro militar paraguaio, mas Solano López fica adiando. Ele tinha 70 mil homens em armas e um serviço de espionagem, mas talvez não acreditava que fosse ter usar essa força efetivamente. E, quando ele dá o ultimato em agosto de 1864 ao governo brasileiro, ele acredita que aquilo ia resolver. López não acreditava muito que o Brasil fosse intervir no Uruguai.
Qual o peso da pressão dos fazendeiros gaúchos no Uruguai e da subsequente intervenção brasileira naquele país para a decisão de Solano López iniciar o conflito?
É muito importante. Têm as circunstâncias da época. De 1844 a 1862, o poder no Rio era controlado pelo Partido Conservador e foi ele que montou a política externa do Brasil para o Rio da Prata, que vigorou até recentemente, até o processo de integração Brasil-Argentina. E seu objetivo era conter Buenos Aires. As elites do Império temiam que essa república grande e forte no sul acabasse desintegrando o Brasil. O objetivo delas era ainda garantir a livre navegação do Rio Paraná e o acesso à Mato Grosso. Essa elite do Partido Conservador tinha uma visão de Brasil, não estava submetida às elites econômicas, ela ia além disso. O Visconde do Rio Branco, pai do Barão do Rio Branco, era um sujeito da maçonaria, um político profissional, um quadro weberiano no sentido da burocracia do Estado. O Partido Conservador defendia os grandes fazendeiros? Sim, porque todo mundo os defendia. Era uma realidade da época. Mas não era um instrumento dócil. Não era, numa visão marxista clássica, uma corrente que retransmitia os interesses dos senhores de escravos. Também fazia isso, mas não só isso. Ele cai em 1862 e sobe ao governo o Partido Liberal, que, por sua vez, vai incorporar dissidentes do Partido Conservador. O Partido Liberal assume e logo tem de enfrentar a Questão Christie, que foi uma desmoralização, com os navios britânicos na Guanabara ameaçando bombardear o Rio e, sob a mira dos canhões ingleses, o Brasil pagou a indenização exigida pela Inglaterra. Depois houve uma quebra de bancos no Rio. Havia um governo frágil, precisando melhorar sua popularidade e sem política externa definida. E aí vem os fazendeiros do Rio Grande do Sul, que tinham propriedades no Uruguai e tinham tomado um lado na guerra civil, o dos colorados, pois o governo uruguaio, que era blanco, tinha proibido a escravidão e proibido a exportação de gado em pé para o Rio Grande do Sul, pois o charque gaúcho era feito com gado uruguaio. O governo liberal de então não tinha condições de resistir à pressão da elite gaúcha. Assim, o papel dos fazendeiros é grande, pois leva o Rio de Janeiro a se envolver em uma assunto que interessava a Buenos Aires, mas não ao Brasil.
Sartre aborda em Questão de Método o papel do indivíduo na história. Como podemos classificar o papel de Solano López na história da Guerra? É possível dizer que a guerra não existiria sem a figura de López?
É um tema altamente complexo e qualquer resposta seria defensável . Se você me perguntasse há 20, 30 anos atrás eu diria que não, que o homem não faz a história. Hoje temos dois pensadores diferentes: Marx diz que os homens fazem a história, mas não como gostariam e Ortega y Gasset que diz que o homem é ele mesmo e seu contexto. Um guerra é sempre fruto de um contexto. Um homem nunca a faz sozinho. Mas aí tem de pensar o contexto do que era o Paraguai. Sempre tinha vivido ditaduras e não tinha uma elite que se exprimisse em Parlamento. E o estado funcionava quase como uma propriedade pessoal de Solano López e de sua família. Durante a guerra, o maior fornecedor de gado ao exército paraguaio eram as fazendas da família López. As outras não conseguiam fornecer porque os homens foram todos convocados no começo da guerra, menos a família López. E a ideia de que um homem podia mandar e fazer o que queria era a realidade de López. O processo decisório era nenhum. A guerra é fruto do contexto, mas também é fruto da postura do governante. Sem ele aquele processo histórico não adquiriria a forma que adquiriu e, principalmente, a continuidade da guerra em si. A única explicação é a relação de Solano López com o poder. Ele sabe que vai perder, que não tem saída e sacrifica um país inteiro, uma população inteira. Pode-se falar em uma liderança carismática? Esse é um ponto polêmico. Há autores paraguaios, que se dividem entre lopistas e antilopistas, que vão dizer que ele era um tirano e eu concordo. Em alguns momentos, ele parecia carismático, mas não se sabe até onde ele era carismático ou era o terror que infundia e levava as pessoas a segui-lo. O fato concreto é que, como os paraguaios não tinham jornal e acesso á informação comum, eles acreditavam piamente que lutavam pela independência do país e que Brasil e Argentina iam anexá-lo. Durante a guerra, os soldados paraguaios foram muito corajosos.
Como muda a imagem dos chefes militares brasileiros depois da guerra do Paraguai? No caso dos chefes militares brasileiros, desde sempre eles foram apresentados como pessoas dignas de admiração. Não que não houvesse críticas, mas a maior parte das críticas em relação a Tamandaré ou a Caxias se davam em razão da política partidária. Caxias era senador do Partido Conservador e Osório era de uma facção liberal do Rio Grande do Sul que era detestada pela outra, a do (visconde de) Porto Alegre e do (almirante) Tamandaré. O que há de mudança é sobre a figura do herói máximo da guerra. No século 19 e no começo do 20 não havia a figura do patrono do Exército brasileiro. O maior herói era Osório e não o Caxias. Osório era verdadeiramente popular, inclusive na Argentina e no Uruguai. O que houve foi essa alteração. Osório tinha vindo de baixo para cima, ficava com a soldadesca, contava piada e Caxias era uma figura aristocrática, distante do soldado comum, disciplinador. Essa é a grande alteração que vejo. Mas não vejo surgir nenhum vilão nem um vilão se tornar herói. Todos eram respeitados como chefes militares.
No livro o senhor descreve a morte de Solano López e diz que ele não foi apenas lanceado, mas também recebeu um tiro de fuzil. E que os soldados brasileiros em Cerro Corá perderam o controle e o combate se transformou em degola. O que leva a esse comportamento na Guerra do Paraguai?
Ele foi lanceado, mas a causa da morte vai ser o tiro. Depois que eu publiquei o livro, pesquisando para uma biografia do Osório, fiz contato com um tetraneto do general, professor de história da Universidade de Pelotas, Mário Osório Magalhães. Ele era parecidíssimo com o Osório e me cedeu os originais que tinha do senador Homem de Mello que, em 1869, foi ao Paraguai. Ele esteve com o cabo Chico Diabo, que lanceou o Solano López. Ele o descreve como uma pessoa extremamente simples, primária, que não articulava pensamento e que falava que a grande arma da guerra era a lança, que ela vencia canhões. A ordem do imperador era não matar Solano López. O objetivo era tirá-lo do Paraguai. Se você pegar o Chico Diabo, ele teve dificuldade de receber prêmio e não ganhou nenhuma condecoração e nenhum reconhecimento do império. Isso prova que não se queria matar Solano Lopez. E o tiro foi dado à revelia do general (José Antônio Correia da) Câmara. Um soldado veio e deu o tiro. Essa violência toda em Cerro Corá – não chega nem ser uma batalha propriamente dita, visto a diferença de forças entre um lado e outro - tem a ver e é fruto dos cinco anos de guerra, as condições em que o conflito foi travado. As violências foram de parte a parte também, dos dois lados. Há ‘n’ descrições de soldados aliados feridos sendo mortos em Curupaiti. Foi algo muito violento e, no final de 1969, teve uma enorme fome na tropa, faltou comida na tropa aliada. As descrições, como a do diário do conde D’Eu, mostram que a fome da tropa é inacreditável. Teve muita deserção. Não tem controle mais para se manter a ordem. O sujeito (Solano Lopez) que durante cinco anos foi apresentado como cruel e desumano está na sua frente e aí a soldadesca perdeu o controle. Em outros momentos também perdeu, como em Peribebuí e no saque de Assunção. Cerro Corá não foi o único momento.
Como a falta de unidade de comando e as lutas entre conservadores e liberais paralisaram as forças brasileiras no começo da guerra e qual o papel do imperador para contornar essas divisões?
A Constituição permitia que os oficiais fossem filiados a partidos políticos e tivessem mandatos. Caxias era senador. O problema é que na frente de batalha o comandante de um partido privilegiava filiados à sua agremiação. E depois havia as acusações. A imprensa liberal atacava os chefes militares conservadores e vice-versa. Isso dificultou o processo decisório na frente de batalha. O caso maior foi Curupaiti e o período entre 19865 e 1866, em que não havia um comandante em chefe das forças brasileiras. Existiam três oficiais generais da mesma patente, dois do partido liberal que eram primos, o visconde de Porto Alegre e o Tamandaré e havia Polidoro Jordão, que era do partido conservador. Tinha uma imobilidade no processo decisório que, em parte não era o fator principal, mas que agravava as dificuldades de se montar uma estratégica frente a algo que não se conhecia bem, que era o complexo defensivo paraguaio de Humaitá. Esse processo apareceu ainda na invasão paraguaia do Rio Grande do Sul até Uruguaiana, porque não interessava a setores do partido liberal gaúcho fortalecer outro setor que estava no poder. O imperador teve de ir até Uruguaiana para pôr ordem naquilo. E é dali a única foto que temos dele vestindo uniforme militar. A intervenção dele também foi vital depois da derrota de Curupaiti, quando ele retira o Tamandaré, que foi afastado por ordem do imperador e teve de voltar ao Rio. E manda Caxias, que consegue unificar o comando para enfrentar o inimigo. O terceiro momento acontece a partir do segundo semestre de 1868, quando o Brasil só continua na guerra porque o imperador ameaça abdicar do trono se fosse diferente. Isso está comprovado por documentação de diplomatas estrangeiros que contavam o que estava acontecendo. Pois se dependesse das lideranças políticas, inclusive do partido conservador, o Brasil sairia do conflito. Em 1868, o próprio Caxias escreve: ‘Vamos parar essa guerra, não temos mais nada a ganhar, o inimigo está destruído e partir de agora, se continuarmos, não sabemos quanto vai custar em vida e em dinheiro para o Brasil'. E a ordem do imperador foi uma só. A guerra vai até o fim. São três intervenções vitais. A primeira para derrotar a invasão do Rio Grande do Sul, que não se estava conseguindo. A segundo para evitar a débâcle do exército aliado após a derrota de Curupaiti e, depois, a finalização da guerra. Apanhar Solano López só foi possível pela posição intransigente de d. Pedro II, que encontra, por sua vez, uma posição intransigente do lado oposto, que é Solano López, que diz que a guerra tem de ir até o fim e, quem não concordava, ele mandava matar.
A queda do gabinete liberal de Zacarias de Góes ocorre após o conflito com o Duque de Caxias. Sua ação teria servido de exemplo para os militares nos anos subsequentes? Como figuras como Caxias ajudam a moldar o comportamentos dos militares no Império e na República?
No Segundo Reinado não há intervenções militares na política. A única que houve claramente é o golpe de Estado de 1889, que foi feito por uma uma minoria, vinculado a uma minoria civil e à revelia – apesar de o Deodoro estar à frente – da oficialidade mais antiga. É um pessoal que adquire espírito de corpo na guerra – capitães e majores – que vão dar o golpe. Essa questão de junho de 1868 é bem debatida. Não é que o Caxias impôs a queda do gabinete. O gabinete queria sair de um lado e o imperador, por sua vez, queria tirar o gabinete, queria fazer um rodízio para conseguir resultados concretos na guerra. As cartas do Visconde de Rio Branco para o Barão de Cotegipe, expoentes do Partido Conservador, mostram que eles não queriam o poder em 1868, pois a guerra é um abacaxi e o partido só iria se desgastar. Caxias tampouco queria derrubar o gabinete, mas está exaurido e não acredita mais na guerra. Depois ele que tomou a fortaleza de Humaitá, Solano López deixou de ser uma ameaça. A guerra não tem mais sentido e só prossegue porque o imperador ordena. Caxias era um chefe militar obediente à hierarquia. E isso é uma coisa interessante, porque a imagem que foi construída dele durante todo o século 20 e, principalmente depois de 1964, é do Caxias militar e durão, disciplinador, mas se esqueceu totalmente que o Caxias era obediente à Constituição, subordinado ao Poder Civil. Ele era um chefe militar que não intervinha no processo político. Ele intervinha como político, porque a Constituição permitia ele fosse senador. Em 1868, Caxias estava sendo atacado constantemente no Rio pela imprensa ligada ao gabinete. Sentiu-se boicotado e injustiçado. Ele estava havia dois anos na frente de batalha em meio a péssimas condições e queria ir embora. Caxias não introduz a intervenção dos militares no processo político interno. Na verdade, o gabinete se autoderrubou. Depois, o que vai acontecer é que, com a guerra, passa a haver um espírito de corpo entre os militares que não havia. Os soldados do pré-guerra eram desqualificados. Não havia um exército coeso, com hierarquia. Iso vai ser construído na guerra e vai continuar depois. O Exército adquire uma identidade que não tinha e esse espírito de corpo vai ser fundamental para ele se tornar uma instituição armada moderna.
Caxias e Osório eram militares e ao mesmo tempo políticos. O primeiro Conservador e o segundo do Liberal. Depois, na República, assistimos à ascensão e à queda do que Oliveiros Ferreira chamou de 'partido fardado'. Hoje há uma volta de militares à política. A presença de militares na política contribui para o fim do Império e se manteve na República. Por quê? Se você pegar a República Velha, de Prudente de Moraes e do Campos Salles até o tenentismo, temos duas décadas em que a presença militar é normal. Mesmo entre 1945 até 1963, so uma parte dos militares estava envolvido no processo político; a maior parte da tropa e da oficialidade estava cuidando de sua carreira, dos afazeres profissionais. Creio que assim como não existe só o lado militar na figura do Caxias, o processo político do século 20 não teve só intervenção militar. Agora, de fato, tivemos duas décadas de regime militar a partir de 1964 e isso nos impacta por motivos óbvios.
Quais as lições que a guerra do Paraguai deixa para os militares ainda hoje?
O que se viu em 1864 - e acho que é uma lição - é que você precisa ter Forças Armadas preparadas profissionalmente porque. mesmo em situações aparentemente tranquilas. você não sabe qual é o futuro. Se em 1862 alguém dissesse que o Paraguai ia atacar o Brasil e ficaríamos cinco anos em uma guerra, seria ridicularizado. No entanto, isso aconteceu. Quando acontece tem a dificuldade de defender o Rio Grande do Sul por causa da atividade política dos oficiais, dos comandos politizados e partidarizados, e sa dificuldade no teatro de operações. Você precisa ter Forças Armadas preparadas para exercer a soberania. Precisa ter um núcleo militar profissional, treinado, bem armado para exercitar a defesa do País. A outra liação é que cada vez que os militares se envolveram em assuntos políticos, independente das intenções, por melhores que ela possam ser, eles tiveram menos tempo para se preparar profissionalmente para uma emergência. A politização das Forças Armadas não é boa para as Forças Armadas por um lado – não é à toa que o Castelo Branco fez as reformas que fez – e por outro lado não é boa para o País, pois você perde um instrumento eficaz de defesa, vide o caso das Malvinas (guerra em 1982 em que a Inglaterra derrotou a Argentina), o que aconteceu com a Argentina. Não fosse a politização, as disputas internas, a história seria outra.
Professor, o senhor acredita que ainda existam aspectos que precisem ser melhor iluminados sobre o conflito com o Paraguai. O que pode ainda desafiar os historiadores?
Existe uma enormidade. Você sabe que quase todo mundo decidiu ser historiador porque era péssimo em matemática. Eu conheci o Oliveiros Ferreira na (Ciências) Sociais da USP, que eu fiz história e depois ciências sociais. Lá nas Sociais tinha estatística 1 e 2 que eram matérias obrigatórias. Era um horror. Passei sempre raspando. São poucos os historiadores que dominam estatísticas instrumental e matemática. Não sabemos exatamente, só temos números aproximados de quantos soldados foram enviados para a guerra, de quantos morreram e como morreram. È preciso estudar as perdas da população paraguaia e argentina. Há ainda os dados sobre os gastos com a guerra - fiz um cálculo a grosso modo que dava mais de 600 toneladas de ouro pelos padrões de época. Também há o cotidiano do soldado - o que nós temos, normalmente, é dado pelo relato de oficiais, porque o soldado era analfabeto; fora que o ato de escrever era penoso, era com pluma e tinha de carregar um estojo grande com tinta e tinha de ter papel. Enfim, com novas metodologias e novas teorias talvez se consiga avançar. A Justiça militar na guerra não foi estudada. Não temos estudos sobre a Justiça Militar na Guerra do Paraguai e na Segunda Guerra Mundial também. A Justiça militar seria um caminho, apesar de seus registros sintéticos. E a retaguarda? Tinha banco, bordel? Isso não está estudado. A questão dos negros está razoavelmente estudada. Um coisa que me chama atenção é o estudo sobre os processos decisórios na Argentina, no Uruguai e no Brasil, um estudo comparativo sobre como funcionavam as políticas externas dos países e como isso pode ter contribuído ou não para o encadear da guerra. E mesmo a história econômica. Bem, desde que escrevi o livro apareceram inúmeras fontes inéditas. Apareceu, por exemplo, toda a correspondência do chanceler argentino da época, com 3 mil documentos. E de um chanceler do Solano López surgiram fragmentos escritos. Você tem centenas de publicações sobre a guerra e, no entanto, 150 anos depois continuam aparecendo documentos.
Marcelo Godoy