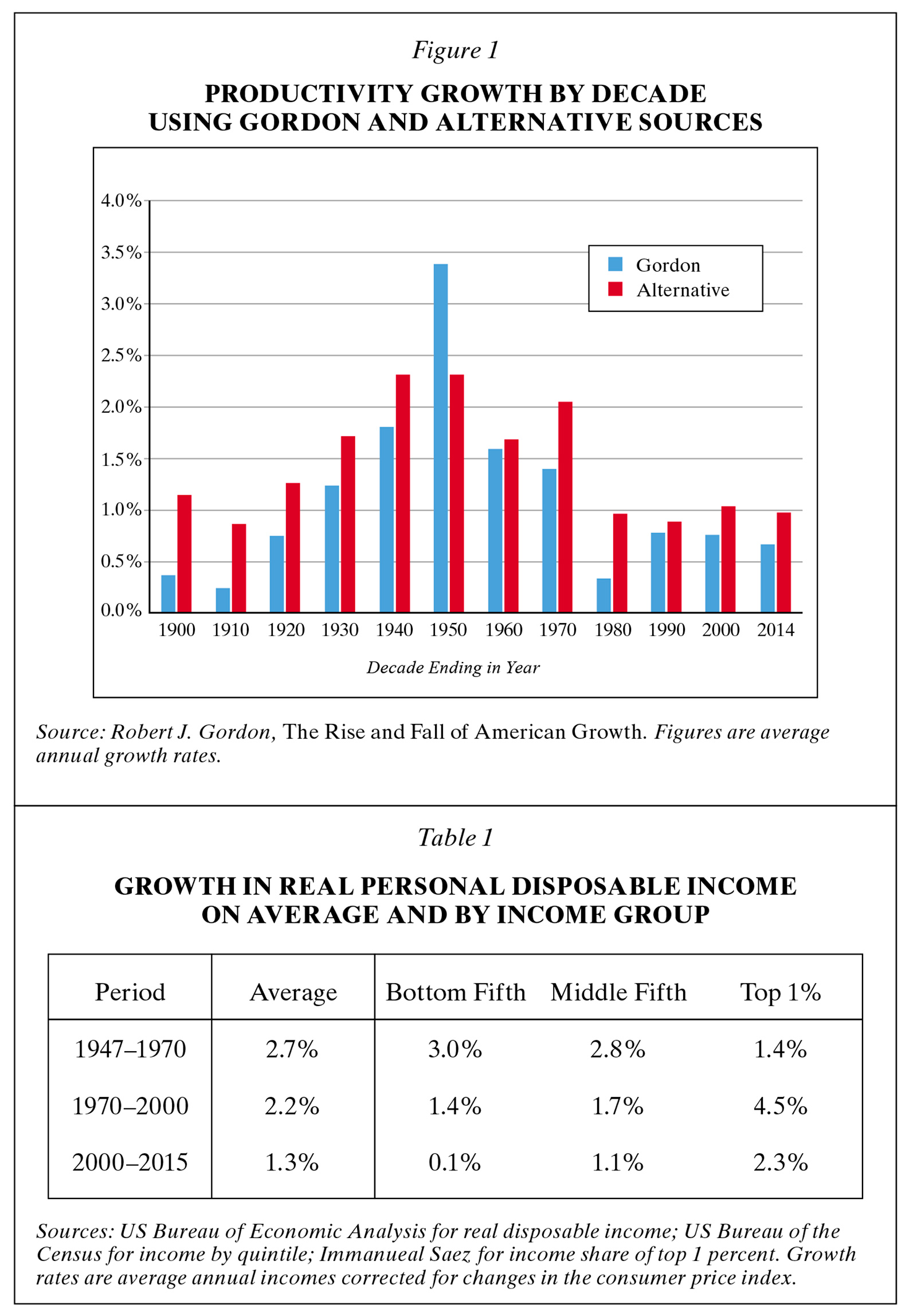Fui surpreendido, algumas semanas atrás, por acessos intensos, continuados, repetitivos, a um texto meu publicado originalmente mais de dez anos atrás, republicado sob diversas formas desde então, e aparentemente caído em silêncio, até que algum professor -- que desconheço quem seja -- o recomendou como leitura indicada num curso sobre relações internacionais oferecido online pelo Instituto do Legislativo Brasileiro (desculpem se erro o nome exato), o que fez com que dezenas de alunos inscritos no curso tenham começado a downloadar (ugh!) esse texto na plataforma Academia.edu.
Eis a ficha original do trabalho:
1297. “Contra a antiglobalização:
Contradições, insuficiências e impasses do movimento antiglobalizador”,
Brasília, 5 jul. 2004, 23 p. Ensaio, de caráter contestador, das principais ideias
e princípios do movimento antiglobalizador, discutindo seus fundamentos,
demonstrando suas contradições teóricas e insuficiências intrínsecas e expondo
sua falta de racionalidade econômica e a ausência de fundamentação histórica.
Publicado dividido em sete partes no Colunas
de Relnet sob os títulos respectivos de: 1. Contra
a antiglobalização; 2. Contradições, insuficiências e impasses do movimento
antiglobalizador; 3. A antiglobalização tem idéias concretas sobre temas
concretos?; 4. A antiglobalização e o livre-comércio: angústia existencial; 5.
Concentração da renda e desigualdades: a antiglobalização tem razão?; 6. No
meio do caminho tinha um mercado: tropeços dos antiglobalizadores; e 7. Tática
do avestruz: a antiglobalização à procura do seu mundo. Republicado de forma parcial e sucessiva na
revista eletrônica Meridiano 47: (a) “Contradições, insuficiências e impasses
do movimento antiglobalizador” (n. 49, jul. 2004, p. 9-11); (b) “A
antiglobalização tem ideias concretas sobre temas concretos?” (n. 50-51,
set/out. 2004, p. 15-17); (c) “Contra a antiglobalização” (n. 54, jan. 2005, p.
10-12); (d) “A antiglobalização e o livre-comércio: angústia existencial” (n.
55, fev. 2005, p. 6-7); (e) “Concentração da renda e desigualdades: a
antiglobalização tem razão?” (n. 56, mar. 2005, p. 9-10); (f) “No meio do
caminho tinha um mercado: tropeços dos antiglobalizadores” (n. 57, abr. 2005,
p. 8-9); (g) “Tática do avestruz: a antiglobalização à procura do seu mundo”
(n. 58, mai. 2005, p. 13-15). Ensaio incorporado ao
livro: Paralelos com o Meridiano 47:
Ensaios Longitudinais e de Ampla Latitude (Hartford, 2015). Relação de Publicados n: 487, 495,
??, 506, 518, 535, 541, 544, 550 e 560. Repostado no blog Diplomatizzando
(11/07/2016; link: http://diplomatizzando.blogspot.com.br/2016/07/contra-antiglobalizacao-um-texto-de.html). Disponível na plataforma
Academia.edu (http://www.academia.edu/5873102/1297_Contra_a_antiglobaliza%C3%A7%C3%A3o_Contradi%C3%A7%C3%B5es_insufici%C3%AAncias_e_impasses_do_movimento_antiglobalizador_2004_).
O mesmo texto acabou incorporado ao meu livro
Globalizando: ensaios sobre a globalização e a antiglobalização (Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, xx+272 p.; ISBN:
978-85-375-0875-6).
Mas, tendo em vista a "popularidade" desse texto, creio ser meu dever disponibilizá-lo novamente, embora eu acredite, como se diz, estar batendo em cachorro morto, pois não acredito que pessoas inteligentes, hoje em dia, se deixem ainda engabelar pelos antiglobalizadores (só os franceses), tantas são as bobagens desmentidas desde sempre. Não creio que o movimento Forum Social Mundial, um bando de iludidos e de equivocados, tenha hoje qualquer razão de ser.
Os antiglobalizadores são seres anacrônicos, saídos de uma outra época, e já enterrados, como produtos fora de moda, ultrapassados, coisa brega.
Em todo caso, como sempre existem iludidos, aqui vai o texto novamente.
Contra
a antiglobalização: Contradições, insuficiências e impasses do movimento
Paulo Roberto de
Almeida
(texto original:
Brasília, 5 de julho de 2004)
1. Uma longa (mas necessária) introdução metodológica
e de princípios
Se posicionar contra ou a favor de coisas em geral, sejam elas ideias,
processos, movimentos, pessoas ou princípios, dá um pouco mais de trabalho do
que simplesmente ser acomodado, passivo ou mesmo indiferente. Decidindo ser
contra ou a favor de algo, o dono da posição tem, em geral, de se justificar
perante outros, explicar os motivos de sua postura, defendê-la de ataques ou
contestações que possa julgar equivocados, enfim, fazer qualquer coisa que
torne suas ideias não apenas “melhores” do que outras, que são concorrentes ou
alternativas, mas também compatíveis com os princípios pelos quais ele afirma
pautar sua vida, sob risco, em não o fazendo, de ser acusado de inconsequente
ou, simplesmente, de contraditório.
Ser contra ou a favor de um conjunto de ideias dá, portanto, um
certo trabalho, pois que em geral se é obrigado a deixar a acomodação monótona
dos slogans rápidos ou o simplismo
redutor das idées reçues – isto é, as
velhas crenças, sem fundamentação empírica ou validade prática – para pesquisar
sobre os fundamentos das posições que se está defendendo, investigar suas
causas e consequências, examinar a validade dos argumentos em favor de posições
opostas – do contrário como seria possível recusá-las, tão simplesmente? –, bem
como destrinchar as “fortalezas” de suas próprias posições e tornar evidentes
as “fragilidades” das ideias alternativas.
Isso parece complicado e trabalhoso demais? Seria preferível, talvez,
a placidez de algum consenso geral? Isso não existe: concordância de opiniões
não é uma realidade muito presente nas sociedades democráticas, sobretudo em
relação a fenômenos ou processos que são inerentes à própria dinâmica social na
qual se vive, como é o caso da globalização. É assim inevitável que sobre ela
persistam tantos debates e tanta polêmica.
Não tenho, portanto, a mínima intenção de interromper esse fluxo
enriquecedor, preferindo, ao contrário, alimentar o debate com meus próprios
argumentos, que como indica o título deste ensaio, tende a colocar-me em
oposição aos partidários da antiglobalização, cobrando-lhes consistência na ideias
e racionalidade de propósitos. Sinto muito por trazer algumas angústias aos que
têm suas causas a defender no partido da anti, mas este é o preço da coerência
que deve existir entre as ideias gerais e as ações na vida prática: é preciso
ter um mínimo de racionalidade e de consistência intrínseca, se se pretende
fazer com que as ideias próprias, ou as do movimento a que se pertence, tenham
aceitação geral, sejam triunfantes na vida social e sejam, não apenas adotadas
pelos que nos governam, como implementadas na prática. Não é isso afinal o que
pretendem todos os que têm ideias a defender?: que elas sejam disseminadas, o
mais amplamente possível, e convertidas em realidade?
Creio que sim, e é isso também que me anima a escrever, em primeiro
lugar para mim mesmo – afinal, trata-se de excelente método para afinar as
próprias ideias –, em segundo lugar para alunos, leitores ocasionais ou os
simples curiosos que frequentam eventualmente as páginas de meu site, ou que
podem ler o que escrevo em boletins eletrônicos. Como sabem alguns desses
leitores, não sou de fazer concessões políticas, não costumo ceder a argumentos
ilógicos, nem sou levado por modismos ideológicos. Apenas cultivo a modesta
racionalidade dos argumentos que fazem sentido, que não ofendem os dados da
realidade e que se conformam a testes de validação empírica. Meu único partido
é a falta de partido, justamente.
Com o perdão dos leitores por esta longa digressão introdutória, eu
escrevi tudo isto como forma de abrir um debate – que, sei, não terá seguimento
– sobre um dos mais curiosos e surpreendentes fenômenos destes tempos de
globalização e que conforma, ao mesmo tempo, um paradoxo: o fato de pessoas
medianamente inteligentes – todas da classe média para cima –, ou mesmo de
indivíduos tidos como de inteligência superior –ostentando títulos
universitários, livros publicados, espaços na imprensa, homenagens recebidas,
enfim, credenciais reconhecidas pela mídia – se posicionarem de forma
veementemente contrária ao processo de globalização (refiro-me, obviamente a
“esta” globalização, que eles costumam chamar de “capitalista”). A curiosidade
está em que, contra tantos argumentos contrários às suas posições, eles façam
sucesso, e o paradoxo (ou a ironia) é que esse sucesso se deve inteiramente ao
processo de globalização, que eles condenam com tanta veemência.
Com efeito, não há fenômeno mais disseminado, mediatizado e de maior
sucesso público nos últimos anos do que o chamado altermundialismo, também
chamado de antiglobalização, termo que prefiro e já explico por quê. O altermundialismo,
como ele mesmo se proclama, é um movimento que defende que um outro mundo é
possível, ou seja, um mundo diferente do atual, talvez oposto, ou em todo caso
melhor do que o que agora temos: injusto, desigual, contraditório, cheio de
misérias e tragédias, feito de exploração do homem pelo homem, de dominação
política, de guerras imperialistas, mas também de guerras civis, guerras
tribais, limpezas étnicas, degradação da natureza, esgotamento de recursos, bref, um mundo horrível, capitalista e
desigual, que caberia eliminar, ou pelo menos substituir por outro melhor. Mas
é um fato, também, que o mundo está sempre mudando: já não temos tantas guerras
como antigamente, menos pessoas morrem de fome ou doenças, hoje temos
penicilina, saneamento básico, um pouco mais de direito e, certamente, mais
justiça e democracia também. Enfim, o mundo mudou, embora talvez não no ritmo e
na extensão que seriam desejáveis, mas ele mudou, e para melhor, nos últimos
dois ou três séculos de revolução industrial e de globalização capitalista
(usemos este adjetivo que incomoda muita gente, mas que expressa a realidade
que os altermundialistas querem recusar).
Se o mundo mudou, e continua mudando a cada dia, a caracterização
usada pelos altermundialistas é, no mínimo, tautológica, ou redundante, motivo
pelo qual devemos recusar esse conceito. Mas, há um motivo a mais pelo qual
esse conceito é inoperante, pouco prático e no mínimo carente de significado. É
porque ele promete coisas que é incapaz de entregar, ou seja, a própria
definição prometida em sua caracterização enquanto grupo. Se esse movimento é a
favor de um outro mundo, que já indica ser possível sem qualquer tipo de
demonstração positiva, ele deveria dizer, de imediato, qual é, como se
organiza, quais são os fundamentos materiais, espirituais, arquitetônicos e
conceituais desse outro mundo que seus proponentes proclamam de modo contínuo
na internet e nos encontros ruidosos nos quais eles martelam um pouco mais a ideia,
sem desenvolvê-la de fato. Portanto, o conceito não nos serve, até que ele
venha recheado de algo mais e, por isso, estou jogando-o na lata de lixo da
história.
Fiquemos, portanto, na antiglobalização, que ela, sim, é um
movimento de sucesso, aliás, muito mais ruidoso e organizado do que o dos altermundialistas
(que são apenas um pequeno bando de irredutíveis gauleses); o movimento antiglobalizador
foi constituído para se opor a algo de concreto, a globalização que “está aí,
aos nossos olhos”, contra a qual se mobilizam todos aqueles que têm algumas ideias
na cabeça (partimos da presunção de que todas são consistentes até prova em
contrário). Também partimos do pressuposto de que os antiglobalizadores têm
algumas soluções alternativas que eles gostariam de propor aos demais,
esperando, em algum momento, que elas sejam aceitas pelos que decidem e que
possam, assim, converter-se algum dia em realidade. Como vêem, parto do
pressuposto de que os antiglobalizadores têm algo a dizer, que esse algo faz
sentido, que seus argumentos merecem ser considerados e que vale a pena, a
despeito do seu caráter heteróclito, debater com esse movimento ruidoso, ainda
que ela me pareça marcado por uma certa cacofonia conceitual. Confesso, também,
que tenho tido certa dificuldade em identificar precisamente as “ideias” dos
anti, na medida em que eles parecem mais propensos a fazer manifestações do que
em colocar no papel, de forma ordenada, seus argumentos anti, ou mesmo a favor
de alguma coisa, qualquer coisa que permita substituir “esta” globalização por
outra.
Rendendo modesta homenagem à minha tribo de origem, os sociólogos,
considero, de minha parte, que o movimento antiglobalizador é uma ideologia, e
que, como todas as ideologias, parte de uma certa concepção do mundo e da
realidade, concepção que recusa o mundo como ele é e que pretende mudar-lhe os
fundamentos ou o seu modo de funcionamento, de modo a torná-lo mais conforme
aos princípios e ideias defendidos por esse movimento. Chamemos a esse
movimento “ideologia da antiglobalização”, se me permitem o empréstimo de sabor
levemente marxista. Não há nenhum preconceito nesta caracterização, pois eu
aceito que chamem à minha própria concepção do mundo “ideologia da globalização”,
com todas as consequências que isto implica, isto é, o desejo de fazer com o
que o mundo também se conforme àquilo que eu julgo ser bom e desejável para
seus habitantes, isto é, um pouco mais, ou bem mais, na verdade doses maciças
de globalização, com todos os seus efeitos “devastadores” (no bom e no mau
sentido).
Admitamos, portanto, que somos ambos “ideólogos”, eu e os adeptos da
antiglobalização, e nisto não vai nenhum julgamento preliminar negativo;
trata-se apenas de uma constatação. Há uma diferença, porém, entre eu e os antiglobalizadores:
eu não pertenço a nenhum movimento, grupo, partido, seita, igreja, confraria,
clã ou tribo; não costumo frequentar fóruns pró- ou antiglobalização e não
admito nenhum argumento de autoridade que se interponha entre a informação que
busco e recebo – de todas as fontes possíveis – e minhas próprias reflexões
independentes. Sou um ser livre, tanto quanto me permite a minha condição de
assalariado do Estado e atividades acadêmicas à margem da jornada na burocracia
pública. Sou eu e meu computador, apenas, no qual escrevo e no qual recolho as
informações que me chegam de todas as partes sobre a globalização e o seu
contrário, isto é, o quixotesco movimento antiglobalizador.
Faço aqui um último parágrafo introdutório para me desculpar pelo
adjetivo usado acima, isto é, “quixotesco”, em relação aos adeptos da anti, mas
é que considero, de verdade, esse movimento como sendo quixotesco, isto é, uma
figura (neste caso coletiva) levantada de lança em riste contra alguns moinhos
de vento que só existem na cabeça dos que esgrimem argumentos antiglobalização,
como agora passo a discutir.
2. Contradições
da antiglobalização: carência de fatos, de método, de análises
Não é fácil, como disse acima, debater com o pessoal da anti, a
começar pelo fato de que não se consegue saber direito o que pensam sobre os
temas da globalização e o quê, exatamente, pretendem colocar no “lugar” desse
processo. Por mais que eu tenha me esforçado na busca, navegando de site em
site, de documento em documento, encontrei poucas propostas concretas desse
movimento, alguma sistematização que contivesse as principais ideias, se
alguma, sobre a “globalização realmente existente” e esse “outro mundo
possível”. Slogans à parte, a consistência analítica esses “escritos” é
deficiente, para dizer o mínimo, e sua adequação aos dados da realidade é
inexistente.
Para dizer a verdade, existem inúmeros documentos, geralmente de
caráter retórico, conclamando a manifestações antes e durante as datas e locais
dos encontros oficiais da assim chamada globalização capitalista: o Fórum
Econômico Mundial de Davos, em primeiro lugar, obviamente, considerado a bête noire do processo (mas agora que
eles têm o seu próprio foro, Davos foi relegado a uma posição secundária), mas
também as reuniões do FMI e do Banco Mundial, da OMC, da Alca, e até da UE e da
UNCTAD. O tom geral é de indignação, de revolta, mas um exame ponderado dos
fatos, que é o mínimo que se requer de qualquer trabalho universitário digno de
nota (no sentido de pontuação, mesmo), é algo raro, senão inexistente nos
textos da anti. Como, nessas circunstâncias, debater com o movimento?: seria
preciso antes dispor da matéria-prima essencial a qualquer debate: ideias
sistematizadas, claramente expostas, método.
Não só não é fácil, como na verdade não é permitido debater com esse
pessoal, na medida em que, pelas próprias regras estatutárias dos anti, só
participam dos encontros do Fórum Social Mundial – o arauto le plus en vue da antiglobalização
(junto com a ATTAC e outros foros menores) – aqueles movimentos e entidades da
sociedade civil que se declaram de acordo com sua Carta de Princípios. Ou seja,
não é permitido ser a favor da globalização, ainda que eles o sejam, na
prática, ao usarem e abusarem de todas as facilidades permitidas pela
globalização para se informar, se reunir e debater. Qualquer outra pessoa
física ou movimento, todavia, só pode participar se declarar-se a favor de um
documento extremamente vago em seu conteúdo e definições.
Alguém que seja um anti da anti, como eu mesmo, não apenas está
sumariamente excluído, ab initio,
como jamais será cogitado para comparecer em algum foro. Registro aqui, ipsis litteris, o que figura nos
procedimentos do FSM: “Poderão ser convidados a
participar, em caráter pessoal, governantes e parlamentares que assumam os
compromissos da Carta de Princípios.” Para participar, portanto, é preciso
primeiro comprometer-se com posições dos próprios organizadores, o que não
apenas configura um reducionismo absurdo, um verdadeiro cerceamento à liberdade
de expressão, como também uma manifestação brutal de “pensamento único”, que
eles dizem condenar.
Essa cláusula de participação restrita contradiz, portanto, o
primeiro princípio do FSM, que afirma ser ele “um espaço aberto de encontro
para o aprofundamento da reflexão, o debate democrático de ideias, a formulação
de propostas, a troca livre de experiências…”, já que só se pode participar
sendo a favor das ideias do movimento. E quais são essas ideias? Na verdade,
muito poucas, e que já vem consignadas no seguimento desse primeiro princípio
acima transcrito: o FSM visa “…a articulação para ações eficazes, de entidades
e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do
mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo…”; isto pelo lado
negativo. Pelo lado positivo, continua o texto: as entidades participantes
“estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária orientada a uma
relação fecunda entre os seres humanos e destes com a Terra”.
Se eu fosse impaciente, eu diria: so what?, só isso? De fato é muito pouco
para definir um vasto movimento que mobiliza centenas de milhares de pessoas,
talvez milhões, em todo o planeta, e que se propõe a grandiosa tarefa de mudar
esse mesmo planeta (não esqueçamos a “sociedade planetária”). Mas o 4º
princípio – numa carta que alterna, de forma algo anárquica, procedimentos,
regras e definições – vai um pouco mais adiante: “As alternativas propostas no
Fórum Social Mundial contrapõem-se a um processo de globalização comandado
pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos e instituições
internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de governos
nacionais. Elas visam fazer prevalecer, como uma nova etapa da história do
mundo, uma globalização solidária que respeite os direitos humanos universais,
bem como os de tod@s @s cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio
ambiente, apoiada em sistemas e instituições internacionais democráticos a
serviço da justiça social, da igualdade e da soberania dos povos.”
Aqui chegamos um pouco mais perto do que seriam
as propostas propositivas – com perdão pela redundância – do movimento. Para
minha frustração, no entanto, não encontrei alternativas dignas desse nome, ou
pelo menos não de forma sistemática e organizada, de maneira a permitir um
diálogo racional com essas “alternativas”. Existem dezenas, provavelmente
centenas, de documentos, na “Biblioteca das Alternativas”, mas, à diferença das
bibliotecas normais, a dos anti não está classificada, não possui seções, nem
“fichas catalográficas” que nos habilitem conhecer as ideias, as propostas e as
alternativas apresentadas pelo movimento. Figuram nela tão somente os títulos e
a indicação da língua em que se encontram os documentos: percorri vários,
muitos deles e, com pesar, recolhi apenas uma sensação de déjà vu again.
De 2001 até os dias que correm, esses documentos
são monotamente repetitivos: eles condenam sempre, em termos ásperos, a globalização
capitalista, conclamam à mobilização ativa contra as reuniões das organizações
internacionais que supostamente pretendem facilitá-la – aquelas mesmas já
mencionadas – e terminam pelas promessas de sempre: os antiglobalizadores, por
ocasião dos seus próprios encontros, “não vêm manifestar, nem protestar, mas
sugerir correções e propor soluções para que, finalmente, de fato, um outro
mundo seja possível” (“Antiglobalização”, Ignacio Ramonet, do Le Monde Diplomatique, da ATTAC francesa
e um dos “papas” do movimento, em texto de 4.09.2002). Busquei, em vários
outros documentos, essas soluções, essas “correções” prometidas, mas confesso
minha frustração: não encontrei nada digno desse nome.
Não que não existam propostas ou “ideias” a respeito da globalização,
ou sobre como ela poderia ser mais humana, solidária, economicamente
equitativa, socialmente justa e ecologicamente responsável. Mas é que, em minha
análise, as propostas ou alternativas à globalização apresentadas pelos anti me
parecem desumanas, muito pouco solidárias, economicamente desastrosas,
socialmente catastróficas e ecologicamente poéticas, mas insustentáveis no
plano prático. Talvez eu esteja sendo apressado demais, ao condenar as
alternativas antiglobalizadoras, mas esta é a sensação que me deixou a leitura
de praticamente todos os documentos do site www.forumsocialmundial.org.br.
Para ser honesto, comigo mesmo e com os representantes da anti,
existe sim uma condição geral para que essa globalização deixe de ser tudo
aquilo que ela aparenta ser, aos olhos dos anti: que ela deixe de ser
capitalista. Isto, pelo menos, é o que eu deduzo do 11º princípio da Carta de
Princípios, que define o fórum como sendo “um
movimento de ideias que estimula a reflexão, e a disseminação transparente dos
resultados dessa reflexão, sobre os mecanismos e instrumentos da dominação do
capital, sobre os meios e ações de resistência e superação dessa dominação,
sobre as alternativas propostas para resolver os problemas de exclusão e
desigualdade social que o processo de globalização capitalista, com suas
dimensões racistas, sexistas e destruidoras do meio ambiente está criando,
internacionalmente e no interior dos países”. Em outros termos, se a
dominação do capital fosse eliminada, metade (ou pelo menos grande parte) dos
problemas da humanidade estaria resolvida.
Ou muito me engano, ou a reflexão não vem sendo muito estimulada
nesses encontros, já que não consigo atinar como se pretende eliminar um dos
mais poderosos fatores de produção criados com o processo civilizatório, desde
a revolução agrícola: o capital (ou talvez mesmo desde o paleolítico inferior,
uma vez que armas de pedra ou de madeira são uma forma de “capital”). Seriam os
antiglobalizadores astronautas? São eles de outro planeta, ainda não tocado
pelo modo de produção capitalista? Acredito que não, o que nos deixaria uma
única conclusão: eles são simplesmente anticapitalistas, o que tampouco é
consenso entre eles. Com efeito, muitos proclamam não ser contra o modo de
produção capitalista, apenas pretendendo melhorar o seu funcionamento.
De fato, ao ler os documentos da “Biblioteca das
Alternativas”, constatei que alguns ostentam um anti-capitalismo visceral, ao
passo que outros são apenas levemente anticapitalistas. Seriam os antiglobalizadores
marxistas, socialistas ou de alguma forma pessoas de esquerda? Dificilmente,
pois nada existe de mais antimarxista e de antissocialista do que o pensamento
nacionalista, chauvinista ou contrário ao saudável internacionalismo proclamado
pelo autor do Manifesto Comunista e
d’O Capital. Marx proclamava, antes
de mais nada, as virtudes do capital enquanto redutor das diferenças entre
sociedades, em suas diversas etapas de desenvolvimento: ele pretendia que o
capital unificasse rapidamente as forças produtivas e as relações de produção
nos cantos mais recuados do planeta para que o exército dos proletários
pudesse, finalmente, não recusar o capitalismo, mas sim superá-lo a partir de
seu acabamento enquanto modo de produção, cedendo lugar a uma etapa superior de
organização social da produção. Mas isto eu não preciso relembrar, pois que
constitui o “beabá” de qualquer marxista digno desse nome.
O que me surpreende, apenas e tão somente, é
que, ao constatar a presença de vários “marmanjos” marxistas no movimento – com
isso eu quero me referir aos mais velhos, que ainda leram Marx, já que os mais
novos parecem simplesmente ignorar as obras do velho barbudo –, eles não tenham
atinado para a existência dessa “contradição insuperável” em seu seio: um
marxista consequente deveria estar lutando em favor de mais, não de menos, globalização,
pois apenas ela é capaz de trazer para mais perto de nós o dia da derrocada
final do capitalismo e sua superação pelo socialismo.
A posição da antiglobalização não é, portanto,
marxista ou sequer socialista. O que de fato transparece nos muitos documentos
compilados, como indicado no já citado 4º princípio, é um posicionamento dos anti contra o “processo de
globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos
governos e instituições internacionais a serviço de seus interesses, com a
cumplicidade de governos nacionais”. Ou seja, o mal absoluto são as
grandes empresas multinacionais, e quem não se posicionar contra elas fica
proibido, portanto, de frequentar os encontros do movimento.
No longo prazo, esse posicionamento pode representar uma contradição
nos termos, na medida em que o movimento antiglobalizador já se transformou, de
fato, em uma grande corporação multinacional, com representação em quase todos
os países e com várias “instituições internacionais a
serviço de seus interesses”. Assim, se ele, por acaso, numa hipótese não
de todo irrealizável, conquistar governos – como parece que já conseguiu
convencer alguns e dispõe de muitos aliados em outros, inclusive perto de nós
–, ele se tornará uma força irresistível, capaz de mudar de verdade a face do
planeta. Apenas não sei se para melhor, como uma análise de algumas de suas
propostas alternativas pode demonstrar.
3. Pensando o impensado: existem ideias concretas
sobre temas concretos?
Para facilitar o debate e a confrontação de ideias, entre as minhas
próprias e as que parecem defender os anti, resolvi organizar o restante deste
texto em torno de algumas questões práticas que costumam concentrar o interesse
do movimento. Escrevi “parecem” pois que o movimento não ostenta ideias
oficiais, o que é compreensível, pois que não pretende ser ou parecer
“autoritário”, e não consolidou suas propostas em um conjunto de alternativas
que mereçam ter esse nome. O fato é que eles não apresentam os meios e modos
pelos quais suas “ideias” poderiam ser testadas na prática, ou pelo menos ser
objeto de simulações econométricas ou de elegantes equações de equilíbrio ao estilo
de Keynes (um profeta frequentemente invocado nesses meios).
Como os anti não apresentam esse corpus
conceitual, fica muito difícil, o que já é pouco compreensível, considerá-los
pelo que eles pretendem ser, um movimento, e não apenas um ajuntamento
heteróclito de individualidades, ostentando um conjunto heterogêneo de ideias
dispersas. Apresento minhas desculpas antecipadas aos autores de trabalhos
dotados de ideias sensatas, mas a reunião de todos esses textos num mesmo
barril de baixa coerência intrínseca dá uma horrível impressão de sopa de
letras.
Arriscando-me, portanto, a ser injusto com os detentores de ideias
menos estapafúrdias (mas, humildemente, eu os convido a me contradizer), aqui
estão algumas “ideias” defendidas pelos antiglobalizadores e meus próprios
comentários a respeito.
3.1. Protecionismo
agrícola e vantagens comparativas dos mais pobres
Vários documentos dos anti insistem numa pouco definida segurança
alimentar: segundo esses textos, se deve dar
prioridade à alimentação do povo a partir da própria região ou país, e não às
exportações ou importações. Para eles, a segurança alimentar e a
sustentabilidade rural só podem existir quando um país é capaz de satisfazer
uma parte significativa de suas próprias necessidades alimentares. Esta posição
transparece em vários documentos franceses, por exemplo, e eu mesmo assisti,
pessoalmente, ao representante mais eloquente desse tipo de proposta, Bernard
Cassen, da ATTAC, defender esse absurdo na Câmara dos Deputados, em Brasília,
sem que nenhum dos parlamentares brasileiros presentes ousasse responder a
tamanha sandice econômica e a tão evidente atentado aos interesses exportadores
do Brasil.
Parece evidente, aos observadores isentos, que
não há qualquer “insegurança alimentar” no mundo como um todo. Desde os tempos
de Malthus, a produção agrícola cresceu muito mais rápido do que a “produção” de
indivíduos, e ainda que possa haver, ocasionalmente, carências produtivas numa
região localizada – geralmente por motivo de guerra civil ou desastre natural
–, elas podem ser rapidamente supridas via comércio internacional ou
assistência alimentar de emergência. A tese da “segurança alimentar” e a da
“multifuncionalidade agrícola” constituem disfarces canhestros do mais egoísta
protecionismo agrícola, que tanto mal faz aos povos mais pobres da Terra. Estes
não podem utilizar-se de suas vantagens comparativas, que estão todas
localizadas no setor primário, para alçar-se da miséria mais vergonhosa,
mantida em grande medida graças à concorrência desleal de um punhado de ricos
agricultores subsidiados dos países mais avançados. De resto, a indústria e
ainda mais os serviços são muito mais “multifuncionais” do que a agricultura,
já que estão presentes em todas e cada uma das nossas atividades diárias, não
se podendo argumentar sobre sua localização espacial ou eventual isolamento do
mercado externo, como se faz em relação à agricultura, sem cometer novos
atentados pueris à mais simples racionalidade econômica.
Não tenho nada contra a existência da
agricultura familiar, assim como nada tenho a opor a que os países ricos
subsidiem suas populações da forma como desejarem, mas eles não podem fazê-lo
opondo-se ao livre comércio de produtos agrícolas como vem fazendo e sabotando
a comercialização externa da produção agrícola dos países mais pobres por meio
de subvenções às suas próprias exportações não competitivas. O protecionismo
hipócrita dos países mais ricos está assim roubando, literalmente, os mais
pobres de oportunidades de desenvolvimento. A hipocrisia nesse terreno é
inaceitável e o movimento antiglobalizador não poderia se fazer cúmplice desse
vil atentado aos direitos humanos de milhões de pobres ao redor do mundo.
Espero que pelo menos os antiglobalizadores brasileiros saibam desvencilhar-se
dessa armadilha que os torna coniventes com um dos piores atentados aos
direitos econômicos dos mais pobres.
3.2. Dívida externa,
movimentos de capitais e globalização financeira
Um traço que unifica as mais diversas correntes do movimento antiglobalizador
é, sem dúvida alguma, sua oposição ao pagamento da dívida externa dos países
mais pobres e, de modo geral, à livre movimentação de capitais financeiros.
Outra medida, de caráter propositivo e não simplesmente negativo como a do
cancelamento das dívidas – traduzidas na prática por “plebiscitos” tão
canhestros quanto viciados em sua indução automática ao não-pagamento,
sustentado de forma piegas na “miséria do povo” –, é a que apresenta uma
taxação sobre a movimentação de capitais, dita Tobin Tax, como sendo o remédio
milagre tanto à volatilidade financeira quanto ao problema do não
desenvolvimento dos países mais pobres. Rejeitada pelo próprio economista,
James Tobin, que sugeriu um modesto controle sobre as aplicações cambiais no
momento da derrocada do sistema de Bretton Woods, essa taxa, patrocinada
especialmente pela vertente gaulesa do movimento anti – de onde retira o
acrônimo ATTAC –, não apenas não resolveria o problema da volatilidade e da
especulação, como se colocaria frontalmente contrária aos interesses de países
emergentes tomadores de recursos, como o próprio Brasil. Neste terreno das
finanças internacionais, as simplificações dos anti são tantas e tão risíveis
que resulta difícil sequer “dialogar” com representantes desse movimento, que
parecem não ter ideias mínimas sobre como funcionam os mercados financeiros e
que partes de responsabilidade compartilhada devem ser atribuídas em momentos
como os das graves turbulências financeiras dos anos noventa do século 20.
Já escrevi o suficiente sobre as crises financeiras – em especial em
meu livro Os Primeiros Anos do Século XXI,
em especial cap. 10, “O Brasil e as crises financeiras internacionais,
1929-2001” – para voltar agora em detalhe sobre seus determinantes, as consequências
econômicas de curto prazo e as possíveis lições do ponto de vista da
globalização financeira (inclusive quanto aos necessários cuidados que se há de
ter em relação a esse aspecto da globalização, necessariamente diferente da
liberalização comercial, que sempre provoca efeitos positivos). Não pretendo,
em todo caso, contestar argumentos infantis e desprovidos de qualquer
fundamentação histórica ou fatual, como os alinhados por organizações como o
“Jubileu 2000”, que promove uma sistemática campanha em prol da eliminação da
dívida externa dos países mais pobres. Registro aqui apenas um exemplo desse
tipo de argumento:
“Resolver os problemas da dívida externa implica buscar saldar uma
dívida histórica que os países do norte têm com os povos do sul como consequência
do saque e da devastação que neles realizaram durante mais de 500 anos”. Como
se diz: contra esse tipo de afirmação não há argumento. Sem dúvida que a dívida
externa dos países mais pobres pode e deve ser diminuída ou mesmo eliminada, em
certos casos, mas uma ação generalizada de cancelamento dessas dívidas faria
mais mal do que bem ao conjunto dos países em desenvolvimento e emergentes, já
que os retiraria dos mercados voluntários de capital por um tempo considerável,
acumulando mais prejuízos do que benefícios.
Em relação aos movimentos de capitais puramente especulativos,
vilipendiados tanto pelos antiglobalizadores como por alguns “globalizadores” –
como por exemplo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso – pode-se
simplesmente relembrar que eles estão em todas as partes, em especial nos
países mais avançados, mas são capazes de provocar prejuízos apenas naquelas
economias que já enfrentam desequilíbrios, nas quais a volatilidade é um dado
intrínseco, não extrínseco, ao sistema. Controles podem ser utilizados, mas não
são certamente a panaceia que alguns apregoam, sobretudo na forma permanente de
restrições às entradas e saídas, de suposta paternidade keynesiana. Movimentos
mais livres de capitais, assim como maior grau de competição no sistema
financeiro contribuem para o bom funcionamento de qualquer sistema econômico,
mas níveis adequados de liquidez podem ser regulados por instrumentos
tributários ao alcance de qualquer país. Apenas a ojeriza atávica em relação
aos mercados financeiros ostentada em certos círculos esquerdistas pode
justificar algumas das medidas propostas pelos grupos antiglobalizadores: elas
pertencem mais ao reino da paixão política do que ao terreno da administração
sensata das relações econômicas internacionais.
3.3. Competição aberta
contra mercados regulados e fechados
Outro dos objetos mais frequentes da demonologia dos antiglobalizadores
é o livre-comércio, invariavelmente acusado de provocar perdas para os países
mais pobres e de concentrar ainda mais as riquezas em escala planetária. Nada
poderia estar mais distante da verdade. Se existe algum tipo de consenso entre
os economistas, há mais de dois séculos, é justamente o que defende os efeitos
benéficos do livre-comércio para todos os participantes da relação. Os
argumentos são tão convincentes a esse respeito que não caberia insistir na
argumentação em favor da liberdade de comércio, e sim aguardar provas mais
evidentes, dos anti, de que ela provoca miséria e desigualdade.
Bastaria considerar os dados mais elementares da história e das
estatísticas atuais confrontando níveis de renda e coeficiente de abertura
externa (isto é, a participação do comércio no produto bruto) para constatar o
óbvio: há uma nítida correlação entre renda per capita e abertura ao comércio.
Como ocorre nesses casos, apenas dirigentes sindicais e agricultores dos países
do norte, de um lado, e “intelectuais” do sul, de outro, atacam o
livre-comércio: os primeiros estão, é claro, interessados nos empregos
industriais ou nos mercados agrícolas protegidos em seus países, ao passo que
os segundos defendem teses abstratas, em total contradição com os interesses de
seus próprios trabalhadores.
Os argumentos em favor do livre-comércio são tão poderosos que mesmo
o PT, no Brasil, aderiu à tese, como se deduz desta afirmação, do seu candidato
presidencial em plena campanha de 2002: “Somos a
favor do livre-comércio, desde que os países possam competir em igualdade de
condições” (carta-compromisso de 23.07.02), Na verdade, a frase deveria
receber um ponto final na primeira vírgula, já que a condicionalidade
proclamada não tem nenhuma razão de ser: competição em igualdade de condições
nunca existirá. Os países exibem assimetrias naturais ou criadas que se
manifestam de forma recorrente e que sustentam justamente o comércio, sendo
ilusório acreditar que elas serão eliminadas. Aliás, elas não podem ser
eliminadas pois que constituem o que se chama de base estrutural das vantagens
comparativas relativas, que é o fundamento do próprio ato de comerciar. O
livre-comércio, de verdade, é sempre unilateral, nunca condicional e restrito
ao princípio de reciprocidade.
3.4. Instituições de
solução de controvérsias em face do arbítrio comercial
Não contentes em despejar sua fúria contra o FMI e o Banco Mundial,
acusando-os de serem sustentáculos do neoliberalismo – quando as instituições
de Bretton Woods são, na verdade, instrumentos que corrigem imperfeições dos
mercados –, os antiglobalizadores ingênuos também pretendem eliminar ou
paralisar a OMC, vista como mais uma defensora das grandes multinacionais e da
liberalização selvagem, o que constitui, obviamente, outra grande bobagem.
Longe de fazer pressão em favor de uma completa liberalização comercial – o
que, aliás, seria um grande benefício para os países mais pobres – a
organização de Genebra contribui, antes de mais nada, para administrar de modo
relativamente imparcial as formas modernas de mercantilismo, que os países
insistem em promover em lugar de aderir resolutamente aos princípios de Adam
Smith.
Na verdade, se a OMC não existisse, seria preciso inventá-la, na
medida em que ela constitui uma das poucas defesas, por meio do sistema de
solução de controvérsias, de que dispõem os países menos poderosos para lutar
contra o arbítrio dos mais fortes. A oposição consistente dos antiglobalizadores
contra as rodadas multilaterais de negociação comercial da OMC – como de resto
contra a Alca e outros processos em curso de escala mais restrita – afastam as
possibilidades de que países mais pobres possam se integrar mais rapidamente à
economia mundial e daí extrair crescimento e riqueza. Desse ponto de vista, os antiglobalizadores
são altamente irresponsáveis.
3.5. Crescimento e
pobreza, ou o que a globalização pode fazer por eles
A acusação, sempre freqüente nos manifestos do movimento anti, de
que a globalização reduz o crescimento nos países mais pobres e aprofunda neles
a pobreza, não é apenas rizível e desprovida de fundamentação empírica: ela é
totalmente ridícula, em face dos exemplos mais conspícuos em sentido contrário.
China e Índia, dois países pobres e dotados de instituições econômicas
socialistas e dirigistas, foram os que mais cresceram quando, justamente, se
inseriram no processo de globalização, explorando suas vantagens naturais
(mão-de-obra barata) ou adquiridas (educação de qualidade, em certas categorias
de trabalhadores, e facilidades logísticas e de comunicações). Nos dois,
milhões de pessoas se alçaram de uma miséria ancestral e puderam desfrutar de
uma primeira sensação de progresso social desde gerações imemoráveis.
Na outra ponta, os dois países mais abertos ao processo de
globalização, de fato os promotores históricos desse processo desde a era da
primeira revolução industrial, o Reino Unido e os Estados Unidos, são também
aqueles que apresentaram as maiores taxas de crescimento de todos os
desenvolvidos durante a terceira onda da globalização, nos anos noventa,
ostentando igualmente as menores taxas de desemprego entre os países da OCDE.
Por acaso são também os mais globalizados financeiramente e os que mantêm o
menor número de restrições aos investimentos ou em termos regulatórios.
No que se refere aos investimentos diretos, justamente, observa-se
uma virtual contradição entre, de um lado, a oposição retórica e o soberanismo
vazio proclamado pelos anti e, de outro, os ativos esforços de atração de
capitais de risco que vêm sendo feitos pelos países em desenvolvimento, que se
mostram indiferentes ao discurso contra as multinacionais dos primeiros. Pode parecer
razoável proclamar-se a intenção de reservar “espaços nacionais” para políticas
de desenvolvimento, mas a menos de se dispor de políticas setoriais definidas e
concretas, o alerta pode parecer inócuo
ou simples manifestação de prevenção contra o investidor estrangeiro,
que ele vem em busca de objetivos muito objetivos: liberdade de ação e o maior
lucro possível, nessa ordem.
3.6. Concentração da renda
e desigualdades
A concentração e a desigualdade na distribuição da renda podem
ocorrer mesmo na ausência do processo de globalização, como prova o Brasil na
era do protecionismo industrial e de fechamento comercial. A globalização, ao
contrário, ao provocar uma maior taxa de crescimento da economia em países
menos avançados, tende a favorecer o crescimento e, portanto, a criação de
riquezas. A distribuição da renda adicional assim criada pode não ser a mais
equitativa possível, mas isso depende de um conjunto de fatores políticos e
sociais que ultrapassam a capacidade operacional da globalização.
Esta questão, de toda forma, está ligada ao papel que o Estado
desempenha no sistema econômico. Os antiglobalizadores costumam afirmar que não
existe nenhuma experiência histórica que demonstre que o mercado, por si só,
logre alcançar níveis satisfatórios de repartição de benefícios e muito menos
justiça social, o que é no mínimo uma generalização indevida. Ainda que o
Estado tenha sido importante ao administrar mecanismos tributários,
compensatórios e de benefícios indiretos – escolas, hospitais e saneamento básico,
por exemplo – em favor dos mais desfavorecidos, em praticamente todos os
países, as evidências mais eloquentes em termos de crescimento da renda e de
repartição equitativa das riquezas geradas no setor privado estão justamente
naqueles países onde os mercados funcionaram de forma mais desimpedida e livre,
não nos mais estatizados ou controlados pelo setor público. Privatizações podem
tanto concentrar como desconcentrar a renda, dependendo da forma como são
conduzidas, sem esquecer que uma das formas mais iníquas de concentração da
renda em países pobres é aquela operada em favor de certas categorias de
privilegiados estatais – funcionários da ativa ou pensionistas – que logram
transferir para si uma parte substancial da riqueza social sob a forma de investimentos
em empresas estatais ou pensões abusivas.
3.7. Tecnologia
proprietária e dependência tecnológica
Da mesma forma como os capitais financeiros, patentes e direitos
proprietários em geral têm o dom de despertar paixões exacerbadas nas hostes do
movimento. Talvez seja porque aqui estão concentrados alguns dos símbolos
considerados nefastos para os antiglobalizadores: grandes multinacionais
lidando com segredos industriais, extração de lucros abusivos sobre
determinadas categorias de produtos, a começar pelo remédios, enfim, monopólio
tecnológico dos ricos e dependência dos mais pobres. As demandas, em
conseqüência, vão da proibição de patentes em certas áreas (ligadas à vida e
saúde), ao licenciamento compulsório de patentes devidamente registradas de
remédios de larga utilização pública, passando pelo controle extensivo do setor
pelo Estado.
De fato, o regime de patentes consagra o monopólio do detentor dos
direitos durante um certo tempo, que vem sendo paulatinamente aumentado
(atualmente de 20 anos para patentes e bem mais para direitos do autor) e
estendido a novas áreas, até aqui inéditas, do conhecimento e da engenhosidade
humanas. Pode-se, efetivamente, constatar um certo exagero na proteção
patentária, atualmente, mas como disse uma vez Churchill em relação à
democracia, trata-se do pior regime, à exceção de todos os demais. Sem a
promessa de ganhos trazidos pelo regime “monopólico” das patentes, seria
difícil assegurar os investimentos necessários à introdução de novos remédios
nos mercados. A existência de um regime abrangente de proteção tornou-se,
assim, uma condição do próprio desenvolvimento tecnológico nessas áreas de
ponta, razão pela qual países dotados de “baixa cultura patentária” têm sido
notoriamente deficientes no registro e na exploração de inovações, a despeito
mesmo de seus progressos científicos, como parece ser o caso do Brasil.
A dependência tecnológica é um fato, mas ela não será sequer
arranhada se os países em desenvolvimento seguirem os conselhos dos antiglobalizadores
na condução de suas políticas tecnológicas e de propriedade intelectual. Ao
contrário, é provável que a dependência se aprofunde caso suas “prescrições”
sejam seguidas, uma vez que elas não correspondem ao itinerário real dos países
capitalistas desenvolvidos, e sim são meras teses agitadas no mundo abstrato em
que vivem os antiglobalizadores.
3. Meio ambiente e mercado: um instável equilíbrio
A degradação ambiental e a diminuição da diversidade biológica são
fatos que acompanham a civilização humana desde tempos imemoriais: as
sociedades devastaram a natureza e substituíram-na por paisagens humanas, assim
como domesticaram animais e agora tentam interferir no próprio ato de criação
de novos seres vivos, desta vez ao nível molecular, quando já o vinham fazendo
há milhares de anos ao nível da seleção das espécies. Acreditar que tais
fenômenos se reduzem a um problema de mercado ou que está ligado exclusivamente
ao modo de produção capitalista é de um reducionismo atroz e, no entanto, é
isso que vêm fazendo os antiglobalizadores ecológicos.
O que eles pedem, em essência, é o afastamento dos critérios de
mercado das questões vinculadas ao meio ambiente – na OMC, por exemplo –,
quando os sinais de mercado são os únicos capazes de, ao precificarem os custos
relativos de utilização e de conservação, estabelecer um justo meio termo, por
certo sempre instável, entre a preservação ambiental e o uso sensato dos
recursos naturais. A experiência das últimas décadas, em especial nos ex-países
socialistas, indica que a ausência de sinais de mercado e a presença
avassaladora do Estado na regulação do uso de recursos comuns pode andar de par
com os piores atentados ao meio ambiente de que se tem notícia. Parece claro
que a livre disposição desses recursos também pode conduzir a abusos por parte
das empresas privadas – sempre tentadas a atuarem segundo um comportamento free-rider –, mas justamente a
combinação de mecanismos regulatórios com adequados estímulos de mercado parece
mais condizente com as necessidades sociais do que um preservacionismo radical
que parece impedir, atualmente, os povos dos países mais pobres de fazerem uso
adequado de seus ainda vastos recursos naturais. Como também indicado pela
experiência histórica, as piores degradações ambientais tendem a ocorrer nas
regiões mais pobres dos países em desenvolvimento. Desse ponto de vista, as
posições assumidas pelos antiglobalizadores tendem, na prática, a perpetuar
miséria e degradação ambiental nesses países.
4. Diagnóstico de duas enfermidades precoces: autismo
e esquizofrenia
Ao percorrer os inúmeros escritos – caóticos, desiguais, geralmente
carentes de método e ainda menos apoiados em estudos empíricos – dos antiglobalizadores,
a sensação que se retira é a de uma estéril e inócua anarquia mental. Aliás,
uma única conclusão parece possível a partir da leitura (penosa) dos textos dos
anti: o que os anima, na verdade, não é a criação de um “novo mundo”, ou a
indicação de alternativas reais e credíveis aos problemas deste velho mundo em
que vivemos, por certo desigual e iníquo, sob muitos aspectos, mas ainda assim
infinitamente melhor do que aquele no qual viveram nossos avós e bisavós, e
assim sucessivamente até tempos recuados, e bem mais sombrios, da história da
humanidade. O que os mobiliza, de fato, são duas tomadas de posição que cabe
aqui considerar: um anti-capitalismo visceral e, o que é mais grave, sua
derivação sociológica, um anti-mercadismo filosófico.
Não tenho nenhum tipo de mandato para colocar-me na defesa do
capitalismo, um sistema que me parece dispensar defensores pagos ou
voluntários, já que vem, ao longo dos séculos, resistindo razoavelmente bem aos
assaltos continuados de uma horda de bárbaros anticapitalistas, desde os
mercantilistas adeptos das reservas de mercado, aos monopolistas das companhias
reais de comércio, a socialistas utópicos e soi-disant
“científicos”, a coletivistas fascistas e planejadores comunistas, a
estatistas disfarçados e outros dispensadores do “bem-estar social”. Pesa em
seu favor o fato de não ter sido inventado por nenhum cérebro genial, à
diferença de certas soluções “inovadoras” para minorar as misérias e
sofrimentos humanos, emergindo de forma imperfeita e sempre incompleta de um
processo impessoal, não administrado centralmente, não controlado e não
controlável por nenhuma força social particular, mas resultando da combinação
de milhares de ações e reações ao longo de uma cadeia de interações sociais que
deita raízes em várias correntes constitutivas da civilização ocidental (pois é
um fato histórico, não absoluto ou excludente, que o capitalismo emergiu
primeiro nas formações sociais criadas a partir do substrato civilizatório
comum do Ocidente medieval). Tal como ele existe, o capitalismo é certamente
imperfeito e desigual, concentrador e indiferente às especificidades humanas,
mas é também o sistema mais dinâmico de criação de riqueza e de disseminação de
progresso técnico que já existiu na face da Terra. Não é eterno, certamente,
mas vai evoluir gradualmente para formas diferentes – talvez não “superiores”,
num sentido moral – de organização social da produção, sem que se possa
predizer com alguma certeza como e em que condições ele vai continuar a moldar
as sociedades modernas como o fez nos últimos cinco ou oito séculos.
É a esse sistema de remuneração pelo mérito, de prêmio pela astúcia
individual, de retorno pela dedicação ao trabalho honesto, mas também de
acumulação crua (e não raro violenta) de capitais, de genial inventividade e de
brutal concentração de riquezas, que os antiglobalizadores pretendem substituir
por algum sistema de organização social da produção e de distribuição de renda
ainda indefinido, mas idealmente mais justo e menos desigual, feito de
solidariedade e de respeito aos direitos humanos, assim como ao meio ambiente e
à diversidade natural dos povos. Nada mais singelo e mais irrealista, pois que
eles não conseguem sequer entender a lógica de funcionamento do capitalismo,
quanto mais fazê-lo ser deslocado por um outro sistema inerentemente mais justo
e mais eficiente (por fiat natural?).
A principal dificuldade para esse tipo de empreendimento benemérito
– e aqui passo à segunda característica dos antiglobalizadores – é que no meio
do caminho tinha um mercado. Ainda que eles não queiram ou não possam admitir
tal realidade, o fato é que o mercado é muito maior do que o capitalismo, pois
que perpassa todas as sociedades, em todas as épocas e lugares. Não há
sociedade sem mercados, salvo talvez em povos muito primitivos, mas estes
também conhecem formas de divisão social (e sexual) do trabalho, que já são,
pelo simples fato de existirem, um embrião dos mercados potenciais. A economia
de mercado sobreviverá ao capitalismo, quando este já não mais fizer parte do
estoque de modos de produção à disposição dos “engenheiros sociais”, pela
simples razão que ela funciona como uma espécie de sistema circulatório,
sustentando o conjunto de funções numa sociedade complexa.
Que o mercado seja contraditório, incerto, caótico e inerentemente
injusto, como parecia interpretar um espírito idealista como Marx, não implica
em que possamos nos desvencilhar dele facilmente (ou impunemente). Todas as
tentativas realizadas até aqui, a mais notória durante setenta anos, entre as
planícies europeias e as estepes asiáticas, redundaram em notórios fracassos,
quando não em tragédias humanas incomensuráveis. A recusa filosófica, digamos
idealista, do principio do mercado pela maior parte dos antiglobalizadores,
sempre prontos a acusar a “mercantilização da vida” em qualquer relação
envolvendo intercâmbio de renda ou ativos patrimoniais, é algo preocupante e,
eu diria, sintomático de uma doença bem mais grave, que em psiquiatria recebe o
nome de “esquizofrenia”.
A esquizofrenia, segundo os dicionários médicos, é uma psicose
caracterizada pela desagregação da personalidade e por uma perda de contato
vital com a realidade. Antigamente conhecida por “demência precoce”, ela afeta
mais particularmente os adolescentes ou adultos até os 40 anos. Segundo o
psiquiatra suíço que a estudou, Eugen Bleuler (1857-1939), essa doença
apresenta-se como uma dissociação mental, ou “discordância”, acompanhada por
uma invasão caótica do imaginário, podendo se traduzir por distúrbios afetivos,
intelectuais e psicomotores, sentimentos contraditórios em relação ao mesmo
objeto (amor e ódio, por exemplo), ou então por incapacidade de agir, por
autismo, delírio e até recusa de falar. O autismo, por sua vez, é uma ruptura
entre a atividade mental e o mundo exterior e uma introversão mais ou menos
total no mundo do imaginário e dos fantasmas (Larousse Médical, 1995).
Eu estaria sendo muito cruel e exagerado se acusasse os antiglobalizadores
dessas duas enfermidades: esquizofrenia e autismo? Os sintomas e as reações, em
todo caso, são muito parecidos. Como os esquizofrênicos, eles recusam ver o
mundo como ele é, preferindo descrevê-lo em tintas sombrias e catastróficas,
cujos componentes têm um único problema: o de não corresponderem à realidade
dos fatos. Como os autistas, eles se reúnem entre eles e recusam dialogar com o
exterior, ou com quem não aceitar sua Carta de “Princípios”, tão confusa
formalmente quanto desconexa substantivamente.
Acredito, pessoalmente, que – à parte um “núcleo duro” de anticapitalistas
profissionais, isto é, aqueles sobreviventes do grande desastre do movimento
comunista do século 20 e que ainda continuam a se perpetuar como uma seita
religiosa, através de velhos ritos litúrgicos que só desaparecerão com o
passamento do último representante da espécie – a maior parte dos integrantes
do movimento antiglobalizador é composta de jovens idealistas que desejam
sinceramente a correção da piores desigualdades que ainda dividem a humanidade
em um punhado de países ricos e uma imensa periferia de pobres e miseráveis.
Eles são devotados à causa e acreditam, por indução daqueles profissionais
acima referidos ou por leituras apressadas ou enviesadas, que o velho
capitalismo, o neoliberalismo (que muitos confundem com o chamado “Consenso de
Washington”) e o sistema de mercado são efetivamente responsáveis pelas
misérias do mundo, tal como o vemos de nossas janelas, nas ruas do Terceiro
Mundo ou que aprendemos a conhecer em informações disseminadas pela internet.
Esse mundo real é realmente inaceitável e algo deve ser feito para paliar suas
carências mais gritantes e suas iniquidades mais brutais.
Apenas considero que essas misérias, injustiças e iniquidades não se
devem, em absoluto, à globalização: elas preexistem, inclusive, ao capitalismo
e podem talvez continuar a existir se, por acaso, em uma bela manhã de sol, o
mundo decidisse deixar de ser “capitalista” para ser qualquer outra coisa,
proposta ou não pelos antiglobalizadores. Os anti se enganam singularmente de
inimigo, provavelmente por falta de leituras honestas, de um estudo mais atento
da realidade histórica, de um conhecimento mínimo sobre como funcionam os
sistemas econômicos e, também, porque se deixam levar por um discurso simplista
e simplificador, por parte daqueles já mencionados acima.
Não tenho nenhuma restrição mental em acusar os “defensores do
culto”, tanto porque eu também já fui um deles, embora de uma vertente não
religiosa, muito dada a leituras de todo tipo, onde Marx era combinado a
Raymond Aron, Engels a Fernand Braudel e Lênin a Tocqueville. Derivei minha
reavaliação dos capitalismos realmente existentes por meio de um conhecimento não
apenas teórico, mas sobretudo prático de todos os socialismos realmente
existentes (e suas pequenas e grandes tragédias sociais). Aprendi, em especial,
a reconsiderar minha análise do sistema de mercado – tal como absorvida
precocemente n’O Capital, de Marx – pelo estudo das tribos mais primitivas do
planeta, numa antropologia comparada das sociedades que em muito contribuiu
para relativizar as críticas mais candentes que os modernos socialistas faziam
às iniquidades percebidas e reais desse sistema na moderna economia
capitalista.
Quero crer, com base nesses estudos e na reavaliação pessoal
conduzida ao longo dos anos, que os assim chamados “marxistas” contemporâneos –
e que ainda continuam a perpetuar ritos e instrumentos de um culto tão
ultrapassado quanto inócuo, do ponto de vista da moderna sociedade globalizada
– não merecem na verdade esse epíteto, e sim o de reacionários, pois querem
fazer girar para trás a roda da história, segundo a fórmula consagrada de Marx.
Aliás, eu me considero marxista e nem por isso deixo de ser “globalizador”,
como aliás Marx o seria, se por acaso vivesse atualmente. Por isso acredito,
com base em todas as considerações que efetuei neste ensaio, que não só os
marxistas, mas também os socialistas de todas as espécies, os humanistas, os
ecologistas, as pessoas de esquerda e os progressistas em geral deveriam
adotar, sincera e devotamente, uma postura em favor da globalização –
atualmente inseparável, mas não para sempre, do capitalismo –, da qual um
balanço honesto saberia nela reconhecer o único sistema progressista realmente
existente. Por progressista eu entendo, está claro, um sistema capaz de
incorporar, progressivamente, contingentes sempre crescentes de pessoas em
patamares mais elevados de produtividade, de renda e de bem estar social, não
um sistema que atenda a todas as necessidades culturais, educacionais ou de
justiça social de todas as sociedades por ele tocadas. Isto a globalização é
capaz de fazer, mas ela não poderá, obviamente, dispensar o igualitarismo social
com que sonham alguns de seus arautos ou de que a acusam vários, ou maior
parte, de seus críticos.
Quero crer, também, que a maior parte dos participantes do movimento
antiglobalizador seja composta de indivíduos idealistas, que se esforçam
sinceramente por encontrar respostas aos problemas do mundo atual, por definir,
como proclamado no seu 4º princípio, as chamadas propostas alternativas para
uma “nova etapa da história do mundo, uma globalização solidária que respeite
os direitos humanos universais, bem como os de tod@s @s cidadãos e cidadãs em
todas as nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições
internacionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade e da
soberania dos povos.”
Concordo basicamente com esse objetivo geral,
idealista, contentando-me talvez, tão simplesmente, em retirar o adjetivo
“solidária” do conceito de globalização, não por discordar da intenção, mas por
considerá-la inócua e absolutamente irrelevante do ponto de vista do processo
histórico. A globalização seguirá sua marcha impessoal, indiferente às vontades
e intenções daqueles que pretenderiam atribuir-lhe qualquer caracterização
particular ou específica.
Atores sociais e líderes políticos intentarão,
obviamente, moldar o processo de globalização, tentando adaptá-lo às suas
necessidades nacionais, às suas concepções filosóficas ou a seus projetos
políticos. Todas essas ações poderão, ou não, desviar, ainda que de forma
moderada, o traçado impessoal e aparentemente indomável do processo de
globalização, mas não conseguirão determinar seu curso básico, que é o da
unificação progressiva do planeta numa sociedade singular, não totalmente
integrada ou dotada de padrões uniformes (como pretendem os defensores do
nacionalismo cultural), mas tampouco fechada em arquipélagos nacionais como
ocorreu até os nossos dias. As ameaças de eliminação das diferenças culturais
entre os povos, devido à importação de bens e serviços de “cultura de massas”
do atual centro imperial, são carentes de maior substância efetiva e não
deveriam ser consideradas por todos aqueles que trabalham com a identidade
nacional desses povos, como a própria experiência brasileira já o demonstrou
amplamente.
Uma leitura realista das possibilidades e
limites da globalização nos permitiria visualizar, sem paixões ou esperanças não
razoáveis, o potencial de realizações que esse processo contraditório e
indomável contém no sentido de uma transformação positiva, e progressista, da
maior parte das formações sociais integradas, de uma ou outra forma, ao grande
caudal da economia mundial. Sempre haverá aqueles que preferirão combater
moinhos de vento, em lugar de se lançar, modesta e pragmaticamente, nas
pequenas e grandes tarefas vinculadas necessariamente ao processo de
globalização: a educação das massas, a qualificação técnica e profissional dos
trabalhadores, a melhoria contínua dos padrões culturais e científicos da
população, de maneira a prepará-la para usufruir plenamente dos benefícios
desse processo irreversível, bem como para fazê-la participar com seus próprios
instrumentos dessa grande dinâmica multiforme.
Os antiglobalizadores da atualidade me parecem
ter adotado, por enquanto, a atitude do avestruz, o que é próprio daqueles que
se sentem fragilizados frente a uma realidade que não dominam e que parece
dominá-los por sua vez. As manifestações ruidosas que conduzem nos locais e
eventos típicos da atual globalização constituem um típico combate de
retaguarda, e suas teses estão condenadas a se esvair na vacuidade das ideias
mal pensadas, mal conduzidas e mal direcionadas. É de toda forma reconfortante
saber, de acordo com Marx, que a humanidade nunca deixa de oferecer soluções
aos problemas que ela mesma se coloca. Daí a razão de meu otimismo.
Brasília, 5 de julho de 2004