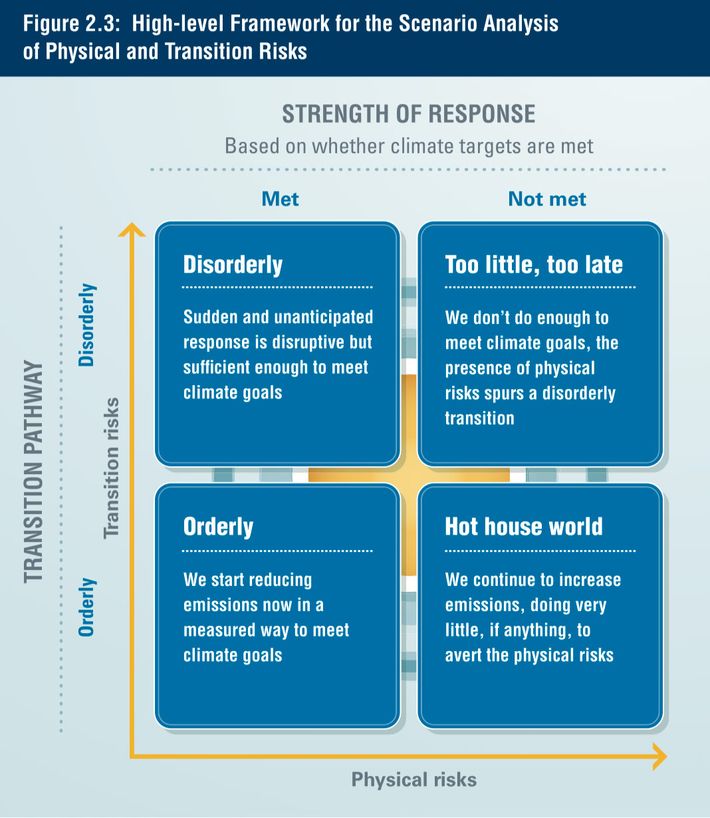Gustavo Franco: "o economista tem uma simbiose de Mário Henrique Simonsen, com formação acadêmica impecável, e a ironia fina de um Bob Fields" (Daniela Toviansky/Exame)
O Brasil, por conta da tradição católica, costuma transformar os mortos em pessoas excepcionais, independentemente da sua trajetória. Os raros seres dominados pela catalepsia ficariam perplexos com os excessos de elogios sobre a sua suposta morte. Outra maneira de prestar homenagem aos mais velhos é esperar pela idade provecta dos 80 anos, como acontece com o competente economista Affonso Celso Pastore, ou ocorreu, em abril de 1997, com Roberto Campos, ministro do Planejamento do governo Castello Branco (1964-1967), que promoveu as mais importantes reformas econômicas nos últimos 55 anos, com a colaboração decisiva de Octavio Gouvêa de Bulhões, ministro da Fazenda, e do incansável jurista José Luiz Bulhões Pedreira.
“A vantagem de se fazer uma festa de 80 anos é que, se for chata, há a certeza de que não será repetida”, disse Campos, na comemoração organizada pelo advogado e amigo Bulhões Pedreira, nos salões do Copacabana Palace. Frasista incontinente e polemista de primeira mão, Campos não escondia as suas simpatias pelo governo Fernando Henrique Cardoso e de um de seus mais importantes colaboradores, o economista Gustavo Henrique Barroso Franco, filho de um importante burocrata no governo Getulio Vargas (1950-1954), que depois se tornaria banqueiro, Guilherme Arinos Barroso Franco. Escolhido para homenagear Mario Henrique Simonsen (1935-1997) em caderno especial do “Jornal do Brasil”, Franco produziu uma verdadeira lápide para o ex-ministro da Fazenda, que morreria um ano depois da publicação do depoimento editado em 12 páginas, 1996, com a contribuição luxuosa de Dionísio Dias Carneiro (1945-2010):
“MHS convive bem conosco, cidadãos comuns, economistas simplórios, que acreditam na teoria, na tecnologia e que querem acertar. Ele observa, com uma elegância condescendente, as nossas hesitações, nosso aprendizado. MHS é o que os acadêmicos chamam de ‘referência obrigatória’. Ele fala com as estrelas e enxerga por trás das coisas, de um jeito que as outras pessoas não são capazes. É possível que passem gerações sem que se veja outro como ele”. À época, Franco, 39 anos, era o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central.
Aos 64 anos, o economista tem uma simbiose de MHS, com formação acadêmica impecável, e a ironia fina de um Bob Fields, apelido jocoso dado por um assessor nacionalista de Vargas. Bem-humorado, ele gostava da alcunha, uma alusão à sua defesa da importância do capital estrangeiro naquela economia incipiente e muito fechada dos anos 1950.
Gustavo Franco viu o céu e o inferno no governo FHC, mas sai mansamente, em janeiro de 1999, diante da forte especulação contra o real sem fazer críticas a quem serviu com grande fidelidade, tendo ajudado a montar a engrenagem que deu origem ao mais bem-sucedido plano de estabilização econômica do Brasil, o Real, reverenciado por seu guru MHS.
Apesar da estatura baixa e do corpo franzino, Franco nunca foi de levar desaforo para a casa. É um apaixonado pela escrita. Nos anos de 1988 e 1989, produziu com esmero reportagens especiais sobre a hiperinflação argentina no “Jornal do Brasil”. A hiper era o seu grande tema, que estudou como poucos. Tinha cabelos longos e barba espessa. Não deixou pedra sobre pedra. Na academia, jamais escondeu as suas críticas à politica econômica de Delfim Netto, que serviu aos governos Costa e Silva (1967-1969), Emilio Garrastazu Médici (1970-1974) e João Figueiredo (1979-1985), noves fora a intensa participação como uma espécie de assessor informal dos governos Lula 1 e Lula 2. Como se sabe, Delfim, em que pese à sua enorme competência como economista e grande mestre de gerações de profissionais, por vezes traiu a teoria, segundo Franco, para se firmar como um político. “A primeira missão de um ministro é continuar a ser ministro”, afirmava Delfim, segundo me disse Dionísio Carneiro, professor de Franco na PUC-Rio e assessor de Simonsen na Fazenda, Governo Geisel (1974-1979), além de mestre na prestigiada EPGE da vetusta FGV, início dos anos 1970.
Franco recusou um emprego rentável no BNDES para se dedicar a uma rigorosa formação acadêmica em Harvard, EUA. Volta ao Brasil equipado e suficientemente tarimbado para enfrentar, anos mais tarde, as agruras do governo Itamar Franco com inflação galopante. É dele a redação da legislação que deu origem à Unidade Real de Valor (URV), que, justiça seja feita, se baseava no conceito de uma moeda virtual tal como sistematizara a dupla Persio Arida/André Lara Resende, início dos anos 1980. Franco me disse que só foi entender a verdadeira dimensão da URV em uma viagem à sua cidade natal. Na sala com vista panorâmica para a Baía de Guanabara, saíra eufórico depois de um colóquio com Bulhões Pedreira, que trajava um terno claro e uma gravata Hèrmes: “Moeda com curso legal sem poder liberatório”. Estas sete palavras, resumidas pelo esteta do moderno direito tributário e societário, deu a certeza absoluta de que a conversão da URV para o real seria um sucesso de bilheteria. O resto da história é sobejamente conhecido do público: o Plano Real leva o candidato Fernando Henrique Cardoso a vencer com folga Lula no primeiro turno nas eleições presidenciais de 1994. Era o ponto final na super inflação.
Tempos depois, o mesmo empolgado Gustavo Franco, o baixinho que não leva desaforo, rompe com o tucanato diante de denúncias graves contra os grandes políticos do PSDB, com as exceções de um Tasso Jereissati, incansável senador a favor do Estado equilibrado e moderno.
Curiosamente, o ministro Paulo Guedes, que jamais poupou críticas à Economia da PUC-Rio, reconheceu em Franco as qualidades de um liberal verdadeiro e não de um oportunista de plantão (esqueçam os nomes, cara leitora e caro leitor). Por algumas semanas, Gustavo foi cogitado para ser o chairman do BNDES, mas os possíveis conflitos de interesse com os seus negócios privados, bem sucedidos, diga-se de passagem, o fizeram desistir da missão. Ponto para ele e para o ministro. Nem todos no Conselho de Administração tiveram a mesma dignidade. Não vamos falar de nomes.
O presidente do Banco Central no primeiro governo FHC mantém a sua coerência com o pensamento liberal sem cair na armadilha irresponsável, de ignorar políticas públicas relevantes para a proteção dos mais pobres. Da mesma forma, não tece elogios chapa branca ao governo Bolsonaro, irresponsável seja na área da saúde seja na de meio ambiente, para não falar das verdadeiras liberdades, que são tão caras a quem sempre combateu o centralismo e a autocracia do regime militar, como Franco.
Na sua importante obra acadêmica e nos mergulhos no pensamento de Fernando Pessoa, Machado de Assis e de Shakespeare – sempre tratando de economia – o melhor de Gustavo Franco está nas pílulas contidas na “Antologia da Maldade”, em co-autoria com Fabio Giambiagi. Há boas doses de um bom veneno, do sarcasmo na medida certa.
Vamos a uma seleta de frases famosas para a humanidade:
“A estabilização econômica é obviamente importante demais para ser deixada nas mãos dos economistas.” Alan Blinder (1945-) e Robert Slow (1924-), economistas americanos em 1974;
“A guerra é um assunto sério demais para se deixar unicamente nas mãos de militares.” Georges Clemenceau (1841-1929), ex-primeiro ministro da França;
“Política é uma coisa muito séria para ser deixada nas mãos de políticos.” Charles De Gaulle (1890-1970), ex-presidente da França.
E, certamente, assinaria embaixo essas frases do decálogo decantado por Roberto Campos naquela longínqua sexta-feira de um outono agradável, em 1997, no Rio:
“Os nacionalistas gastam tanto tempo odiando os outros países que não têm tempo para amar o seu próprio país”;
“O erro dos militares foi não terem feito a abertura econômica antes da abertura política; o erro dos civis foi depois da abertura política fazerem a chamada fechadura econômica”;
“Os que creem que a culpa dos nossos males está nas estrelas e não em nós mesmos ficam perdidos quando as nuvens encobrem o céu.”
Gustavo Franco está muito longe dos 80 anos, mas certamente lembra do velho pai, a quem conduzia com carinho na cadeira de rodas na sede da sua então Rio Bravo, no Centro do Rio, também assinaria esta boutade do adorável Bob Fields, no discurso na festa no Copacabana Palace:
“O Bulhões Pedreira sugeriu, a princípio, uma festa apenas para os amigos, o pessoal que criou o BNDES, a turma do governo JK (Juscelino Kubitschek). A idade mínima da festa seria 70 anos. A festa seria chamada de PVC – a Porcaria da Velhice Chegou.”
Detalhe: depois do velho Guilherme chegar na sala, Franco abria um sorriso e dizia como quem volta no tempo: “Juízo, pai”. Guilherme devolvia o sorriso, lembrando do menino travesso no casarão da Urca, bairro da Zona Sul carioca.