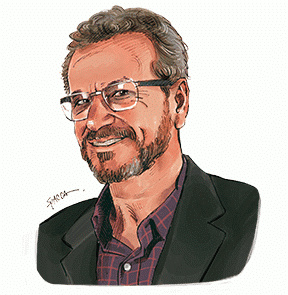Réplica: Expulsão de palestinos não foi planejada por Israel
Artigo de professora da USP apresenta narrativa unilateral, ignora evidências e apaga papel de britânicos e países árabes
FSP, 2.dez.2023 às 23h00
Leonardo Avritzer
Professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG
[RESUMO] Em resposta a artigo que sustenta que a expulsão de palestinos de suas terras em 1948 foi um objetivo deliberado do então recém-criado Estado de Israel, pesquisador escreve que a autora, Arlene Clemesha, seleciona unilateralmente episódios do período, ignora o papel da rejeição do plano de partilha da ONU por árabes e busca atribuir ao establishment sionista todos os eventos relacionados à Nakba, constituindo uma má historiografia que não dá conta da complexidade do êxodo palestino.
O artigo "Historiadores veem expulsão de palestinos em 1948", de Arlene Clemesha, professora de história árabe da USP, publicado na Ilustríssima no último domingo, tem a Nakba, ou a "catástrofe", como temática. A autora defende uma visão bastante nítida, mas equivocada dos acontecimentos que fizeram com que 750 mil palestinos se tornassem refugiados ao final da guerra de 1948.
Segundo Clemesha, existe uma Nakba contínua e "o processo de expulsão, que teve seu auge naquele 1948, continua até hoje". O argumento é que se estabeleceram consensos a respeito do problema dos refugiados palestinos: o primeiro deles é que a velha historiografia israelense não retratou o episódio adequadamente ao argumentar que a guerra de 1948 foi uma guerra de defesa e que os palestinos teriam fugido a mando de seus líderes.
Concordo integralmente com a autora. Daí a centralidade da obra do historiador israelense Benny Morris na revisão da historiografia israelense clássica.
O segundo consenso, muito mais frágil e polêmico, é que Morris não teria ido suficientemente longe em sua crítica à historiografia israelense tradicional, "uma vez que reconhecia a expulsão, mas negava a motivação". A partir daí, Clemesha cita equivocadamente ou, no mínimo, unilateralmente os episódios que levaram ao problema dos refugiados palestinos.
Para a historiadora, o objetivo israelense em 1948 foi, desde o início, a expulsão dos palestinos da região que veio a se tornar o Estado de Israel.
Clemesha menciona apenas secundariamente a rejeição da partilha por árabes e palestinos, mas, ao que parece, não estabelece qualquer relação entre a não aceitação da partilha do território do mandato britânico na Palestina, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em novembro de 1947, e os acontecimentos de 1948.
Neste artigo, apresentarei três críticas ao texto publicado nesta Folha. Em primeiro lugar, não há como discutir Nakba e 1948 sem abordar a rejeição de palestinos e países árabes da resolução de partilha.
Em segundo lugar, a discussão realizada pela autora sobre o êxodo palestino de Haifa vai completamente contra a historiografia estabelecida. Esse é um dos casos em que há provas contundentes, a partir de fontes independentes, de que houve tentativas tanto dos israelenses quanto dos britânicos de convencer a população palestina a não deixar a cidade.
Não se trata de um assunto menor, uma vez que aproximadamente 75 mil palestinos deixaram Haifa em 1948, pelo menos 10% do número total de refugiados.
Por fim, a tentativa de atribuir ao establishment sionista — especialmente a Haganá, a entidade que se tornaria a IDF (Forças de Defesa de Israel) depois de maio de 1948 — todos os episódios relacionados ao êxodo palestino parece constituir uma má historiografia, cujo objetivo aparenta ser o de colocar todos os israelenses em um mesmo plano, sem diferenciar as nuances políticas que foram e continuam sendo fundamentais para entender o conflito com os palestinos.
Neste artigo, utilizarei em parte a mesma bibliografia de Clemesha, atribuindo peso diferente às obras dos autores elencados acima.
Comecemos pelos acontecimentos de 1948, gestados em novembro de 1947.
A resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, de 29 de novembro de 1947, encontrou a oposição dos países árabes ao longo de todo o processo de discussão da partilha. O comitê designado pela ONU que trabalhou entre maio e agosto de 1947 recomendou, por maioria, a divisão do território da Palestina.
No dia 30 de novembro, às 8h, ou seja, poucas horas depois da votação da ONU, dois ataques foram realizados contra ônibus israelenses na planície costeira (Morris, 1948, p. 76). Poucos dias depois, a Liga Árabe, então constituída por Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Iraque, Líbano, Síria e Transjordânia, rejeitou a partilha (Ben-Dror, 2007).
Nesse ponto, o trecho do artigo da autora que resgata um acontecimento controverso em Haifa em 30 de dezembro daquele ano está equivocado em identificá-lo como o primeiro ato de violência depois da partilha.
Está errada também a própria descrição do evento, na qual a autora ignora um massacre de trabalhadores judeus no episódio da refinaria de Haifa, como ficou conhecido. Não houve êxodo palestino após o episódio relatado pela autora.
Assim, a rejeição da partilha pela Liga Árabe e pelos líderes palestinos jogou a questão das fronteiras políticas dos dois Estados para o campo militar, decisão pela qual o líder palestino Mahmoud Abbas expressou arrependimento mais de 60 anos depois.
A guerra de 1948 teve duas fases: a primeira, de novembro de 1947 até a retirada dos britânicos da região, em 14 de maio de 1948; a segunda, posterior a essa data, contou com o envolvimento dos exércitos egípcio, jordaniano, sírio e libanês.
Na primeira fase, conhecida como uma guerra civil, o padrão fundamental foi o mesmo: tanto os judeus-israelenses quanto os palestinos tentaram homogeneizar etnicamente as áreas que lhes haviam sido concedidas pela partilha das Nações Unidas. Até mesmo os britânicos atuaram na mesma direção, cedendo fortes e postos militares para cada um dos dois grupos, conforme as indicações da partilha (Morris, 2008, p. 76-80).
Porém, à medida que 14 de maio de 1948, data marcada para a retirada dos britânicos da região, se aproximava, começaram a surgir movimentos de ambas as partes, sobretudo nas cidades mais populosas e com populações mistas. Entre essas cidades, se destaca Haifa, sede da central sindical israelense, a Histadrut, e na qual emergiram alianças entre árabes. Em diversas oportunidades, foram criadas na cidade associações entre árabes e judeus, até mesmo durante o atual conflito em Gaza.
Diferentemente do que alega Clemesha, os eventos que marcaram o primeiro êxodo palestino em uma grande cidade durante a guerra de 1948 ocorreram em 21 e 22 de abril daquele ano, portanto, ao final da primeira fase da guerra civil. Os choques militares entre israelenses e palestinos em Haifa aconteceram a partir de uma reorganização da posição das tropas britânicas na cidade naqueles dias.
De acordo com Morris, o então comandante britânico em Haifa, Hugh Stockwell, chamou israelenses e palestinos às 10h do dia 21 em seu escritório e pediu que ambos os lados evitassem conflitos (1987, p. 75). As hostilidades começaram quando a Haganá tomou alguns alvos militares na região central da cidade.
Stockwell convocou uma reunião na prefeitura de Haifa às 16h de 22 de abril de 1948. Essa reunião, decisiva para o começo do êxodo palestino, tem diversas versões: segundo Morris, Stockwell pediu moderação, o que foi aceito pela delegação da Haganá presente, e propôs um armistício.
No entanto, depois da derrota militar sofrida pelos palestinos no dia anterior, a delegação palestina afirmou "que eles não estavam em posição de assinar um armistício; que eles não tinham controle sobre as forças militares árabes... Então eles apresentaram a alternativa da população árabe deixar a cidade" (Stockwell, citado em Morris, 1987, p. 82).
De acordo com relatos dos observadores britânicos, houve a tentativa por parte dos judeus de pedir aos palestinos que não se retirassem: "Os judeus estão fazendo um grande esforço para prevenir uma evacuação em massa, mas os seus esforços estão tendo pouco efeito" (Stockwell, citado em Morris, 1987, p. 82).
Walid Khalidi, em um artigo que permaneceu obscuro por muito tempo, oferece uma interpretação muito menos favorável, mas que não conseguiu se firmar na literatura especializada sobre o assunto. Para o historiador, Haifa seria a primeira etapa de implementação do chamado Plano Dalet ou Plano D, tido como um plano da Haganá para a retirada dos palestinos da área costeira — a única evidência apresentada por Khalidi (2008).
Diversos problemas parecem permear a visão do historiador, que tem constituído objeto de discussão ao longo das últimas décadas.
Em primeiro lugar, a negação da neutralidade dos britânicos na guerra de 1948: as evidências apontam que eles, de fato, obedeceram à orientação do gabinete do então primeiro-ministro britânico, Clement Attlee, de reforçar a divisão territorial.
Ainda que os britânicos não fossem neutros, como argumenta Khalidi, isso não significa que o relato de Stockwell para Londres (o chamado Relatório Stockwell, escrito em 24 de abril de 1948) não fosse fiel aos acontecimentos, uma vez que ele não tinha qualquer motivo para não relatar os dados corretamente.
Assim, temos um primeiro caso de êxodo palestino absolutamente nuançado em relação aos argumentos daqueles que supõem que houve um plano preconcebido de expulsão da população palestina. Além de Haifa, os resultados foram controversos em outras cidades: em Tiberíades, não houve expulsão de palestinos; em Acre, os palestinos permaneceram na cidade; em Safed, depois de um ataque do Palmach, a então força de elite da Haganá, os palestinos saíram da cidade. Houve expulsão em Lod.
Desse modo, temos uma série de situações ligadas às decisões de um conjunto variado de atores: a não aceitação da partilha, algumas derrotas militares dos palestinos e as relações entre árabes e judeus, ou entre palestinos e israelenses, em cada um dos momentos da guerra civil que se estendeu de novembro de 1947 a maio de 1948.
O ponto importante, que procuro deixar nítido aqui, é que houve, sim, um êxodo da população palestina de algumas cidades, mas esse êxodo, que gerou o problema dos refugiados palestinos, não foi planejado e não foi resultado de uma concepção política da liderança sionista.
Pelo contrário, é decorrente da militarização provocada pela rejeição da partilha e pelas ações de três atores diferentes: os israelenses, os palestinos e os demais países árabes.
No que diz respeito ao papel dos demais países árabes, em especial a atual Jordânia, que tinha o melhor exército, treinado pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, Clemesha parece ter uma posição contraditória.
Em seu artigo, ela afirma: "A monarquia hachemita tinha o maior exército árabe da época e, na avaliação de Walid Khalidi, não fosse por ela e pela participação do Egito, os palestinos teriam perdido todas as suas terras em 1948".
Algumas correções são necessárias. A Transjordânia ocupou as terras destinadas ao Estado palestino pela resolução de partilha da ONU, e, em dezembro de 1948, na Conferência de Jericó, foi votada a anexação do território palestino ao Reino Hachemita da Transjordânia. A partir de então, todos os prefeitos das cidades palestinas foram nomeados pelo rei Abdullah, e Jerusalém foi designada capital alternativa do reino hachemita.
A Jordânia reconheceu o direito do povo palestino ao território da Cisjordânia em 31 de julho de 1988, apenas cinco anos antes de Israel fazê-lo através das cartas de reconhecimento mútuo que precederam os Tratados de Oslo. Assim, não é possível eximir a Jordânia, como tampouco é possível eximir o Egito, de responsabilidade na gestação do problema palestino tal como ele se expressa nos tempos atuais.
Os palestinos se tornaram refugiados em regiões originalmente reservadas para um Estado palestino pela ONU, em parte devido a projetos alternativos de ocupação e gestão de Jerusalém, especialmente pela Jordânia, em parte pelo resultado de um conflito armado no qual alguns grupos defenderam sua expulsão.
Surpreendentemente, a autora deixa de mencionar que o êxodo palestino levou a fortes protestos dos partidos de esquerda em Israel, especialmente pelo Mapam, que tinha vínculos com a ex-União Soviética, cujos apoio e influência em Israel em 1948 têm sido intensamente subestimados pela literatura (sobre o partido, consultar "Freud no Kibutz", de Guido Liebermann).
O Mapam protestou contra a expulsão de palestinos de Lod e chamou uma reunião ministerial sobre o assunto (Segev, 2019). Em algumas oportunidades, até mesmo o então primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, afirmou que suas ordens foram desrespeitadas na expulsão de palestinos de Lod (Segev, 2019, p. 450), ainda que ele tenha tido posições ambíguas em relação ao problema ao longo do ano de 1948.
Portanto, quando falamos do êxodo e do problema dos refugiados palestinos em 1948, estamos diante de um fenômeno muito mais complexo do que sugere o artigo de Arlene Clemesha.
Termino esta crítica parafraseando o final do seu artigo, quando a autora afirma que "somente o reconhecimento dos sofrimentos mútuos [...] poderá gerar a reparação e os elos necessários para uma vida em comum". Para isso, é necessário que as narrativas não sejam unilaterais.
OBRAS PARA APROFUNDAR O DEBATE
"The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949" (1988; Cambridge University Press), de Benny Morris
"1948: a History of the First Arab-Israeli War" (Yale University Press, 2009), de Benny Morris
"Why Did the Palestinians Leave, Revisited" (Journal of Palestine Studies, 2005), de Walid Khalid
"The Fall of Haifa Revisited" (Journal of Palestine Studies, 2008), de Walid Khalidi
"The Arab Struggle Against Partition: The International Arena of Summer 1947" (Middle Eastern Studies, 2007), de Elad Ben-Dror
"A State at Any Cost: the Life of David Ben Gurion" (Farrar, Straus and Giroux, 2019), de Tom Negev