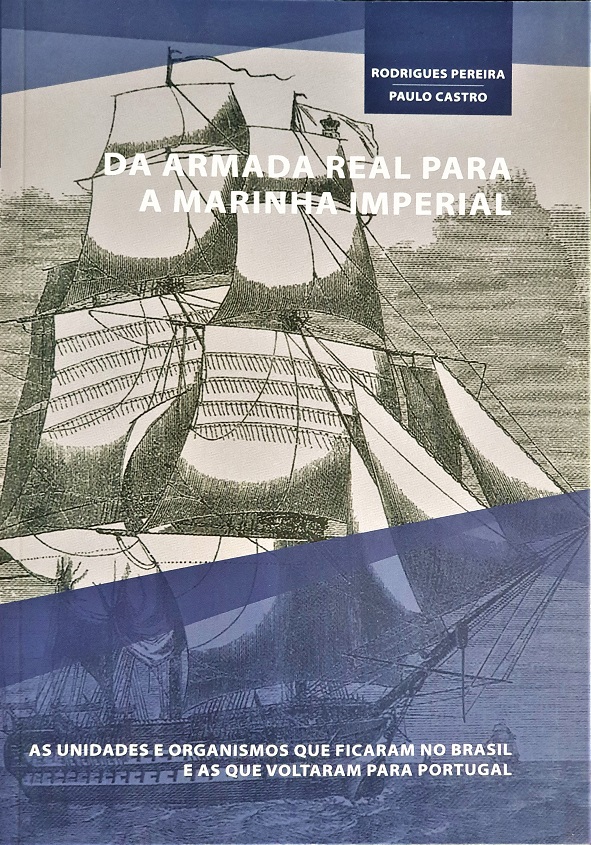Intelectuais na diplomacia brasileira
Paulo Roberto de Almeida
O que é o intelectual? Qual o seu papel social?
Intelectuais são personagens indissociáveis das sociedades organizadas em Estados, ou até de comunidades dotadas de religiões oficiais, desde a mais remota Antiguidade. Já em tempos remotos, pessoas dotadas de certa sensibilidade para o sagrado refletiam sobre o universo, sobre os segredos da natureza e sobre as normas que deveriam governar suas sociedades. Os primeiros “intelectuais”, no sentido mais elementar do termo, constituíam uma fração diminuta dessas comunidades, pessoas capazes de assessorar líderes religiosos, políticos ou militares na elaboração de um discurso capaz de substituir, ou complementar, a força bruta na manutenção da ordem pública; elas necessariamente tem de possuir a capacidade de ler e de redigir textos religiosos e políticos, ou escritos de cunho educativo, servindo ademais para registrar a memória de sociedades minimamente estáveis e funcionais.
(...)
Numa sociedade burocratizada de massas, como são praticamente todas as sociedades urbanas e contemporâneas, eles passam a disputar espaços com outros figurantes da cena pública, mas ainda assim exercem um fascínio que não está perto de extinguir-se. Como escreveu um grande intelectual americano, o “filósofo estivador” Eric Hoffer, o intelectual “como paladino das massas é um fenômeno relativamente recente”, pois que, em tempos recuados, eles eram, mais exatamente,
aliados daqueles que detinham o poder ou membros de uma elite governante, e consequentemente indiferentes ao destino das massas. No antigo Egito e na China Imperial, os letrados eram magistrado, supervisores, cobradores de impostos, secretários e funcionários de todas as categorias. Estavam no comando, e não erguiam um dedo para tornar mais leve a carga das classes inferiores. (Eric Hoffer, “O intelectual e as massas”, cap. 6 de The Ordeal of Change. Londres: Sidgwick and Jackson, 1952; ed. brasileira: O intelectual e as massas. Guanabara: Lidador, 1969, p. 47)
O aparecimento do intelectual militante no Ocidente, ou seja, preocupado com um papel útil na sociedade, é concomitante ao desenvolvimento da educação e dos instrumentos de publicação, mas Eric Hoffer não deixa de sublinhar que essa combinação entre ele e as massas não se baseia numa real afinidade:
O intelectual vai às massas em busca de peso e de um papel de liderança. Ao contrário do homem de ação, o homem de palavras precisa da sanção de ideais e da encantação das palavras a fim de agir com força. Quer liderar, comandar, e conquistar, mas precisa sentir que ao satisfazer essas fomes ele não se prende a um mesquinho eu. Precisa de justificativa, e busca-a na realização de um destino grandioso... Assim, luta pelos deserdados, pela liberdade, igualdade, justiça e verdade... (idem, pp. 50-51).
No século XX, os intelectuais públicos estiveram em grande medida associados a causas progressistas, ou mesmo revolucionárias, muito embora não tenham faltado aqueles de pensamento conservador ou mesmo reacionário. Muito embora os primeiros tenham sido considerados “esquerdistas” e os segundos “direitistas” ou conservadores, o fato é que os movimentos fascistas, na primeira metade do século foram manifestamente revolucionários, o que aliás confirma a designação dada por muitos historiadores ao século XX como a era das ideologias. A que mais perdurou, e que de certa forma ainda perdura, junto do nacionalismo, foi obviamente o socialismo, sobretudo na sua extração marxista, embora os intelectuais se tenham dividido enormemente, ao longo do século, entre diversas variantes dessa tradição filosófica, desde a socialdemocracia e o fabianismo, até os modelos mais claramente comunistas, como o leninismo, o trotsquismo e o maoísmo, passando pelo gramscismo e por variedades desta última tendência, especialmente acolhida no seio da intelligentsia ocidental.
Críticos contundentes dessas alienações dos intelectuais, na França, foram o grande liberal Raymond Aron e o ex-marxista François Furet, o primeiro desde meados dos anos 1950, por meio de seu livro O ópio dos intelectuais, no qual ele critica os grandes mitos políticos dos intelectuais – esquerda, revolução, proletariado –, para depois refletir sobre a idolatria da história e a necessidade desses intelectuais de uma religião laica (L’Opium des Intellectuels. Paris: Calmann-Lévy, 1955). Furet examina o percurso do ideario comunista ao longo do século XX no livro Le Passé d’une Illusion; essai sur l’idée communiste au XXe siècle (Paris: Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995), uma obra que constitui igualmente um depoimento pessoal sobre as ilusões e a cumplicidade dos intelectuais com um dos regimes mais mortíferos da história. Na tradição britânica, ou anglo-saxã, o pensamento liberal, herdeiro de tradições intelectuais que remontam ao iluminismo escocês, foi especialmente atuante, razão pela qual impulsos fascistas foram bem menos atuantes, ou inexistentes, do que na tradição continental e latina.
(...)
Intelectuais no Brasil: papel político e institucional
Os intelectuais no Brasil estão intimamente associados ao seu papel de “intérpretes” da nação, em sua formação e desenvolvimento ao longo dos três séculos de dominação portuguesa e nos dois séculos seguintes de autonomia política. Se na tradição europeia ou americana, os intelectuais são os escribas, os letrados e os mestres, na tradição brasileira eles estão ligados desde a origem à “explicação” do Brasil, até se tornarem, no século XX, os intelectuais “engajados”, como aliás no itinerário da França contemporânea, onde muitos foram buscar inspiração e modelos de pensamento e de ação. Daí uma conexão mais estreita com a vida política e, no contexto acadêmico, com as humanidades e as ciências sociais, sem esquecer a economia, de conformidade com a grande obsessão nacional desde muitas décadas, a ideologia do desenvolvimento. Não faltaram ao Brasil, evidentemente, os puramente literários, mas mesmo estes não deixaram de refletir – como em Machado de Assis, por exemplo, mas igualmente em vários outros – as idiossincrasias da vida brasileira, as nossas crises políticas, as insuficiências de nosso desenvolvimento material ou espiritual, a partir de modelos geralmente europeus de avanços civilizatórios.
Como na tradição europeia desde o início da imprensa mecânica, o florescimento da espécie está intimamente vinculado ao mercado dos livros, o que no Brasil se manifestou tardiamente, muito em função da censura metropolitana até a independência, depois em virtude dos baixos níveis educacionais da população em geral, o que persistiu até bem entrado o século XX. Monteiro Lobato, um dos pioneiros no setor, teve de empreender um esforço hercúleo para disseminar originais brasileiros e traduções de estrangeiros num vasto território completamente desprovido de bibliotecas públicas e sobretudo de livrarias: no seu caso, o recurso foi o envio de exemplares em consignação para empórios e mercearias. Os intelectuais, por sua vez, tenderam a ser funcionários públicos, na tradição bacharelesca que sempre foi a nossa, como identificado por Sérgio Miceli (Intelectuais e classe dirigente no Brasil, 1920-1945. São Paulo: Difel, 1979).
(...)
Intelectuais brasileiros na diplomacia: o que precede o que?
A principal questão a ser considerada na relação intelectuais e diplomacia é a de saber a precedência dos elementos dessa equação, uma vez que o sinal de igualdade não se aplica de forma automática, dependendo das variáveis que a integram. Em termos gramaticais, trata-se de saber qual o substantivo e qual o adjetivo: quando e em quais condições um intelectual se torna diplomata, ou quando o diplomata, de carreira ou ocasional, se revela um intelectual? Não existe uma resposta unívoca a essa questão, uma vez que o elemento de origem, ou a condição profissional, ou literária, entre uma e outra parte da equação, depende de certa estrutura social, ou dos regramentos institucionais que presidem às relações entre as duas situações. Ser um escritor – que é, ao que parece, o ponto de partida para ser um intelectual – não é, senão muito raramente, uma profissão, pelo menos para a grande maioria dos que se dedicam às artes da escrita. Não se pode ser um Georges Simenon, ou um Jorge Amado, modernamente um Paulo Coelho quem quer: viver unicamente de seus próprios escritos, é dado a poucos, apenas depois de certa acumulação primitiva de prestígio e de conquista de um grande público. Raros são os exibem uma vida vinculada exclusivamente à pluma, à máquina de escrever, ou ao computador, segundo as épocas e as preferências pessoais; a maioria se exerce normalmente em outras profissões, em geral na academia, no jornalismo, nas funções públicas, entre elas, eventualmente, a diplomacia.
No caso do Brasil, nenhum intelectual, por mais prestigioso que seja, será chamado a se exercer na carreira diplomática – excluídos, obviamente, as nomeações para o exercício temporário de chefe de missão no exterior –, uma vez que, desde 1945, a legislação reserva o ingresso na carreira aos selecionados nos concursos de entrada no Instituto Rio Branco. Nem sempre foi assim, porém: antes da institucionalização do concurso, e mesmo parcialmente depois da criação do DASP, em 1938, se podia na diplomacia “entrar pela janela”, ou seja, designado politicamente, graças a relações de família ou de amizade. Sob a monarquia (1822-1889) e durante a primeira República, até a Segunda Guerra, o concurso era ocasional ou episódico; depois ele se tornou a única porta de entrada.
Aparentemente, portanto, antes da seleção burocrática, era mais fácil aos intelectuais, ou escritores, “entrar” na diplomacia, quando se buscava viver em capitais de prestígio para continuar a se exercer no terreno das letras, afastando-se da “miséria cultural” do país, mesmo na capital da República. Curiosamente, uma das vocações literárias mais alvissareiras, o “poeta da Amazônia” Raul Boop, que tinha acabado de publicar Cobra Norato (1931), passou os próximos 30 anos de sua carreira a partir de 1932, quando ingressou no Itamaraty, praticamente “desquitado” da literatura. Confessa, em suas Memórias de um embaixador (Rio de Janeiro: Record, 1968), que considera o gênero uma espécie de “subliteratura” (p. 11), tendo deixado suas anotações de lado durante toda a vida diplomática, para só voltar a remexer nas lembranças na aposentadoria. Antes dele, Aluísio Azevedo, que ingressou na diplomacia com o prestígio de O Cortiço(1890), deixou secar sua veia literária uma vez na carreira. Mas pode ocorrer também o contrário: Alberto da Costa e Silva refere-se, na introdução ao Itamaraty na Cultura Brasileira, ao fato de que a “solidão do exílio” despertou em João Cabral de Melo Neto um impulso extraordinário, e suas estadas em Londres, Barcelona ou Sevilha serviram para libertar a sua veia poética.
A partir da segunda metade do século XX, vocações literárias e intelectuais podem ser despertadas no seio da diplomacia profissional, para talvez escapar da modorra burocrática das embaixadas ou da Secretaria de Estado, quando se aproveitam as horas livres, ou um ritmo menos extenuante de trabalho para uma dedicação pessoal à escrita; pode-se até mesmo combinar o trabalho oficial com cursos acadêmicos, empreender pesquisas paralelas, frequentar ambientes literários ou, então, escolher a reclusão na composição solitária, em paralelo a um ambiente que é, de toda forma, o de uma cultura geralmente sofisticada. Ao longo do tempo, motivações pessoais, produção literária, dedicação à pesquisa variaram ao sabor das situações individuais, das vinculações institucionais e da condição de vida em cada um dos polos da equação: intelectuais e escritores desejosos de ingressar na diplomacia, ou diplomatas profissionais atraídos e vocacionados pelo trabalho de produção literária (prosa e poesia) ou nos diversos campos das humanidades (sendo a história um dos focos habituais).
Nas décadas vibrantes da industrialização, vocações econômicas com foco no desenvolvimento do país – como nos casos de Otávio Dias Carneiro e de Roberto Campos – também se distinguiram no campo das publicações especializadas. Como seria de se esperar, alguns aproveitaram as oportunidades oferecidas nos foros e nas academias estrangeiras, que frequentavam por dever de ofício ou gosto pelo estudo, para refletir sobre as razões do não desenvolvimento brasileiro e sobre como fazê-lo avançar economicamente. Outros preferiam o isolamento da carreira para prosseguir um zeloso exercício da vocação literária: assim foi, por exemplo, com Guimarães Rosa, que mesmo promovido a embaixador desde 1958, não mais assumiu postos no exterior, preferindo ficar na paz do Serviço de Demarcação de Fronteiras para melhor se dedicar aos seus escritos. O ensaio sobre Guimarães Rosa no livro de 2001 foi assinado por um outro diplomata literário, Felipe Fortuna.
O primeiro brasileiro que se dedicou profissionalmente à escrita, e de forma bastante próxima ao mundo diplomático, ainda que jamais se tenha exercido nesse terreno, foi o luso-brasileiro Hipólito José da Costa, súdito português nascido na colônia de Sacramento (atual Uruguai), criado no Rio Grande do Sul no último terço do século XVIII, educado, como muitos outros brasileiros, na Universidade de Coimbra, e colocado a serviço do grande estadista português da transição para o século XIX, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o futuro Conde de Linhares. (...)
(...)
A produção intelectual dos diplomatas: o mercado dos livros
Um fator relevante na crescente osmose entre os intelectuais e as carreiras públicas, inclusive a diplomacia, é o surgimento de um mercado do livro no Brasil, a partir da criação de algumas editoras nacionais, como revelado pelo sociólogo Sérgio Miceli em seu estudo sobre as relações entre intelectuais e as elites dirigentes no Brasil, de 1920 a 1945. O segundo capítulo de seu livro comporta um exame amplo dessa nova realidade:
Em fins do Império e ao longo da primeira década republicana, uma parcela considerável das obras de escritores brasileira, era impressa na França e em Portugal. Não obstante, a crescente relevância do mercado sul-americano motivou a instalação de filiais de editoras francesas no Brasil e na Argentina, como por exemplo as livrarias Garnier no Rio de Janeiro, Garraux e Hildebreand em São Paulo. (Miceli, (Intelectuais e classe dirigente no Brasil, op. cit., p. 69.
Os principais editores eram Laemmert, Garnier e Francisco Alves, como aliás revelado em alguns livros de Oliveira Lima, que também teve dois ou três dos seus impressos em Leipzig, no Império Alemão. Francisco Alves, cujos sucessores publicaram a segunda edição da obra O Itamaraty na Cultura Brasileira em 2002, era, segundo um cronista da Academia Brasileira de Letras, “um português ignorante, que [no início do século XX] vendia livros, como poderia vender carne seca ou batatas, e que deixou sua fortuna à Academia Brasileira” (cf. Medeiros e Albuquerque, Homens e Cousas da Academia Brasileira. Rio de Janeiro: Renascença Editora, 1934, p. 135; apud Miceli, op. cit., p. 70).
Nos anos 1920-30, Monteiro Lobato – que trabalhou no Consulado do Brasil em Nova York, nomeado pelo chanceler Otávio Mangabeira, no governo Washington Luis – tornou-se o maior editor brasileiro, com centenas de milhares de exemplares vendidos, de produção nacional e traduções estrangeiras (p. 75). A Melhoramentos, por exemplo, editou durante décadas a História Geral de Varnhagen, ao passo que a José Olympio continuou fiel a Oliveira Lima e a Joaquim Nabuco, muito por insistência de Gilberto Freyre, que se tornou uma celebridade nessa década. Coleções especializadas tiveram partida nessa mesma época, como a “Brasiliana”, da Companhia Editora Nacional (fundada por Monteiro Lobato) e a “Documentos Brasileiros”, pela José Olympio, ambas com diversos títulos de diplomatas ou sobre temas da diplomacia brasileira.
Entre os diplomatas publicados no Brasil por essas novas editoras figuram Aluízio Azevedo – Editora Briguiet-Garnier –, objeto de um ensaio biográfico, “A literatura como destino”, por Massaud Moisés, na obra de 2001, ademais de Ronald de Carvalho – contemplado com um ensaio sobre sua “vida breve” por Alexei Bueno (pp. 214-229) –, Raul Bopp – “Viagem à beira de Bopp”, por Antonio Carlos Secchin (pp. 252-267) – e Ruy Ribeiro Couto: “o poeta do exílio”, por Afonso Arinos, filho (232-249). Um dos intelectuais diplomatas que já publicavam nos anos 1930 foi Renato Mendonça, autor da obra A influência africana no português do Brasil (uma primeira edição em 1933, com e prefácio de Rodolfo Garcia, da Academia Brasileira de Letras, e uma 2a edição logo após, em 1935, pela Companhia Editora Nacional) e Guimarães Rosa, autor da coletânea de poesias Magma (1936), premiada pela Academia Brasileira de Letras, a que se seguiu um livro de contos no ano seguinte, já com uma temática regional. Naquele mesmo ano, Afonso Arinos publicava O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa: as origens brasileiras da teoria da bondade natural (objeto de inúmeros reedições desde então), ensaio no qual partia de Montaigne para discutir um tema que retornou em Rousseau. Não obstante a abertura do mercado de livros a um público mais educado, em 1938, o diplomata Argeu Guimarães teve de editar, por sua própria conta, o seu Dicionário biobibliográfico brasileiro de diplomacia, política externa e direito internacional (um volume de quase 500 páginas), enquanto Heitor Lyra, que tinha ingressado no Itamaraty em 1916, apresentava o seu História de D. Pedro II (1825-1891), fruto de sua amizade, travada em Paris, com o neto do imperador (3 volumes, 1938-1940).
Um dos intelectuais mais atuantes nessa época, ministro das relações exteriores do governo Vargas na sucessão de Afrânio de Melo Franco, José Carlos de Macedo Soares, publicou na coleção Documentos Brasileiros da José Olympio, um erudito estudo sobre as Fronteiras do Brasil no regime colonial (Rio de Janeiro,1939). Autor de muitas outras obras de cunho político e econômico, Macedo Soares não foi distinguido com um ensaio na obra de 2001, por não fazer parte profissionalmente da “tribo”, mas recebeu um excelente estudo pelo diplomata Guilherme Frazão Conduru, sob os conceitos de “liberal, nacionalista e democrata” (in: Pensamento Diplomático Brasileiro, op. cit., 3º. vol., pp. 753-799). Em 1940, Aluísio Napoleão, ingressado no Itamaraty por concurso do DASP em 1938 e encarregado da organização dos arquivos do Barão do Rio Branco, oferecia uma excelente contribuição à historiografia diplomática, ao publicar, pela Imprensa Nacional, Os Arquivos Particulares do Itamaraty, uma brochura modesta, mas instrutiva aos pesquisadores da área.
Renato de Mendonça, que havia servido, até 1937, no Gabinete do ministro Macedo Soares, ao mesmo tempo em que se desempenhava como representante do Itamaraty no Conselho Brasileiro de Geografia, já tinha em preparo aquela que seria sua máxima obra historiográfica, dedicada ao conterrâneo de Alagoas que foi, possivelmente, o mais longo ministro do Brasil em qualquer legação do Império, Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão do Penedo. A biografia, intitulada Um Diplomata na Corte de Inglaterra, foi publicada apenas em 1942, na Coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional. Três anos depois, o mesmo Mendonça, servindo no México, publicaria pelo Instituto Pan-americano de Geografia e História, em 1945, o primeiro manual de história diplomática do Brasil, republicada muitos anos depois pelo Itamaraty (Paulo Roberto de Almeida, “Renato Mendonça: um pioneiro da história diplomática do Brasil”, in: Renato de Mendonça, História da Política Exterior do Brasil (1500-1825): do período colonial ao reconhecimento do Império. Brasília, Funag, 2013, pp. 11-44).
Desde o início dos anos 1930, ainda estudante de Direito no Largo de S. Francisco, o futuro diplomata (1942) Lauro Escorel já estava publicando suas primeiras críticas literárias, como revelado por Rogério de Souza Farias em seu ensaio sobre esse autor neste livro; em 1936, celebrou, nas páginas de um jornal do Rio de Janeiro, os poetas Augusto Frederico Schmidt e Vinicius de Moraes, como representantes “de novos valores artísticos”. Nos anos 1950, servindo em Roma, teve a sua Introdução ao pensamento político de Maquiavel publicada por seu amigo, o poeta Schmidt (1958, ainda reeditado em 3ª. edição em 2014). Outro diplomata que se exerceu desde cedo na produção intelectual durante os anos da guerra foi José Oswaldo de Meira Penna, autor de Shanghai: aspectos históricos da China moderna, livro publicado com prefácio do então ministro das Relações Exteriores, Pedro Leão Velloso, datado de novembro de 1944: ministro aproveitava para dizer que “o público é injusto com os diplomatas, tidos convencionalmente como indivíduos alheios a tudo o que não sejam fúteis preocupações sociais” (p. 8). Quatro anos depois, Meira Penna reincidia no empreendimento praticamente inédito na diplomacia brasileira de estudar povos orientais, com um novo livro: O sonho de Sarumoto: o romance da história japonesa (Rio de Janeiro: Borsoi, 1948).
No entanto, poucos diplomatas escritores – como Meira Penna, ou Roberto Campos – se dedicavam a temas de história, política ou economia. A maior parte preferia se dedicar à literatura, a exemplo daqueles poetas da primeira metade do século XX. O maior deles, na verdade, se dedicou a uma literatura especial, Guimarães Rosa, construtor de uma linguagem única na literatura, e mesmo na terminologia e lexicografia do Português brasileiro, criando o seu vocabulário a partir do linguajar próprio dos tropeiros e criadores de Minas Gerais, o seu estado natal, enquadrado no vasto planalto rústico do interior. Outro escritor, Vinicius de Moraes, já era um poeta reconhecido antes de ingressar na diplomacia; mais adiante, ele se converteria num dos mais importantes compositores de música popular – quando foi compulsoriamente aposentado pelo regime militar –, e o único, na obra de 2001, a merecer dois ensaios, um enquanto poeta, o segundo na condição de compositor popular. Vinicius também foi o roteirista do famoso filme de Marcel Camus, Orphée Noir (1959), feito a partir de sua peça teatral Orfeu da Conceição. Como vários outros colegas, Vinicius contribuiu bem mais à cultura brasileira enquanto homem de letras do que como redator de expedientes oficiais nos meandros burocráticos da diplomacia oficial.
Cronistas, romancistas, poetas ou prosadores combinando seu engenho e arte à produção de telegramas e notas diplomáticas podem, ou não, ter deixado nos arquivos esquecidos do ministério das Relações exteriores belos ofícios redigidos num português excelente, mas que foram destinados, na maior parte dos casos, à crítica silenciosa das traças, ou aos maços das estantes, bem mais, em todo caso, do que à leitura dos colegas ou inclusão nos relatórios destinados ao Congresso. Eles se distinguiram na sociedade, do Brasil ou alhures, enquanto intelectuais de renome, não enquanto burocratas da diplomacia; fizeram mais para o fortalecimento da cultura brasileira nos recantos silenciosos de suas bibliotecas pessoais do que nos escritórios austeros do ministério, ou nos auditórios elegantes de negociações diplomáticas.
(...)
No limiar das comemorações pelos dois séculos de nação independente, em 2022, o Itamaraty, pelos seus representantes mais distinguidos participou intensamente da construção da nação, de acordo com o argumento já expresso no título da obra que já nasceu clássica do embaixador Rubens Ricupero, um dos colaboradores a este livro – A Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016 (Rio de Janeiro: Versal, 2017) –, justifica-se plenamente a homenagem que cabe prestar a todos os escritores diplomáticos, aos diplomatas intelectuais que participaram intensamente desse trabalho de Nation building, no terreno das letras e das humanidades ao longo dos últimos dois séculos. Muitos dos diplomatas apontados como grandes “servidores da diplomacia cultural” brasileira já eram brilhantes quando ingressaram no Itamaraty, ou se tornaram brilhantes concomitantemente, ou simultaneamente, talvez até concorrentemente ao seu trabalho como diplomatas, não porque precisassem estritamente do Itamaraty para criar as obras que os distinguiram.
Se fossemos examinar suas “fichas de serviço”, se elas de fato existissem, certamente se poderia ressaltar produções diplomáticas estrito senso, mas o que mais os distinguiu foi precisamente a produção cultural, de natureza acadêmica ou de outros tipos. Suas obras até poderiam ter sido elaboradoras em quaisquer outras atividades em que eles se exercessem: elas se somam ao trabalho desenvolvido na Secretaria de Estado ou em postos no exterior, mas não necessariamente com ele se se confundem. Sua produção enquanto intelectuais na diplomacia possui um valor superior, enquanto obras do espírito, feitas voluntariamente e muitas vezes à margem da diplomacia do Itamaraty. Não há qualquer dúvida de que esses produtores de conhecimento prático e de prazer literário agregaram, e muito, à cultura do Brasil, contribuindo para enriquecer e expandir o prestígio do Itamaraty no próprio país e no exterior.
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 24/07/2019