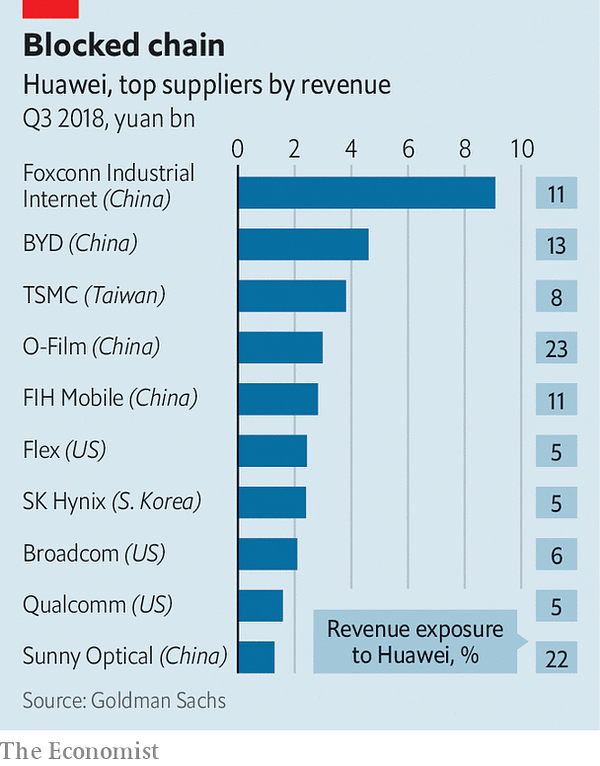Como sempre fazemos quando temos tempo e estamos pela região, para compras ou a lazer, Carmen Lícia e eu costumamos frequentar a biblioteca pública de West Hartford, pequena, para os padrões das bibliotecas universitárias, mas enorme, para os padrões das pequenas cidades americanas de interior. Na verdade, ela não é bem de interior, uma vez que está adjacente à capital de Connecticut, Hartford, e é onde mora boa parte da comunidade afluente que trabalha nesta região: belas casas, excelentes restaurantes, supermercados e lojas superiores à média, e esta boa biblioteca, que leva o nome do primeiro dicionarista da língua americana (sim, ele dicionarizou vários coloquialismos do inglês da América) e provavelmente o segundo da língua inglesa: Noah Webster, que é, aliás, o nome de um famoso dicionário, tradicional, mas ainda hoje vibrante e atualizado, nos mais diversos formatos.
Não se trata de uma biblioteca de pesquisa ou de estudo, mas daquilo que se pode tranquilamente chamar de biblioteca comunitária, embora muito bem guarnecida dos grandes títulos da literatura americana e universal, e podendo servir também para pesquisas escolares. Eu costumo frequentá-la sobretudo para emprestar os novos livros que acabam de ser lançados, e que ainda custam mais de 30 dólares no formato hard cover, antes que a edição brochura os torne mais acessíveis a orçamentos controlados. Pois foi com essa intenção que lá fomos no último domingo. Saí de lá com dois livros novos (que só podem ser emprestados por 15 dias) e com um antigo, de meio século atrás, mas que me interessava consultar: uma edição da Modern Library contendo as duas grandes obras políticas de Maquiavel, O Príncipe e Os Discursos(assim, não mais, ou seja, Tito Lívio reinterpretado pelo grande pensador florentino).
Nada de original neste último livro, a não ser a bela introdução a Maquiavel pelo professor Max Lerner (datada de março de 1940 e de maio de 1950), com alguma bibliografia clássica sobre o grande patriota italiano, inclusive a recomendação, que vou buscar, de ler a introdução ao Príncipe por Lord Acton, feita originalmente para uma edição italiana de 1891, depois incluída no volume editado por John N. Figgis e Reginald V Laurence, The History of Freedom and Other Essays (London: 1907). Para este eu tenho de recorrer à biblioteca da Universidade de Yale, onde aliás tenho de ir para devolver vários outros livros que retirei sobre Bretton Woods. Provavelmente na próxima terça-feira, quando vou para uma palestra sobre a Rússia e Ocidente, por um diplomata do Department of State encarregado do setor.
Mas volto aos dois livros novos que retirei, ambos conectados ao meu período atual de pesquisas, a primeira metade do século XX e as relações internacionais do Brasil na primeira república e na era Vargas. Eles são, respectivamente, os seguintes:
- Harvey J. Kaye: The Fight for the Four Freedoms: What Made FDR and the Greatest Generation Truly Great (New York: Simon & Schuster, 2014, 292 p.).
- Neill Lochery: Brazil: The Fortunes of War, World War II and the Making of Modern Brazil (New York: Basic Books, 2014, 314 p.)
O primeiro livro é um exemplo evidente do chamado pensamento liberal americano, ou seja, um autor socialdemocrata, praticamente de esquerda, em todo caso, um rooseveltiano convencido e um new dealer engajado, se o New Deal ainda estivesse em vigor (mas ele acredita que Obama está nessa linha, embora não tenha feito tanto quanto deveria, contra as corporações e a oposição reacionária). Quando eu li, logo na Introdução, que os Estados Unidos estiveram submetidos, nos trinta anos anteriores, às corporate priorities e ao private greed, eu pensei que o autor estivesse brincando, mas é isso mesmo: ele acha que a grande geração de Roosevelt teve de enfrentar uma powerful conservative, reactionaire opposition, para salvar o país da economic ruin and political oblivion. Deve ter sido isso mesmo, mas eu não estava acostumado com uma história em preto e branco desde algum tempo.
Em todo caso, se trata de uma boa história, feita a partir dos papeis deixados por FDR em seus arquivos de Hyde Park, sobre a construção dos Estados Unidos como hoje eles se apresentam ao mundo: não mais isolacionistas, não mais voltados para si mesmos, mas engajados no mundo, e mais igualitários (ou pelo menos deveria ser assim) e mais democráticos. O eixo central é dado obviamente pelas quatro liberdades que Roosevelt moldou logo ao início da guerra europeia, e que ele proclamou em sua mensagem ao Congresso de janeiro de 1941, logo após conquistar o seu terceiro mandato e antes, portanto, que os Estados Unidos fossem atacados e entrassem, finalmente, na guerra (da qual eles já vinham participando pelo apoio irresoluto concedido ao Reino Unido, praticamente sozinho no enfrentamento da máquina de guerra de Hitler).
Os quatro grandes conceitos foram expostos com invulgar clareza no seu State of the Union, na tarde do dia 6 de janeiro de 1941, em face de todo o Congresso reunido para ouvi-lo. Roosevelt, que já vinha procurando superar as resistências isolacionistas do Congresso, para converter os EUA no “Arsenal da Democracia”, insistiu na tecla de que seria ilusório tentar esconder-se atrás de grandes muralhas defensivas, daí a necessidade de preparar adequadamente a nação para qualquer eventualidade. Ele então proclamou a sua visão do mundo, os grandes princípios em torno dos quais todos os americanos estariam unidos, não apenas para si mesmos, mas para todo o mundo:
“In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four essential freedoms. The first is freedom of speech and expression … The second is freedom of every person to worship God in his own way … The third is freedom from want … The fourth is freedom from fear…” E ele acrescentou logo em seguida: “That is no vision of a distant millennium. It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation.” (p. 75)
Esses princípios seriam inscritos na Carta do Atlântico, que Roosevelt assinou com Winston Churchill, em agosto seguinte, nas costas do Canadá, e foram consagrados depois na carta das nações unidas, no ano seguinte; eles constituíram uma espécie de “New Deal for the world”, como afirmou a historiadora Elizabeth Borgwardt p. 88). O livro dela (citado em nota da p. 239), é este aqui: A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005).
O Brasil viria a assinar a carta das nações unidas logo em seguida ao seu engajamento ao lado dos Estados Unidos no esforço de guerra, no seguimento do ataque japonês a Pearl Harbor e da declaração de guerra pela Alemanha, o que determinou o rompimento de relações diplomáticas do Brasil com as potências do Eixo, uma decisão que leva sobretudo a marca de Oswaldo Aranha. Vargas e o seu chanceler de 1938 até 1944 estão justamente no centro do segundo livro aqui registrado, pelo historiador britânico Neill Lochery, professor de Mediterranean and Middle Eastern Studies do College University of London, já autor de um livro sobre a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre o papel de Lisboa, enquanto centro de intrigas, espionagem e negociações durante todo o decorrer da guerra.
A Introdução do livro já começa destacando o famoso documento-guia que Oswaldo Aranha preparou para as conversas de Vargas com Roosevelt, no encontro que ambos tiveram no Rio Grande do Norte, em janeiro de 1943, uma lista de objetivos de guerra que o Brasil declarava aos EUA, mas que também podem ser vistos como uma espécie de planejamento estratégico feito pelo grande chanceler para assegurar uma posição de realce para o Brasil na ordem internacional que estaria sendo desenhada pouco mais à frente para assegurar a paz e reconstruir o mundo. Seu caráter de lista de demandas não esconde a visão grandiosa que Oswaldo Aranha mantinha quanto ao papel do Brasil naquele mundo em efervescência. Vale a pena citá-las, uma por uma, e verificar, hoje, onde estamos, ou como ficamos, em relação a cada um dos pontos. O autor cita a partir do artigo de Frank D. McCann, um conhecido historiador brasilianista do exército brasileiro e da aliança militar dos anos de guerra: “Brazil and World War II: The Forgotten Ally. What Did You Do in the War, Zé Carioca?”,
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 6, n. 2 (Tel Aviv University, July-December 1995, 35-70; mas o link citado à p. 309 deve ser substituído por este aqui:
http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=283). Antes de reproduzir a lista, vale retomar os argumentos iniciais de Aranha.
Oswaldo Aranha acreditava, pragmaticamente, que a política tradicional do Brasil, de apoiar os Estados Unidos no mundo, em troca do seu apoio na América do Sul, deveria ser mantida “até a vitória das armas americanas na guerra e até a vitória e a consolidação dos ideais americanos na paz.” Os Estados Unidos iriam liderar o mundo quando a paz fosse restaurada e seria um grave erro se o Brasil não estivesse do seu lado. Ambas nações eram “cósmicas e universais”, com características continentais e globais. Ele tinha plena consciência de que o Brasil era uma “nação economicamente e militarmente fraca”, mas o seu crescimento natural, ou as migrações do pós-guerra, lhe dariam o capital e a população que o fariam tornar-se, “inevitavelmente um dos grandes poderes políticos do mundo”. A sua lista combinava objetivos imediatos e de mais longo prazo, como reproduzida no artigo de McCann e no livro de Lochery (p. xv):
- a better position in world politics;
- consolidation of its superiority in South America;
- a more secure and intimate cooperation with the United States;
- greater influence over Portugal and its possessions;
- development of maritime power;
- development of air power;
- development of heavy industries;
- creation of war industries;
- creation of industries -agricultural, extractive, and light mineral- complementary to those of the United States and essential for world reconstruction;
- expansion of Brazil’s railways and highways for economic and strategic purposes;
- exploration for essential combustible fuels.
Observando-se a lista de Oswaldo Aranha, com os olhos de 2014, o que poderia ser dito dos seus objetivos de guerra, do ponto de vista do atingimento de cada um deles em tempos de paz e nos setenta anos decorridos desde a sua redação? Registro aqui que os argumentos dos próximos parágrafos são meus, e não constam do livro de Lochery.
Uma melhor posição na política mundial? Um objetivo certamente avançado depois da democratização e da estabilização macroeconômica, esta última iniciada sob Fernando Henrique Cardoso no governo Itamar Franco, e consolidada nos dois governos FHC, o que foi plenamente aproveitado pelo governo Lula para desenvolver uma diplomacia ativa, beneficiado ainda pelo enorme impulso dado pela demanda chinesa por produtos brasileiros de exportação para acumular alguma riqueza e projetar influência na região e no mundo. Não é seguro que essa posição tenha sido consolidada com a visível retração registrada no período recente, mas também por iniciativas pouco avisadas ou altamente controversas, ainda sob Lula e mantidas por sua sucessora, com alianças dúbias com regimes pouco recomendáveis, e uma retração formidável na defesa da democracia e dos direitos humanos nos planos regional e mundial. Talvez se consiga, novamente, num futuro indefinido, uma “melhor posição na política mundial”, mas isso vai depender, seriamente, de uma melhoria na qualidade da política externa, hoje dominada por companheiros viciados numa visão do mundo anacrônica e distorcida quanto aos reais interesses do Brasil.
Uma consolidação da “superioridade” brasileira na América do Sul? Trata-se bem mais de uma ilusão do que de um objetivo, mas ele deve ser visto numa outra perspectiva, que era a de Oswaldo Aranha, em face de uma Argentina superior nos planos econômico e militar, e que tinha, sim, uma vocação de afirmar sua influência no entorno imediato e nas relações com as grandes potências, a Grã-Bretanha e os próprios Estados Unidos. A Argentina era o “inimigo principal” em qualquer cálculo que os militares brasileiros pudessem fazem no plano estratégico e no contexto tático, e os maiores recursos de segurança e defesa, não necessariamente ofensivos, estavam dispostos ao longo das fronteiras meridionais. Apenas por isso Aranha colocou esse objetivo em segundo lugar, e não necessariamente para impor uma liderança imperial do Brasil na região; a superioridade deveria ser vista aqui apenas como uma agregação suficiente de forças para tornar o país “inatacável” por qualquer vizinho, a começar pelo mais “íntimo inimigo”. Essa situação está agora completamente superada, mas só os ingênuos e os amadores em diplomacia – entre eles vários companheiros, mas também alguns homens de negócios – falam em liderança brasileira na região; para o Itamaraty, esse tema é tabu, embora haja a percepção de que a consolidação de um espaço econômico integrado, baseado em abertura de mercados e intensa cooperação em projetos de integração física, seriam suficientes, junto com a afirmação plena dos valores da democracia e dos direitos humanos, para assegurar essa liderança, que seria natural, e não imposta. Mas, parece que estamos recuando em todas essas frentes, para maior tristeza dos diplomatas profissionais e dos liberais econômicos (que são poucos, mas ainda existem em nosso país).
Uma cooperação mais íntima e mais segura com os Estados Unidos? Difícil dizer em quais termos, pois impérios universais não mantém relações de igual para igual nem mesmo com seus mais “íntimos” aliados. O Brasil sempre manteve desconfiança em relação ao gigante do norte, mesmo nos anos de aliança não escrita dos tempos do Barão, e naqueles de aliança militar no imediato pós-guerra, o que só fez crescer nos anos seguintes, com os desejos dos militares – e de vários diplomatas – de uma rápida nuclearização do Brasil, em face dos esforços americanos de contenção da proliferação nessa área (e não apenas como cálculo estratégico, e sim também em função de uma visão do mundo menos belicoso, digamos assim). Essa cooperação sempre foi difícil e não parece que tenha se tornado mais plausível no período recente, muito pelo contrário (já que o antiamericanismo dos companheiros salta aos olhos de qualquer neófito). Este não pode ser um objetivo em si, mas é uma possibilidade, dentro de certas condições e circunstâncias, que provavelmente vão exigir maior grau de capacitação brasileira para ser colocado novamente na agenda bilateral; mas, paradoxalmente, parece que o Brasil só vai se capacitar mais rapidamente por meio de uma “cooperação mais íntima e mais segura com os Estados Unidos”, o que pode parecer bizarro a mais de um título.
O quarto objetivo, com respeito a Portugal e suas “possessões”, mudou de caráter, mas essa influência é certamente maior hoje do que foi no passado colonial, e tende a se tornar ainda mais relevante, inclusive em direção de Portugal, embora o lento crescimento e a perda de competitividade dos últimos anos tenham diminuído o ímpeto brasileiro na “reconquista” da antiga metrópole.
Os objetivos 5 a 11, são todos eles instrumentais, alinhados numa época em que o Brasil era um país economicamente atrasado, em todas as áreas, e se esperava que os Estados Unidos financiassem, e fornecessem a tecnologia, para nossa capacitação em todas elas. Aos trancos e barrancos fomos avançando nas décadas seguintes, tanto com os fluxos de investimentos estrangeiros e de financiamento externo, quanto com a cooperação bilateral nas áreas científicas e tecnológicas, um processo que continua sem cessar, tanto na vertente pública, quanto nas diversas interfaces privadas. Em alguns ramos industriais, e certamente em quase todo o setor agrícola, o Brasil se tornou um país avançado, até mesmo um “killer”, em matéria de competitividade agrícola, e isso tem tanto a ver com a cooperação externa (basicamente americana), quanto com a construção de uma base própria de capital humano e científico. Não se pode dizer que tenhamos nos tornado uma formidável potência militar, mas o que existe garante um mínimo de dissuasão, quando não de projeção externa em dimensões limitadas. Para se ter mais nessa área, seria preciso convencer a sociedade a aceitar mais gastos militares, ou com segurança, de modo geral, o que não parece compatível com necessidades bem mais prementes em várias áreas sociais. Aliás, o Brasil não é mais forte militarmente não porque invista pouco nessa área, mas porque seus recursos humanos são deficientes de maneira geral, na inovação tecnológica em especial. Trata-se de um resultado de políticas erradas na área educacional, que não têm nada a ver com debilidades próprias do establishment militar.
Bem, mas o livro de Neill Lochery, Brazil: The Fortunes of War, não trata dessas questões senão em sua introdução e conclusões, pois o essencial do livro está dedicado ao envolvimento do Brasil na guerra, o que é feito de maneira minuciosa e competente. No conjunto, os dois livros constituem leitura muito agradável e, nos dois casos, altamente instrutiva quanto aos dois temas foco de cada um Kaye é bem mais ideológico, no seu rooseveltismo radical, do que Lochery, um inglês equilibrado e bastante objetivo em suas considerações analíticas sobre o Brasil. Seu livro me confirmou a impressão, que já tenho desde longos anos, de que o Brasil perdeu uma enorme oportunidade ao não ter tido uma personalidade como Oswaldo Aranha na liderança efetiva do país, em algumas das chances em que a história poderia ter aberto uma janela para ele: em 1934, em 1937, em 1945, em 1950, ou mesmo em 1955; em todas elas ele poderia, hipoteticamente, estar à frente de uma coalizão liberal para fazer do Brasil um país muito diferente do que foi, sob a condução de políticos populistas, de líderes militares muito próximos do corporatismo de corte fascista, ou de incompetentes manifestos, como podem ter sido Dutra, Goulart ou mesmo alguns outros em fases subsequentes. Oswaldo Aranha foi muito obsequioso com seu chefe e amigo, mas poderia ter continuado a ser a “estrela da revolução”, que foi na coalizão liberal de 1930, e que depois se perdeu no labirinto do varguismo maquiavélico. Foi uma pena para o país, uma pena para todos nós.
Paulo Roberto de Almeida é diplomata e professor no Centro Universitário de Brasília – Uniceub (pralmeida@mac.com ).