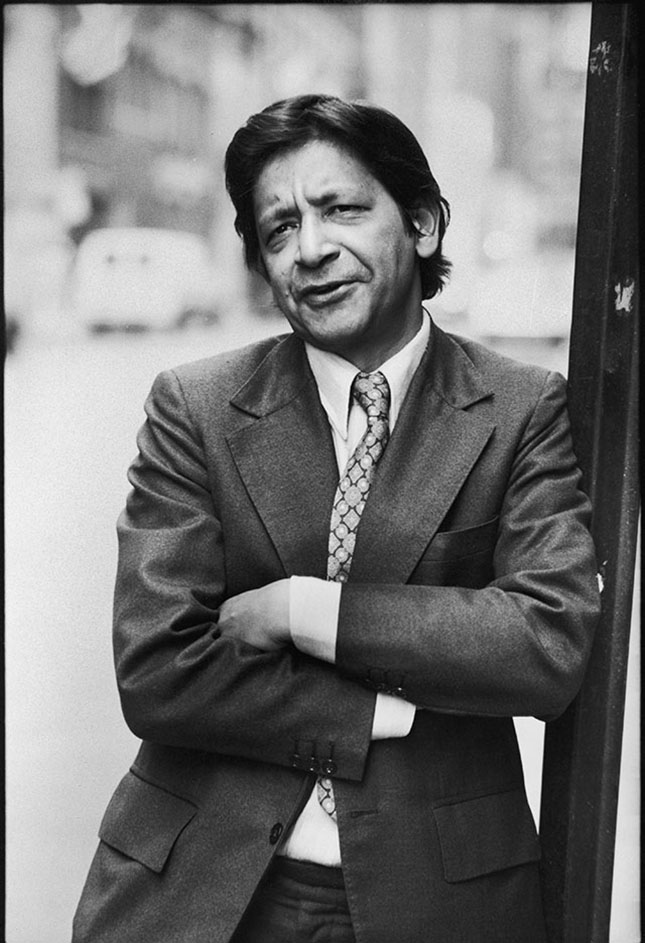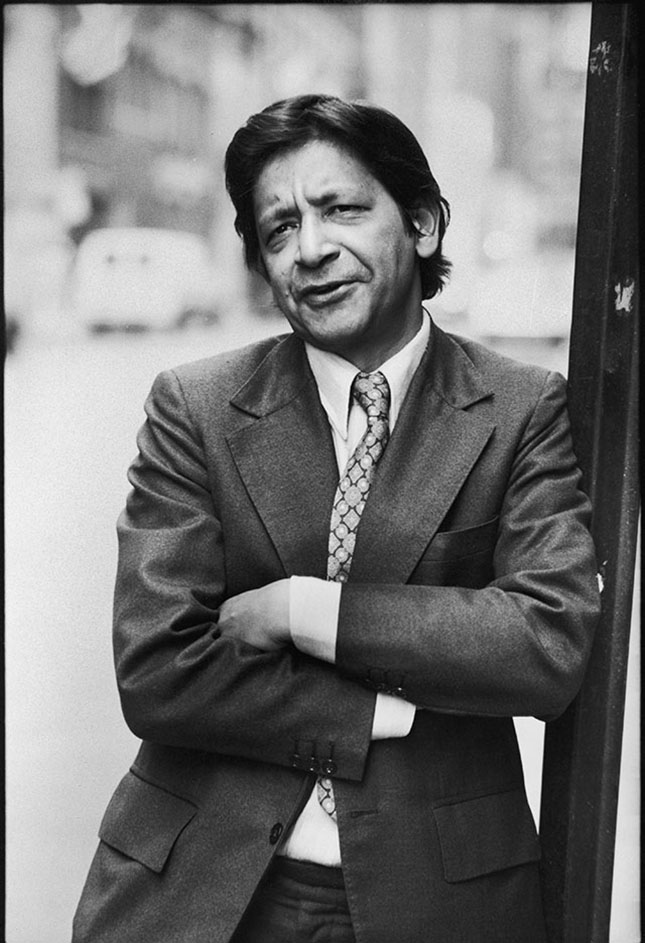Em busca do livro perdido: homenagem a Rubens Ricupero
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 22 de setembro de 2017
Diretor do Instituto de Pesquisa de Relações
Internacionais, IPRI-Funag
[Saudação a Rubens Ricupero; um reconhecimento e uma
dívida pendente]
Em busca do livro perdido
À la recherche du temps perdu é um roman fleuve
de Marcel Proust, escrito entre 1906 e 1922, publicado em sete tomos entre 1913
e 1922, cujos três últimos volumes apareceram depois da morte do autor. Mais do
que a descrição de uma sequência de fatos e de acontecimentos enfeixados entre essas
datas, essa obra de Proust representa uma reflexão sobre a literatura, sobre a
memória, sobre o tempo.
Não pretendo, nesta
pequena homenagem ao embaixador Rubens Ricupero, mimetizar o esforço monumental
de Proust, como uma espécie de compensação pela inexistência de um livro, mas
apenas em um único volume, que deveria ter precedido, de alguns anos, este
ensaio “fleuve” que é hoje apresentado no Itamaraty pelo seu autor. O
que desejo, nesta oportunidade, é, em primeiro lugar, formular um pedido de
desculpas, efetuar, depois, um reconhecimento, e, por fim, confirmar que tenho,
acho que todos temos, uma dívida, ainda a ser reparada em favor de um mestre,
um autor, um professor, um colega de carreira que, reconhecidamente, honra o
Itamaraty e suas tradições de excelência, encarnadas da melhor forma possível,
ao longo das últimas seis décadas, por um dos nossos intelectuais mais
distinguidos.
Por que digo isto, e por
que começo esta homenagem a Ricupero, evocando Marcel Proust e seu roman
fleuve em busca do tempo
perdido? É porque eu também estou em busca do livro perdido, e por isso mesmo
formulo, em primeiro lugar, um pedido de desculpas. Mais de cinco anos atrás,
formulei um projeto, apresentado pouco depois a Gelson Fonseca e prontamente
aceito sob a forma de uma coedição, de fazer um livro em homenagem ao mestre, tentativamente
chamado “História, diplomacia e comércio internacional: ensaios em homenagem a
Rubens Ricupero”. Esse projeto tinha até uma completa organização, em duas
dúzias de capítulos divididos em cinco partes: 1) História: a mais constante
das companhias; 2) Diplomacia: princípios, regras e valores; 3) Políticas
Públicas: formulação e execução; 4) Comércio e desenvolvimento nos contextos
regional e internacional, e 5) Globalização: problemas e perspectivas. Eu ainda
me tinha reservado a confecção de uma introdução e de dois capítulos finais, o
primeiro uma síntese pessoal sobre o professor e o homem público, o
segundo, de cunho conclusivo, um ensaio reflexivo e interpretativo sobre a vida
e o pensamento de Rubens Ricupero. Nada disso foi feito, ou o foi apenas em
parte, daí este meu primeiro pedido de desculpas que sou agora obrigado a
oferecer.
Esse era o projeto original que, acompanhado de uma
carta convite, assinada por mim e pelo embaixador Gelson Fonseca, foi encaminhado
a duas dezenas de amigos, de admiradores e colegas do embaixador Ricupero, com
o nosso pedido singelo de que oferecessem, em tempo hábil, suas contribuições a
um volume de ensaios que se encaixaria naquela categoria, amplamente conhecida
nos meios acadêmicos, que os alemães chamam de Festschrift, os franceses pelo
qualificativo de Mélanges
offertes à..., e,
na tradição inglesa e americana, pelo tradicional Essays in Honor of… Pois bem,
quero apresentar aqui o nosso humilde pedido de desculpas, por não termos sido
capazes de apresentar, muito por falta de cooperação dos convidados, mas também
por nossa própria negligência, esse projetado livro que deveria ter precedido,
de alguns anos, este que agora vem a público, do próprio autor, e que merece,
legitimamente, uma justa homenagem de todos nós. Mas, este não era o livro que eu
teria gostado de fazer, de apresentar e de oferecer aos interessados no devido
tempo, hélas perdido.
Desejo, em segundo lugar, efetuar um reconhecimento, e
creio interpretar a unanimidade dos presentes, no sentido em que, mais do que
simplesmente prestar uma homenagem ao maior intelectual da carreira, dizer que somos
nós que agradecemos esta oportunidade, a chance e o benefício de recebermos agora,
este livro que representa a mais bela síntese sobre o que tem sido, ao longo de
dois séculos ou mais, nossa própria história, nossa participação na construção
da nação, nosso papel em episódios decisivos de uma trajetória bissecular,
nossa contribuição para a edificação, sempre tentativa, de um país, de uma
sociedade, que provavelmente gostaríamos fosse mais desenvolvida, mais justa,
mais inclusiva, e mais participativa no chamado concerto das nações, mas que é
esta que hoje contemplamos um pouco apreensivos quanto ao seu estado presente e
seus rumos futuros. Independentemente do balanço que se faça – e o faremos a
caminho do bicentenário –, esta é a nação da qual somos representantes
mandatados, para a qual contribuímos com nosso quinhão de esforços voltados para
a construção – nos termos da sociologia germânica – de uma Gemeinschaft que certamente imaginávamos um pouco mais solidária e
mais avançada do que esta que agora temos, se tivéssemos tido a possibilidade
de consolidar uma Wirtschaft
compatível com as justas aspirações do seu povo, ao longo destes dois séculos.
Se não o conseguimos, devemos pelo menos reconhecer
que esta obra, A Diplomacia na Construção
da Nação, 1750-2016, representa a melhor síntese sobre esse itinerário – constante,
contínuo e denodado – de esforços de várias gerações de diplomatas e de homens
públicos que honraram a nação, e que tentaram dela fazer, senão um país ideal,
pelo menos um Estado de bem-estar em benefício de seus próprios cidadãos e
perfeitamente cooperativo no plano internacional, em prol da paz, da segurança,
do desenvolvimento de todos os povos e nações. Somos nós, portanto, que devemos
agradecer ao embaixador Rubens Ricupero, por nos ter oferecido uma rationale histórica dessa longa
trajetória que vai das negociações do Tratado de Madri por Alexandre de Gusmão
até as angústias e dúvidas do tempo presente, quanto às possibilidades de
sermos capazes de honrar os pais fundadores da nação, e também nossos
antecessores na diplomacia profissional, dando continuidade à obra ainda inacabada
de construção da nação, preservando nossos mais sagrados princípios e valores,
os da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, do tratamento
humanitário e igualitário de todos os brasileiros.
Um livro apenas temporariamente perdido
É comum, no ambiente
acadêmico, a organização de volumes comemorativos em homenagem àqueles que se
distinguiram em carreiras especialmente bem sucedidas na docência e na pesquisa
de uma área qualquer; a prática, é verdade, é bem mais usual e frequente nas humanidades
do que nas ciências exatas. O objetivo é justamente o de se render tributo,
geralmente por parte de colegas, a quem soube exercer-se com talento e
dedicação nas diversas vertentes e feituras do magistério e da pesquisa ao
longo de todo um itinerário que costuma estender por uma geração inteira, senão
mais, alcançando, ano a ano, dezenas de graduações acadêmicas e de cursos
complementares, com possível e não rara influência fora do ambiente
estritamente universitário.
Esses volumes são menos
conhecidos fora da academia, isto é, nas corporações de ofício que também
possuem no trabalho intelectual a base fundamental de suas reflexões e de suas práticas:
estas seriam, por exemplo, a magistratura, os encarregados de políticas
públicas, como os funcionários dos tesouros nacionais, dos bancos centrais e várias
outras na burocracia oficial. Poderiam também merecer tais distinções algumas
categorias do “mandarinato estatal” que, em diversos casos, possuem
instituições de ensino, de formação e treinamento, bibliotecas especializadas
e, por vezes até, um corpo estável de professores, dedicados a instruir e
aperfeiçoar, nos ossos daquele ofício, os novos recrutas e os funcionários
concursados da profissão em causa.
Este deveria ser também o
caso da diplomacia, uma carreira de Estado altamente intelectualizada, dotada
de instituições próprias de seleção, recrutamento e treinamento, com
professores designados, dentro e fora da carreira, para o processo de
socialização, homogeneização e aperfeiçoamento dos admitidos na carreira. A
mais forte razão, os diplomatas são, junto com os soldados e marinheiros,
agentes do Estado por excelência, dos quais se exige, justamente a mais alta
qualificação técnica e intelectual na defesa dos interesses do país e na
consecução dos grandes objetivos nacionais. De fato, temos notícia de que o
Instituto Rio Branco, que exerce, desde 1945, o monopólio nessas tarefas, ou o
braço editorial do Itamaraty, a Fundação Alexandre de Gusmão, têm se esforçado
em prestar uma justa homenagem, sob diversas formas, aos mais brilhantes ou
distinguidos mentores e profissionais da carreira, por exemplo na modalidade de
“leituras públicas” enfeixadas sob a rubrica de “Percursos Diplomáticos” que
criamos com o Diretor-Geral do Instituto Rio Branco, ou ainda pela publicação ocasional
de diversos volumes de compilação de escritos esparsos ou das memórias de um ou
outro dentre os diplomatas que deixaram suas marcas intelectuais nesta Casa.
Volumes comemorativos do
sesquicentenário do nascimento do ícone ímpar da diplomacia brasileira, de sua
entrada em funções, em 1902, e de sua morte no exercício do cargo, dez anos
depois, foram publicados pela Funag, em 1995 – aliás, pelo próprio Ricupero,
uma fotobiografia do Barão do Rio Branco, com João Hermes Pereira de Araujo –, e
em 2002 e 2012, respectivamente. Mas não se tratou, obviamente, de obras
comparáveis, no espírito e no estilo, a um Festschrift,
como o que reconhecemos deveria ser feito em homenagem a Ricupero. Um exercício
vagamente assimilável a esse gênero – mas exercendo-se apenas em direção de
personagens falecidos – foi constituído pela obra organizada em 2001 pelo
diplomata e acadêmico Alberto da Costa e Silva, em torno da presença de figuras
relevantes do Itamaraty na cultura brasileira,
certamente título ambicioso, mas que permitiu registrar a registrar a
trajetória de um número seleto de diplomatas intelectuais, desparecidos, que se
exerceram com talento nas letras e nas humanidades, em geral.
Embora reconhecendo o
mérito do empreendimento, foi como se a iniciativa dissesse algo do gênero:
“Aos mortos, todas as nossas homenagens; aos vivos, mais um pouco de paciência:
contentem-se, por enquanto, com algumas medalhinhas, antes que possamos nos
ocupar, no devido tempo, de seus despojos literários”. Existe um duplo risco no
empreendimento: por um lado, os mortos, a exemplo de Varnhagen, Edmundo Penna
Barbosa da Silva, ou Oswaldo Aranha – todos eles contemplados em livros editados
recentemente pela Funag – já não podem reclamar do que contarmos ou escrevermos
sobre eles. Mas se fossemos, por outro lado, nos ocupar de alguns muito vivos, pessoas
do presente, dotadas de certa influência, sempre se pode correr o risco de cair
no conjuntural ou, pior, sofrer pressão política indevida, para que elas sejam
entronizadas como supostos arautos geniais da verdadeira doutrina social, ou
até mesmo da melhor prática diplomática. Em relação aos desaparecidos existe hipoteticamente
o risco de cair em exagerados elogios póstumos, atribuindo-lhes todas as
virtudes e nenhum vício; no segundo caso, o perigo seria o de fazer algum tipo
de panegírico aos poderosos do momento, que podem ser ególatras compulsivos, a
exemplo de certo “filho do Brasil”.
Mas aqui entra um nicho
histórico em favor de Rubens Ricupero, em relação ao qual, dado o testemunho concreto
de sua imensa obra já publicada, não se corre nenhum risco de incorrer numa ou
noutra tentação. O sentido de uma verdadeira homenagem, e acredito que o
fazemos agora, é o de prestar um justo reconhecimento a quem tanto contribuiu
para o nosso próprio enriquecimento intelectual, para a valorização desta Casa e
a de nossa carreira e para o engrandecimento da nação. Estamos, portanto, nos
antecipando à inevitável passagem do tempo, prestando uma homenagem em vida a
um dos nossos mais distintos intelectuais e homens públicos. Ao fazê-lo, cabe, em
terceiro lugar, o reconhecimento desta dívida, que ainda precisa ser reparada,
e o será, no devido tempo, esperamos não mais perdido.
O sentido de uma justa homenagem
Por que decidimos romper
com esta sadia precaução e prestar uma homenagem a um colega de carreira ainda
em plena e intensa produção intelectual? Poderíamos alinhar parágrafos e mais
parágrafos de justificativas e explicações, mas dispensamo-nos da redundância.
Bastaria o atestado, informal, de quem conhece o personagem e sua produção.
Quem quer que tenha acompanhado a diplomacia brasileira nos últimos cinquenta
anos, quem sorveu suas aulas na Universidade de Brasília ou no Instituto Rio
Branco, quem assistiu a qualquer uma de suas centenas de palestras em algum
canto do mundo, quem percorreu, nas últimas décadas, as páginas dos jornais
mais importantes do país, nas seções de economia ou de atualidade
internacional, quem acompanhou a saga da implementação do Plano Real, ou quem
cotidianamente segue a discussão bem informada e responsável, em quaisquer
veículos, em torno dos temas do comércio, do meio ambiente, os diplomáticos e,
de modo geral, os de relações internacionais, ou de qualquer outro assunto,
quem já leu seus artigos e ensaios, ouviu suas opiniões, assistiu a entrevistas
de Rubens Ricupero, qualquer um desses pode responder melhor do que os
organizadores e colaboradores de uma coletânea ainda em preparação sobre a razão
desta homenagem, sendo apenas de se estranhar o atraso na tarefa. Não parece
caber, assim, qualquer justificativa para a presente sessão de homenagem: o
personagem aqui presente, e suas produções, constituem sua própria mensagem e sua
apresentação, sem qualquer necessidade de campanha publicitária.
Esta iniciativa, preliminar,
portanto, a um verdadeiro Festschrift,
deve ser vista no sentido preciso que possui um Festschrift: uma homenagem, singela, mas sincera, de amigos e
admiradores de Rubens Ricupero a um dos mais distinguidos diplomatas e homens
públicos do Brasil do último meio século e um pouco além. Os elogios que
podemos fazer em sua intenção deveriam tocar pelo menos alguns – senão todos – os
domínios da inteligência e do pensamento intelectual que percorreu e frequentou
nosso personagem: todos os aqui presentes certamente possuem ou exibem, em
relação a ele, aquilo que Goethe chamou de “afinidades eletivas”. Este é o
sentido de nossa sincera e justa homenagem, nosso reconhecimento pela obra
intelectual que Ricupero construiu em benefício da nossa diplomacia, neste
exercício que eu mesmo chamaria, numa pequena inversão do conceito de Goethe,
de “escolhas afetivas”. Este é o sentido desta homenagem, que fazemos ao
mestre, com carinho.
Nosso mais sincero
reconhecimento ao embaixador Rubens Ricupero.
Cheers!
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 22 de setembro de 2017