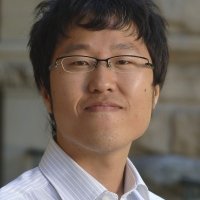Nova divulgação deste "manifesto", redigido em março, mas corrigindo uma distração relevante que estava inscrita na versão anterior: a troca de bolchevique por menchevique, o que faz toda a diferença. Outra razão desta nova divulgação é o fato de que a pandemia GLOBAL, que se acelerou nas duas últimas semanas, está sendo encarada por meio de medidas nacionalistas, exclusivas e excludentes, afastando a necessária coordenação e cooperação GLOBAIS, como deveria ser.
Brasília, 16 de março de 2020
Manifesto Globalista
Introdução: um manifesto em defesa do globalismo?
Um “manifesto globalista”? Na linha do Manifesto Comunista (1848), de Marx e Engels? Sim, exatamente, mas com algumas diferenças de espírito e de conteúdo.
Como o globalismo vem sendo atacado de maneira superficial e simplista por alguns espíritos neogóticos, com argumentos totalmente equivocados, vou divulgar o meu manifesto globalista, especialmente voltado para o mundo diplomático brasileiro, onde o besteirol antiglobalista que está sendo disseminado desde algum tempo é bem maior. A estrutura do presente ensaio provocador pode parecer semelhante, ou similar, à do texto gótico de 1848, mas os argumentos são bastante diferentes.
Mas antes uma precisão: o título original do pequeno panfleto de 1848 – feito muito rapidamente, inclusive com alguns “empréstimos” deliberados – preparado por dois jovens hegelianos radicais, era Manifesto do Partido Comunista. Só que não ainda não existia nenhum “partido comunista”: o texto havia sido encomendado pela Liga dos Justos, uma associação de trabalhadores alemães sediada na Inglaterra. Os partidos comunistas surgiram bem mais tarde, no seguimento da primeira grande divisão dos socialistas, seja na Primeira Internacional, em face do embate entre anarquistas-bakuninistas e marxistas-marxianos, seja depois, com o surgimento dos socialistas-reformistas – Lassale, Liebknecht, Kautsky, Bernstein –, agrupados na Segunda Internacional, que logo foram combatidos pelos bolcheviques-leninistas da Terceira Internacional. A partir de 1919, quem quisesse apoiar o primeiro “Estado trabalhador” da História tinha de mudar o nome do seu partido para comunista, e acrescentar o subtítulo: “seção [nacional] da Internacional Comunista”, como foi o primeiro nome do Partido Comunista do Brasil: seção brasileira da Internacional Comunista (1922, nome recuperado depois, sem o subtítulo, pelo PCdoB).
Marx e Engels aprovariam, quase certamente, a distinção entre comunistas e socialistas, para logo em seguida criticar os discípulos pouco instruídos nas coisas econômicas (pois que conduziram o comunismo a uma situação insustentável). Para os propósitos do presente ensaio, como nem o globalismo, nem o bizarro antiglobalismo constituem partidos, no sentido etimológico e funcional da palavra, este novo manifesto não é do “Partido Globalista” e sim apenas um “Manifesto Globalista”; se quiserem acrescentar algo, eu não me oporia a este subtítulo: “contra o antiglobalismo”. Feitos os esclarecimentos históricos, vamos a um novo “clássico revisitado” de minha série, que já comporta uma paródia do velho Manifesto, adaptado aos vibrantes novos tempos da globalização capitalista (o novo Manifesto, e o livro completo, estão disponíveis aqui: https://www.academia.edu/41037349/Velhos_e_Novos_Manifestos_o_socialismo_na_era_da_globalizacao_1999_).
1. O grande temor dos reacionários: o espectro do globalismo
Um espectro percorre a comunidade adepta das teorias conspiratórias: o espectro do globalismo. Todos os poderes de velhas correntes ultraconservadoras, da extrema direita e dos reacionários sem qualquer doutrina, mas também da esquerda antiglobalizadora, se aliaram em uma campanha contra o fantasma do globalismo. Este seria, no precário entendimento dos que estão coligados ou convergentes no combate a esse novo monstro metafísico, um alegado complô de ricaços de esquerda e de burocratas da ONU — sem esquecer alguns ideólogos, como este que aqui escreve — devotado a retirar soberania aos Estados nacionais e a construir um governo mundial dirigido por burocratas não eleitos de organismos internacionais.
Qual entidade de burocratas dedicados à interdependência global não foi vilipendiada pelos seus adversários no poder como globalista? Quantos diplomatas sinceramente devotados ao seu trabalho internacionalista já não foram acusados de globalistas pelos novos cruzados reacionários da causa antiglobalista?
Desse fato concluem-se duas coisas.
O globalismo passou a ser identificado por esses adeptos de teorias conspiratórias como um novo poder.
Já é tempo dos globalistas engajados – como este que aqui escreve – exporem perante o mundo inteiro – ou pelo menos aos true believers e outros ingênuos seduzidos pela causa antiglobalista – a sua visão do mundo, seus objetivos e tendências, e de contraporem à lenda do espectro do globalismo um manifesto do próprio punho. Um manifesto que examine cada uma das alegações dos antiglobalistas e confirme que eles estão indo na direção contrária ao sentido tomado pela grande trajetória da interdependência global, ao pretenderem fazer girar para trás a roda da História.
2. Globalistas e antiglobalistas (ou internacionalistas conscientes e nacionalistas tacanhos)
Adeptos de teorias conspiratórias sempre existiram ao longo dos séculos: são geralmente mentes simples, almas cândidas, pessoas ingênuas que, induzidas por profetas de algum desastre iminente – gurus alucinados pelas dificuldades naturais, estruturais ou conjunturais, sistêmicas ou acidentais, contingentes, das economias sociedades – tentam ver, nesses soluços de uma longa e lenta evolução para estágios diferentes de organização econômica, política e social, a ação de sociedades secretas, entidades poderosas que manobrariam em surdina justamente contra o Estado ao qual pertencem.
Para eles, se algo estranho – ou seja, coisas que eles não conseguem explicar – está acontecendo no mundo, ou no cantinho em que eles vivem, é porque um pequeno grupo de espertalhões, geralmente ricos e poderosos, mas sempre mal intencionados, está tentando (e conseguindo) tomar o controle do mundo e de suas vidas, para impor não se sabe bem que tipo de novo regime ou sistema de vida. Dizer que os “conspiradores” são paranoicos já é uma redundância em si, pois parece haver uma correspondência íntima entre esses dois tipos de alucinados, embora nem todos os paranoicos sejam adeptos de teorias conspiratórias: vários se refugiam em seu mundinho conhecidos, temendo que o céu lhes caia sobre a cabeça, apenas dizendo que “estão vindo atrás de mim”. Paranoicos podem ser recatados e, portanto, não prejudiciais, mas conspiratórios tendem geralmente a perturbar a paz geral e a felicidade da nação anunciando as piores catástrofes que estão para se abater sobre o país e cada um de nós. Os antiglobalistas pertencem a esse gênero perfeitamente alucinado: “Os globalistas vão tirar nossas liberdades, vão retirar a soberania da nação, vão nos converter todos em escravos da poderosa máquina perversa” (que pode ser a do capital ou a do marxismo, à sua escolha), “eles vão destruir as bases das nossas sociedades, já estão fazendo isso, alerta minha gente!”.
Pois é, esses são os antiglobalistas, que seriam apenas ridículos, se não fossem também inutilmente ridículos, pois engajam a sociedade, quando estão no poder, em uma retirada em regra de fluxos, circuitos, correntes, movimentos e outras interações que seriam naturais e benéficas, se deixadas ao sabor das mudanças progressivas e regulares em quaisquer sociedades “normais”, ou seja, aquelas que respondem à dinâmica constante das atividades econômicas ou que reagem positivamente às novas ideias que cérebros educados estão sempre propondo para melhorar a vida de cada um dos cidadãos (ou súditos).
E quem são os globalistas, supostamente pecadores, indivíduos perigosos, propensos, pelo menos potencialmente, a roubar nossas liberdades e a soberania dos países, supostamente em benefício de algum grupúsculo organizado de conspiradores profissionais (que podem ser grandes capitalistas, judeus, marxistas, o que vier à cabeça)? Os globalistas somos todos nós, pessoas normais, que tendem a receber positivamente quaisquer novos influxos que representem agregação de valor, seja material, seja espiritual: produtos (ou seja, bens e serviços, de todas as partes do mundo), ideias novas, hipóteses, pesquisas, desafios, enfim, quaisquer propostas de mais conforto, harmonia, bem-estar, novidades em geral. Globalistas são pessoas abertas ao que o mundo produz de melhor – e, presumivelmente, a soma de novidades do mundo sempre será maior do que as novidades do seu próprio país –, ideias interessantes, até propostas desafiadoras, do ponto de vista das velhas tradições e costumes arraigados nas dobras do tempo.
Globalistas são receptivos a tudo isso, e não temem perder a liberdade se aceitam provar um novo pudim (salvo se for inglês, pois aí é perigoso), um novo aparelho (mesmo se for chinês, com aquelas coisas embutidas que vão passar a controlar a sua vida), uma nova forma de responsabilização de políticos (esse estamento autocentrado em todos os países), e propensos a se abrirem às migrações de todos os tipos, inclusive as suas próprias. Numa palavra, globalistas são internacionalistas, e antiglobalistas tendem a ser nacionalistas tacanhos (muitos deles obtusos, ou seja, infensos a quaisquer novidades).
Estou sendo maniqueísta? Provavelmente sim, mas cabe recordar que antes de aparecerem os nacionalistas tacanhos, que proclamam abertamente serem não só antiglobalistas, como também nacionalistas de um novo tipo (não carnívoros, se supõe), todos vivíamos felizes, sem sequer ter a consciência de sermos globalistas, ou seja, de estarmos abertos às novidades do mundo. O Brasil é um exemplo disso: acolheu imigrantes de todo o mundo, como uma coisa benéfica à construção do seu próprio Estado-nação – permitindo, por exemplo, no Império, que esses estrangeiros se estabelecessem nas faixas de fronteiras –, como algo natural e positivo; mas, a partir de certo momento, virou um país nacionalista tacanho, agora tudo mais reforçado, depois que essa horda de soberanistas ingênuos e de antiglobalistas que se abateu sobre nós.
3. Globalistas naturais e globalistas profissionais
A distinção pode parecer desprovida de maior significado, ou simplesmente inútil, na medida em que poucas diferenças existem, em princípio, entre aqueles que se adaptam naturalmente ao ritmo das mudanças no mundo contemporâneo – francamente globalista, na letra dos tratados e no espírito dos tempos – e os que se exercem profissionalmente no campo ativo do globalismo assumido e promovido. Vamos explicar.
Globalistas naturais são todos os cidadãos, indivíduos normais, consumidores abertos ao que possa existir de novidade no mundo da oferta dos mercados, sem preconceitos contra itens úteis na sua labuta diária ou no seu lazer cotidiano: são aqueles que não acham que a Coca-Cola é a “água negra do imperialismo” – como alguns anti-imperialistas ainda proclamavam algum tempo atrás –, que o rock não é uma “dança satânica”, que o iPhone é uma das grandes invenções da humanidade, que a China não quer exportar o seu modelo político – apenas inundar nossos mercados de produtos baratos, eventualmente também de uma qualidade aceitável –, que a ONU não vai instalar um governo mundial e que o George Soros não vai destruir o valor da nossa moeda e sugar nossas reservas internacionais. Enfim, são cidadãos como quaisquer outros, sem prevenções contra o que nos vem de fora, e com uma imensa curiosidade de saber o que existe lá fora, sem dividir o mundo entre “nós e o resto do mundo”.
Globalistas profissionais são justamente aqueles que trabalham nessa interface, entre o nacional e o internacional, entre o doméstico e o externo, entre as nossas vantagens competitivas nacionais e as vantagens comparativas internacionais (sempre relativas, como poderia lembrar Ricardo contra aquele pioneiro, Adam Smith, que acreditava nas vantagens absolutas e na errônea teoria do valor trabalho, e que daí passou para o Marx). Em princípio, todo empresário deveria ser globalista, pois é do grande mundo externo que ele retira ideias, insumos e meios de produção para fazer sua oferta interna, eventualmente externa também. Todo economista sensato também deveria ser globalista, ou seja, a favor do livre comércio, o que não significa sair por aí negociando acordos de livre comércio com países like-minded; não precisa: basta orientar o seu ministro do comércio exterior a adotar a liberalização erga omnes, ou seja, unilateral, sem qualquer necessidade de estabelecer acordos mercantilistas com quaisquer outros países.
Isso seria o normal, e esses seriam os primeiros globalistas profissionais, ou seja, empresários competitivos e economistas simplesmente sensatos empenhados em colocar o país na interdependência global, a melhor situação que qualquer estadista digno desse nome poderia aspirar para o seu país. Mas, hélas, isso não vale para os empresários brasileiros e para os “economistas” do governo Trump, empenhados ferozmente em defender sua reserva de mercado e em “equilibrar”, por quaisquer meios, a balança comercial, tanto a global quanto a bilateral, uma situação impossível, teórica e praticamente (inclusive porque balança comercial não é uma preocupação microeconômica de empresários, nem deveria ser a maior questão macroeconômica a preocupar os economistas governamentais, pois existem outros componentes no balanço de pagamentos).
E quanto aos diplomatas? Ora, não seria preciso nem argumentar como, ou porque, os diplomatas são, necessariamente globalistas profissionais, até compulsórios. Não se trata apenas de conformação “genética”, se cabe alusão a qualquer “fatalidade natural”, ou de alguma “deformação de ofício”, se também cabe a expressão depreciativa; antes de qualquer outro critério, trata-se de um ambiente natural para o exercício de suas funções executivas, sobretudo no caso desses burocratas obrigatoriamente imersos no mundo da globalização. E isso não existe apenas depois da construção da ordem multilateral no pós-Segunda Guerra, ou antes, na criação da Liga das Nações, depois da Grande Guerra e com os acordos de Paris, em 1919: diplomatas integram uma das mais antigas profissões do mundo, mobilizados cada vez que soberanos mais sensatos procuravam evitar guerras ofensivas ou defensivas, em caso de tensões com soberanias vizinhas ou impérios conquistadores. Junto com os soldados, que são seus irmãos naturais e que também precisam ser naturalmente, profissionalmente globalistas, os diplomatas só existem na globalidade, na globalização, no globalismo, sendo inconcebível um diplomata “antiglobalista”.
Aliás, um diplomata antiglobalista não é apenas uma contradição nos termos, é antes de mais nada um ser ridículo, pois não se entende um profissional das relações exteriores que queira se refugiar no nacionalismo tacanho, no provincianismo rastaquera, na recusa da abertura do país a todos os tipos de interações benéficas ao povo, à economia, à cultura nacional. O que é especificamente moderno, ou contemporâneo, no globalismo diplomático, é o multilateralismo, disputando espaços preliminares com o bilateralismo triunfante até o século XIX e explodindo com vigor depois da Segunda Guerra Mundial, com a fundação da ONU e de todas as suas agências especializadas (aliás, até antes, desde Bretton Woods, que iniciou a conformação da ordem econômica multilateral do pós-guerra, que ainda é a base das relações internacionais). Um diplomata que se proclame antiglobalista é mais do que um estranho no ninho, ou um cisne negro, é sobretudo uma aberração teórica e prática, uma vez que mesmo esse ser bizarro terá de se haver com as estruturas multilaterais, portanto globais, que foram sendo estabelecidas progressivamente ao longo das últimas sete ou oito décadas.
4. Literatura globalista e antiglobalista
Literatura antiglobalista não existia até certo tempo atrás, ou então se restringia aos poucos panfletos conspiratórios, daquele mesmo nacionalismo tacanho, que provocaram tantas guerras ao longo da era moderna, até os conflitos globais da primeira metade do século XX. O nacionalismo, segundo estudiosos do tema – Hans Kohn foi o maior de todos – é um fenômeno relativamente moderno, que se desenvolve paralelamente ao crescimento da doutrina liberal, mas que assume feições exclusivistas e excludentes no curso do gradual desenvolvimento paralelo do coletivismo, em suas diversas formas econômicas e políticas, entre elas o pangermanismo, um nacionalismo proto-globalista (se assim cabe a expressão), que provocou, junto com o expansionismo imperialista, a maior guerra de todos os tempos.
O nacionalismo, assim como o racismo – especificamente antissemita – e o culto do líder e da pátria emergiram no século XIX, tendo sido anteriormente especialmente francês, da era napoleônica – como defesa da pátria atacada pelas monarquias europeias que estavam sendo desmanteladas pelas novas ideias de soberania popular da revolução de 1789 –, tornou-se, na imediata sequência, um produto do romantismo alemão, que teve suas derivações nos círculos wagnerianos até chegar a Rosenberg e Hitler. No decorrer do século XIX, ele se confunde com um dos tipos de darwinismo social, a partir do qual a ideia de raça se torna a base fundamental da nacionalidade e do patriotismo. Em sua obra magna, A Ideia do Nacionalismo (publicada originalmente em 1944), Hans Kohn assim define o nacionalismo:
Nationalism is a state of mind permeating the large majority of the people and claiming to permeate all its members; it recognizes the nation-State as the ideal form of political organization and the nationality as the source of all creative cultural energy and economic well-being. The supreme loyalty of man is therefore due to his nationality, as his own life is supposedly rooted in and made possible by its welfare. (Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background. New York: Macmillan, 1961, p.16).
Mas antes mesmo de publicar essa sua obra magna, Hans Kohn, um promotor precoce do sionismo – depois abandonado em favor do estabelecimento de um Estado binacional na Palestina –, havia publicado, antes da guerra, uma obra, Force or Reason: issues of the Twentieth Century (Harvard University Press, 1937), na qual dizia o seguinte:
On a shrinking earth man should concentrate all his rational forces upon the adjustment of his social and political life to the new conditions. Instead, we hear reason and reasonableness decried and the old battle cries of fierce imperialism and conflict of races raised again. (p. 96)
A despeito de discutir, em seu livro, “The Cult of Force”, “The Dethronement of Reason”, ou “The Crisis of Imperialism”, Kohn proclamava, ao lado do reconhecimento das dificuldades de se alcançar a equalização concreta das oportunidades entre os homens, sua crença nos valores civilizatórios alcançados pela sociedade contemporânea e sua esperança no prevalecimento da justiça democrática. O que se teve, infelizmente, a partir dali, foi a brutal reafirmação da força, não da razão, trazidos tanto pelo fascismo quanto pelo comunismo, dois movimentos aparentemente guiados por motivações globalistas, mas o primeiro nacionalista ao extremo, o segundo supostamente internacionalista (à sua maneira). Daí se pode perceber certa confusão teórica e conceitual entre os defensores do velho nacionalismo e os do novo antiglobalismo, tendentes a fazer crer que o nacionalismo não foi, como se acredita, o verdadeiro responsável pelas terríveis guerras que ensanguentaram o século XX, e sim forças ainda positivas, que nos poupariam de um suposto flagelo a ser provocado, não pela globalização – o que seria de toda forma inútil –, mas pelo globalismo, que pretenderia, segundo os novos arautos do antiglobalismo, da “ditadura das organizações internacionais”.
Incapazes de sustentar suas ideias bizarras por meio de trabalhos consistentes, os defensores brasileiros do nacionalismo antiglobalista recorrem a obras de autores estrangeiros (geralmente americanos, europeus e israelenses), como se os novos manifestos nacionalistas trouxessem qualquer contribuição intelectual aos problemas de um país como o Brasil, uma nação que não enfrenta, como muitos desses países, problemas decorrentes de uma grande inserção mundial, de uma imensa atratividade imigratória, terrorismo, um multiculturalismo supostamente nocivo e outras questões próprias vinculadas às suas peculiaridades políticas e ideológicas propriamente nacionais. Assim como o afro-brasileiro é uma importação espúria de tendências peculiares ao ambiente racial dos Estados Unidos, o antiglobalismo atual constitui uma outra importação bizarra de “ideias fora do lugar”, sem qualquer sustentação ou correspondência numa elaboração intelectual própria.
Num plano puramente “literário”, portanto, antiglobalistas tupiniquins representam bonecos de ventríloquo repetindo ideias alheias que não possuem qualquer embasamento na realidade nacional, muito menos no contexto da atividade diplomática de um país que está praticamente excluído das grandes cadeias de valor da grande interdependência econômica global, e que precisa ainda lugar para superar fortes tendências à introversão e ao espírito mercantilista que ainda permeia sua política comercial e sustenta sua política industrial. O antiglobalismo jabuticabal é, desse ponto de vista “literário”, uma aberração total no quadro de um universo conceitual que deveria apoiar sua ação diplomática e a atividade dos seus profissionais da diplomacia, que são, como já dito, “geneticamente” globalistas.
Em face de tamanha aberração, um “Manifesto Globalista” como o presente texto nem precisaria se apresentar como uma “crítica da razão pura” do globalismo, nem como uma “crítica da razão prática” do antiglobalismo, pois este é inconsistente, irrealista, ou simplesmente absurdo, em seus próprios termos. Como um país insuficientemente inserido nas grandes correntes da modernidade e da economia mundial, como é o Brasil, poderia ser antiglobalista? Como poderia suas elites dirigentes – quaisquer que sejam elas, as políticas, os donos do capital, os intelectuais formadores da opinião pública – poderiam pretender unir os destinos do país à pequena tribo de nacionalistas de extrema-direita que atuam no sentido de desmantelar a ordem mundial criada no pós-guerra e refluir as políticas nacionais para o ambiente estreito das fronteiras domésticas? A recusa do multilateralismo, como princípio fundador da diplomacia contemporânea, não é apenas ridícula, ela é sobretudo inoperante e, mais que tudo, inútil, em vista de todos os compromissos já existentes no plano prático.
5. Posição dos globalistas universalistas em face dos antiglobalistas nacionalistas
À diferença dos antiglobalistas, os globalistas – como este que aqui escreve – não lutam para alcançar os fins egoístas e os interesses exclusivos de uma concepção territorialista de nação, ou para realizar os objetivos estreitos de uma ideia excludente de pátria. Eles se atêm a um conceito mais amplo de interesse coletivo, que não elude noções básicas do pensamento liberal em economia e em política, ou seja, individualismo e ampla defesa das liberdades democráticas, e focam não apenas em metas do momento presente, para um determinado país ou Estado-nacional, mas proclamam um visão vinculada a aspirações mais amplas, que representam, simultaneamente, o futuro da humanidade. À diferença, porém, do nascente liberalismo político do século XIX, os liberais globalistas da atualidade se pautam em muito do que proclamou o grande intelectual da diplomacia brasileira, José Guilherme Merquior, notadamente em sua última grande obra: Liberalism, Old and New (1991). Merquior sabia reconhecer a tensão já detectada desde o século XIX entre os impulsos libertários e os ímpetos igualitaristas, expressas nas correntes políticas contemporâneas. Como ele resumiu ao final desse livro:
Como foi observado por alguns distintos sociólogos como [Raymond] Aron ou [Ralph] Dahrendorf, a nossa sociedade permanece caracterizada por uma dialética contínua, embora cambiante, entre o crescimento da liberdade e o ímpeto em direção a uma maior igualdade – e disso a liberdade parece emergir mais forte do que enfraquecida. (O Liberalismo, antigo e moderno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991; tradução do original em inglês por Henrique de Araújo Mesquita; p. 223)
Tal postura não tem praticamente nada de nacionalista, e muito menos de antiglobalista, mas representa o espírito do pensamento liberal, como expressão do mais puro universalismo filosófico, ou seja, tudo o que se contrapõe ao nacionalismo estreito defendido pelos antiglobalistas contemporâneos, que nada mais são do que os atuais herdeiros dos antigos nacionalistas, que produziram as grandes catástrofes do século XX. Mas não só do século XX, antes mesmo isso ocorria, como refletido nas obras de pensadores, romancistas, ativistas políticos de todos os matizes e de várias épocas.
Não é preciso remontar à famosa frase de Samuel Johnson, que ainda no século XVIII, rejeitava o patriotismo – a forma mais extrema de nacionalismo – como sendo “o último refúgio dos canalhas”, para rejeitar as formas mais extremas de exclusivismo nacional. O grande romancista russo Leon Tolstoi, assim como sua compatriota Emma Goldman, ativista da causa feminista e anarquista como ele, eram, nos albores do século XX, declaradamente antinacionalistas. Ao final da Grande Guerra, já distinguido como o grande cientista da relatividade, Albert Einstein, ao ser interrogado sobre sua nacionalidade respondeu: “Pela herança eu sou um judeu, pela cidadania um suíço, e por formação um ser humano e apenas um ser humano, sem qualquer vínculo especial a qualquer estado ou entidade nacional de qualquer tipo.” Dez anos depois, novamente questionado sobre se sentia mais como alemão ou judeu, proclamou ser contrário a qualquer tipo de nacionalismo, mesmo sob o disfarce de patriotismo: “Eu me considero um homem. O nacionalismo é uma doença infantil, o sarampo da humanidade”.
George Orwell, um socialista antiautoritário, se expressava ao final da Segunda Guerra Mundial em termos contundentes contra o nacionalismo em suas “Notas sobre o nacionalismo” (1945). Mais perto da nossa época, o velho semanário liberal The Economist se perguntava, em seu editorial de 19 de novembro de 2016, quando da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a propósito do seu grito de guerra de America First, se ele não era o “último recruta de um perigoso nacionalismo”. Estabelecendo uma comparação entre Trump e Ronald Reagan, que também tinha prometido recuperar os EUA, depois da patética presidência de Jimmy Carter, o editorial da Economist dizia:
But there is a difference. On the eve of the vote, Reagan described America as a shining “city on a hill”. Listing all that America could contribute to keep the world safe, he dreamed of a country that “is not turned inward, but outward—toward others”. Mr Trump, by contrast, has sworn to put America First. Demanding respect from a freeloading world that takes leaders in Washington for fools, he says he will “no longer surrender this country or its people to the false song of globalism”. Reagan’s America was optimistic: Mr Trump’s is angry. (…) Civic nationalism appeals to universal values, such as freedom and equality. It contrasts with “ethnic nationalism”, which is zero-sum, aggressive and nostalgic and which draws on race or history to set the nation apart. In its darkest hour in the first half of the 20th century ethnic nationalism led to war. (“The new nationalism”, The Economist, November 19th 2016, ênfase agregada; link: https://www.economist.com/leaders/2016/11/19/the-new-nationalism)
Sintomaticamente, os antiglobalistas brasileiros, em sua adesão doentia, não aos Estados Unidos apenas, mas ao governo e à personalidade de Trump em particular, também subscrevem às mesmas ideias retrogradas e agressivas desse nacionalismo rastaquera e a um antiglobalismo tão bizarro quanto surrealista, pois que construindo um monstro metafísico a partir do multilateralismo contemporâneo, que eles se propõem combater com a sanha doentia de novos cruzados, na verdade com as armas enferrujadas e os slogans ridículos de um novo “exército de Brancaleone”. Como diria Marx, em seu famoso Manifesto, eles se prendem a velhos grilhões reacionários, não têm nenhum mundo a ganhar e pretendem fazer girar para trás a roda da História.
De minha parte, termino meu pequeno manifesto dando entusiasticamente três vivas ao globalismo!
Brasília, 15 de fevereiro de 2020

 Video & key quotes
Video & key quotes