Temas de relações internacionais, de política externa e de diplomacia brasileira, com ênfase em políticas econômicas, em viagens, livros e cultura em geral. Um quilombo de resistência intelectual em defesa da racionalidade, da inteligência e das liberdades democráticas.
O que é este blog?
Este blog trata basicamente de ideias, se possível inteligentes, para pessoas inteligentes. Ele também se ocupa de ideias aplicadas à política, em especial à política econômica. Ele constitui uma tentativa de manter um pensamento crítico e independente sobre livros, sobre questões culturais em geral, focando numa discussão bem informada sobre temas de relações internacionais e de política externa do Brasil. Para meus livros e ensaios ver o website: www.pralmeida.org. Para a maior parte de meus textos, ver minha página na plataforma Academia.edu, link: https://itamaraty.academia.edu/PauloRobertodeAlmeida;
Meu Twitter: https://twitter.com/PauloAlmeida53
Facebook: https://www.facebook.com/paulobooks
sexta-feira, 3 de outubro de 2014
Brasil, um pais literalmente sufocado por 5 MILHOES (sim, milhoes) denormas desde 1988
Eleicoes 2014: o chanceler oficioso defende a diplomacia companheira -MAG
Opinião
Dilma nas Nações Unidas: fatos e versões
A proximidade das eleições ensejou, mais uma vez, a associação entre desinformação e má fé por parte de alguns analistas da cena internacional, em especial da política externa brasileira.
No afã de reverter o curso que a política brasileira assumiu nos últimos 12 anos, nossos analistas atacaram os pronunciamentos da Presidenta Dilma Rousseff em Nova York como sendo (1) tentativa de transformar a tribuna da Nações Unidas em palanque eleitoral, (2) recusa de chancelar a proposta de desmatamento zero no Brasil e (3) atitude indulgente vis-à-vis os bárbaros crimes do Estado Islâmico.
Vejamos cada uma dessas afirmações.
A Presidenta, em primeiro lugar, tem claro que a política externa não é apenas um instrumento de projeção do Brasil no mundo, mas um elemento consubstancial de nosso projeto nacional de desenvolvimento.
Os temas "internos" por ela abordados em seu discurso são, assim, questões globais e da maior relevância: o enfrentamento local dos efeitos da crise econômica internacional, o combate à fome e às desigualdades; a defesa e a extensão dos direitos humanos. Todos os Presidentes vinculam aspectos internos e externos ("eleitoreiros", segundo nossos críticos) em seus discursos na Assembleia Geral, na medida em que buscam construir uma apreciação da situação internacional a partir de sua percepção nacional.
Se alguém duvida disso, basta ler o discurso do Presidente Obama na ONU.
Em segundo lugar, a recusa pelo governo brasileiro da proposta de desmatamento zero apresentada por três países e algumas ONGs se explica pelo conflito que tem com a legislação brasileira.
Ela prevê o manejo florestal como mecanismo importante de nossa política ambiental. Os proponentes não aceitaram a tese do "desmatamento ilegal zero". Apenas 28 dos 130 participantes da Cúpula do Clima da ONU se somaram à proposta de desmatamento zero.
O Brasil, apesar de possuir a maior reserva florestal do planeta, não foi convidado a participar da elaboração do texto. As críticas à soberana postura brasileira omitem os grandes resultados obtidos na luta contra o desmatamento (redução de 79% nos últimos 10 anos) e a liderança internacional que o Brasil tem desde que, na COP-15, em Copenhague, apresentou unilateralmente a proposta de redução das emissões de gás de efeito estufa entre 36% e 39% projetadas até 2020.
Finalmente, está a questão da posição brasileira em relação ao terrorismo do EI.
Só a profunda má fé pode atribuir ao discurso da Presidenta da República qualquer indulgência em relação a essa seita, menos ainda a disposição de dissuadir os terroristas pelo "diálogo".
A posição brasileira deixa clara a necessidade de que o uso da força só possa ser exercido quando legitimado por uma decisão do Conselho de Segurança, o que não ocorreu. É o caso da Síria, que, diferentemente do Iraque, não solicitou qualquer intervenção armada.
Tentativas de resolver questões semelhantes à margem do Direito Internacional, além de ilegais, têm sido desastrosas.
Será necessário chamar a atenção para a catastrófica invasão do Iraque, sem autorização do Conselho, e que está na origem do Estado Islâmico? Será necessário mencionar a desestabilização da Líbia e suas implicações no alastramento do terrorismo no Sahel? Será preciso chamar a atenção para o custo que teve, em passado mais remoto, o apoio ao Iraque de Saddam Hussein e aos talebans no Afeganistão?
O Brasil quer o diálogo da (e na) comunidade internacional para enfrentar esses graves problemas. O uso preferencial, unilateral e indiscriminado das armas ou de sanções econômicas tem se revelado inócuo, produzindo resultados opostos àqueles pretendidos. O terrorismo ganha mais força e visibilidade.
A política externa brasileira, que sempre pôs a defesa da soberania nacional e do Direito Internacional no centro de suas preocupações, não pode deixar-se arrastar em aventuras, como aquelas que acabam por reduzir nossa presença no mundo ao alinhamento automático --e muitas vezes desastroso-- com as grandes potências.
A defesa intransigente do interesse nacional se sobrepõe a idiossincrasias ideológicas.
Eleicoes 2014: a politica externa do continuismo diplomatico-academico- Sebastiao Velasco
Política externa: O que está em jogo nesta eleição
Por Sebastião Velasco - de São Paulo
Dez novas regras da vida diplomatica - Paulo Roberto de Almeida
QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2005
62) Dez regras modernas de diplomacia
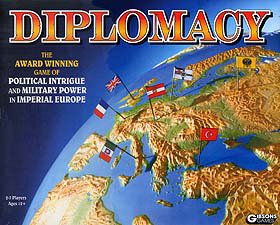
Dez Regras Modernas de Diplomacia
Paulo Roberto de Almeida
Este ensaio breve sobre as novas regras da diplomacia, me foi inspirado pela leitura de um livro de um diplomata português do século XIX: Frederico Francisco de la Figanière: Quatro regras de diplomacia (Lisboa: Livraria Ferreira, 1881, 239 p.). Ao lê-lo, passei a redigir imediatamente algumas regras mais adaptadas ao século XXI. O trabalho foi escrito originalmente entre Chicago (em 22 de julho de 2001) e depois novamente em viagem de São Paulo a Miami e daí a Washington (em 12 de agosto de 2001). Foi publicado originalmente na série “Cousas Diplomáticas” (nº 1), da revista eletrônica Espaço Acadêmico, e espero poder ampliá-lo assim que me for dada oportunidade.
Reflexões rápidas para futuro desenvolvimento...
1. Servir a pátria, mais do que aos governos, conhecer profundamente os interesses permanentes da nação e do povo aos quais serve; ter absolutamente claros quais são os grandes princípios de atuação do país a serviço do qual se encontra.
O diplomata é um agente do Estado e, ainda que ele deva obediência ao governo ao qual serve, deve ter absoluta consciência de que a nação tem interesses mais permanentes e mais fundamentais do que, por vezes, orientações momentâneas de uma determinada administração, que pode estar guiada — mesmo se em política externa isto seja mais raro — por considerações “partidárias” de reduzido escopo nacional. Em resumo, não seja subserviente ao poder político, que, como tudo mais, é passageiro, mas procure inserir uma determinada ação particular no contexto mais geral dos interesses nacionais.
2. Ter domínio total de cada assunto, dedicar-se com afinco ao estudo dos assuntos de que esteja encarregado, aprofundar os temas em pesquisas paralelas.
Esta é uma regra absoluta, que deve ser auto-assumida, obviamente. Numa secretaria de estado ou num posto no exterior, o normal é a divisão do trabalho, o que implica não apenas que você terá o controle dos temas que lhe forem atribuídos, mas que redigirá igualmente as instruções para posições negociais sobre as quais seu conhecimento é normalmente maior do que o do próprio ministro de estado ou o chefe do posto. Mergulhe, pois, nos dossiês, veja antigos maços sobre o assunto (a poeira dos arquivos é extremamente benéfica ao seu desempenho funcional), percorra as estantes da biblioteca para livros históricos e gerais sobre a questão, formule perguntas a quem já se ocupou do tema em conferências negociadoras anteriores, mantenha correspondência particular com seu contraparte no posto (ou na secretaria de estado), enfim, prepare-se como se fosse ser sabatinado no mesmo dia.
3. Adotar uma perspectiva histórica e estrutural de cada tema, situá-lo no contexto próprio, manter independência de julgamento em relação às idéias recebidas e às “verdades reveladas”.
Em diplomacia, raramente uma questão surge do nada, de maneira inopinada. Um tema negocial vem geralmente sendo “amadurecido” há algum tempo, antes de ser inserido formalmente na agenda bilateral ou multilateral. Estude, portanto, todos os antecedentes do assunto em pauta, coloque-o no contexto de sua emergência gradual e no das circunstâncias que presidiram à sua incorporação ao processo negocial, mas tente dar uma perspectiva nova ao tema em questão. Não hesite em contestar os fundamentos da antiga posição negociadora ou duvidar de velhos conceitos e julgamentos (as idées reçues), se você dispuser de novos elementos analíticos para tanto.
4. Empregar as armas da crítica ao considerar posições que devam ser adotadas por sua delegação; praticar um ceticismo sadio sobre prós e contras de determinadas posições; analisar as posições “adversárias”, procurando colocá-las igualmente no contexto de quem as defende.
Ao receber instruções, leia-as com o olho crítico de quem já se dedicou ao estudo da questão e procure colocá-las no contexto negocial efetivo, geralmente mais complexo e matizado do que a definição de posições in abstracto, feita em ambiente destacado do foro processual, sem interação com os demais participantes do jogo diplomático. Considerar os argumentos da parte adversa também contribui para avaliar os fundamentos de sua própria posição, ajudando a revisar conceitos e afinar seu próprio discurso. Uma saudável atitude cética — isto é, sem negativismos inconseqüentes — ajuda na melhoria constante da posição negociadora de sua chancelaria.
5. Dar preferência à substância sobre a forma, ao conteúdo sobre a roupagem, aos interesses econômicos concretos sobre disposições jurídico-abstratas.
Os puristas do direito e os partidários da “razão jurídica” hão de me perdoar a deformação “economicista”, mas os tratados internacionais devem muito pouco aos sacrossantos princípios do direito internacional, e muito mais a considerações econômicas concretas, por vezes de reduzido conteúdo “humanitário”, mas dotadas, ao contrário, de um impacto direto sobre os ganhos imediatos de quem as formula. Como regra geral, não importa quão tortuosa (e torturada) sua linguagem, um acordo internacional representa exatamente — às vezes de forma ambígua — aquilo que as partes lograram inserir em defesa de suas posições e interesses concretos. Portanto, não lamente o estilo “catedral gótica” de um acordo específico, mas assegure-se de que ele contém elementos que contemplem os interesses do país.
6. Afastar ideologias ou interesses político-partidários das considerações relativas à política externa do país.
A política externa tende geralmente a elevar-se acima dos partidos políticos, bem como a rejeitar considerações ideológicas, mas sempre somos afetados por nossas próprias atitudes mentais e algumas “afinidades eletivas” que podem revelar-se numa opção preferencial por um determinado tipo de discurso, “mais engajado”, em lugar de outro, supostamente mais “neutro”. Poucos acreditam no “caráter de classe” da diplomacia, mas eventualmente militantes “classistas” gostariam de ajudar na “inflexão” política ou social de determinadas posições assumidas pelo país internacionalmente, sobretudo quando os temas da agenda envolvem definição de regras que afetam agentes econômicos e expectativas de ganhos relativos para determinados setores de atividade. Deve-se buscar o equilíbrio de posições e uma definição ampla, verdadeiramente nacional, do que seja interesse público relevante.
7. Antecipar ações e reações em um processo negociador, prever caminhos de conciliação e soluções de compromisso, nunca tentar derrotar completamente ou humilhar a parte adversa.
O soldado e o diplomata, como ensinava Raymond Aron, são os dois agentes principais da política externa de um Estado — embora atualmente outras forças sociais, como as ONGs e os homens de negócio, disputem espaço nos mecanismos decisórios burocráticos — mas, à diferença do primeiro, o segundo não está interessado em ocupar território inimigo ou destruir sua capacidade de resistência. Ainda que, em determinadas situações negociais, o interesse relevante do país possa ditar alguma instrução do tipo “vá ao plenário com todas as suas armas (argumentativas) e não faça prisioneiros”, o confronto nunca é o melhor método para lograr vitória num processo negociador complexo. A situação ideal é aquela na qual você “convence” as outras partes negociadoras de que aquela solução favorecida por seu governo é a que melhor contempla os interesses de todos os participantes e na qual as partes saem efetivamente convencidas de que fizeram o melhor negócio, ou pelo menos deram a solução possível ao problema da agenda.
8. Ser eficiente na representação, ser conciso e preciso na informação, ser objetivo na negociação.
Considere-se um agente público que participa de um processo decisório relevante e convença-se de que suas ações terão um impacto decisivo para sua geração e até para a história do país: isto já é um bom começo para dar dignidade à função de representação que você exerce em nome de todos os seus concidadãos. Redija com clareza seus relatórios e seja preciso nas instruções, ainda que dando uma certa latitude ao agente negocial direto; não tente fazer literatura ao redigir um anódino memorandum, ainda que um mot d’esprit aqui e ali sempre ajuda a diminuir a secura burocrática dos expedientes oficiais. Via de regra, estes devem ter um resumo inicial sintetizando o problema e antecipando a solução proposta, um corpo analítico desenvolvendo a questão e expondo os fundamentos da posição que se pretende adotar, e uma finalização contendo os objetivos negociais ou processuais desejados. No foro negociador, não tente esconder seus objetivos sob uma linguagem empolada, mas seja claro e preciso ao expor os dados do problema e ao propor uma solução de compromisso em benefício de todas as partes.
9. Valorize a carreira diplomática sem ser carreirista, seja membro da corporação sem ser corporativista, não torne absolutas as regras hierárquicas, que não podem obstaculizar a defesa de posições bem fundamentadas.
Geralmente se entra na carreira diplomática ostentando certo temor reverencial pelos mais graduados, normalmente tidos como mais “sábios” e mais preparados do que o iniciante. Mas, se você se preparou adequada e intensamente para o exercício de uma profissão que corresponde a seus anseios intelectuais e responde a seu desejo de servir ao país mais do que aos pares, não se deixe intimidar pelas regras da hierarquia e da disciplina, mais próprias do quartel do que de uma chancelaria. Numa reunião de formulação de posições, exponha com firmeza suas opiniões, se elas refletem efetivamente um conhecimento fundamentado do problema em pauta, mesmo se uma “autoridade superior” ostenta uma opinião diversa da sua. Trabalhe com afinco e dedicação, mas não seja carreirista ou corporativista, pois o moderno serviço público não deve aproximar-se dos antigos estamentos de mandarins ou das guildas medievais, com reservas de “espaço burocrático” mais definidas em função de um sistema de “castas” do que do próprio interesse público. A competência no exercício das funções atribuídas deve ser o critério essencial do desempenho no serviço público, não o ativismo em grupos restritos de interesse puramente umbilical.
10. Não faça da diplomacia o foco exclusivo de suas atividades intelectuais e profissionais, pratique alguma outra atividade enriquecedora do espírito ou do físico, não coloque a carreira absolutamente à frente de sua família e dos amigos.
A performance profissional é importante, mas ela não pode ocupar todo o espaço mental do servidor, à exclusão de outras atividades igualmente valorizadas socialmente, seja no esporte, seja no terreno da cultura ou da arte. Uma dedicação acadêmica é a que aparentemente mais se coaduna com a profissão diplomática, mas quiçá isso represente uma deformação pessoal do autor destas linhas. Em todo caso, dedique-se potencialmente a alguma ocupação paralela, ou volte sua mente para um hobby absorvente, de maneira a não ser apenas um “burocrata alienado”, voltado exclusivamente para as lides diplomáticas. Sim, e por mais importante que seja a carreira diplomática para você, não a coloque na frente da família ou de outras pessoas próximas. Muitos se “sentem” sinceramente diplomatas, outros apenas “estão” diplomatas, mas, como no caso de qualquer outra profissão, a diplomacia não pode ser o centro exclusivo de sua vida: os seres humanos, em especial as pessoas da família, são mais importantes do que qualquer profissão ou carreira.
O que faz um diplomata, exatamente? Um texto de meu primeiro blog (2006)
Paulo,
Quero lhe parabenizar e agradecer, não somente por informar sobre a rotina do diplomata brasileiro, mas também pela humildade e atenção em responder os comentários.
Era o tipo de opinião que faltava pra eu me decidir pela carreira.
Postado por Lucas no blog Paulo Roberto de Almeida em quinta-feira, outubro 02, 2014 11:27:00 PM
153) O que faz um
diplomata, exatamente?
quarta-feira, 11 de janeiro de 2006

Muito freqüentemente sou solicitado, por interessados na carreira diplomática, geralmente jovens, a pronunciar-me sobre a natureza exata do trabalho diplomático. As dúvidas são muitas e a curiosidade infinita. Ainda assim tento responder a cada um da melhor forma possível, mas novas demandas se repetem, com perguntas usualmente similares. Como exemplo típico desse gênero de questionamento, transcrevo mensagem enviada hoje (11.01.06), que tentarei responder em seguida:
“Ainda falta um pouco para eu me decidir por este caminho (a diplomacia), por isso vim lhe pedir um breve relato de um dia comum seu, em sua profissão. O que é comum encontrar nessa carreira? O que é gratificante? E quais as dificuldades? Não quero incomodá-lo, aliás tenho muito receio disso, mas, ao mesmo tempo, quero me encontrar com a certeza de um futuro inescusável. E como decifrá-lo, se não perguntá-lo? A simples informação de quanto tempo permanece sentado assinando papéis, de quanto de autonomia se tem, dentre outros aspectos congêneres; essas simples informações formam o motivo de minha interpelação.”
Pois bem, sei que existem muitas lendas em torno das atividades de um diplomata, geralmente de natureza turística ou etílica, ou seja, de que passamos o tempo viajando de um lugar para outro, em belas cidades de países desenvolvidos, participando de reuniões sofisticadas e, sobretudo, de coquetéis e recepções, um pouco como se todo mundo ainda vivesse nos tempos das cortes européias, em bailes e outras galanterias... Exagero, claro, mas o pessoal também exagera em torno da quantidade de bebida que é humanamente possível ingerir. Com exceção do Vinicius de Moraes, que vivia de copo de uísque na mão, o diplomata geralmente não bebe, salvo, claro, quando é obrigado...
Sans blague, para descrever um dia típico de um diplomata seria preciso, primeiro, distinguir entre o diplomata na Secretaria de Estado, ou seja, na sua capital, onde ele é miseravelmente remunerado, e aquele destacado para um posto no exterior, numa embaixada permanente, numa missão junto a um organismo internacional, ou em missão temporária, integrando uma delegação em alguma reunião internacional, onde ele ganha um pouco mais, mas onde ele tampouco vive nababescamente, como alguns podem imaginar.
Na Secretaria de Estado, somos perfeitos burocratas, processando informações, geralmente em formato eletrônico – como tudo o mais na vida, nestes tempos de informatização generalizada – mas também em suporte papel, muito papel. Ainda existe um bocado de formulários e memorandos nas burocracias governamentais, mais do que o necessário.
Um diplomata padrão cuida de alguns assuntos, sobre os quais possui, ou pelo menos deveria ter, domínio completo e competência reconhecida. Ele recebe um insumo qualquer – digamos um telegrama, hoje um simples e-mail, de uma embaixada, ou uma demanda de algum outro serviço – e imediatamente transforma esse tema em algum tipo de “instrução”, para a própria Secretaria de Estado, para outros órgãos do Estado ou para a missão no exterior que primeiro suscitou o problema. Essa resposta pode sair imediatamente ou requerer consultas a outras instâncias da Casa – divisões políticas, isto é, geográficas, ou econômicas, jurídicas, administrativas, etc. – ou de fora, algum órgão técnico do governo, por exemplo, ou até mesmo a entidades da chamada “sociedade civil”. Se o assunto é sério o suficiente para requerer uma decisão superior, ele é levado sucessivamente a escalões mais elevados, eventualmente até ao próprio presidente da República, que assume responsabilidade por todas as decisões maiores da política externa oficial, da qual o chanceler (ou ministro de Estado das relações exteriores) é o executor.
O gratificante, para um diplomata, é ver que uma proposta sua, emanada de seu “processamento” diligente, e inteligente, defendendo o que ele considera como sendo o interesse nacional, foi convertida em política de Estado e passa a ser defendida pelos representantes do país nos foros internacionais. As dificuldades, pelo menos no plano “psicológico”, geralmente estão ligadas à incapacidade de a instituição responsável pela política externa chegar a uma posição clara, contemplando esses interesses – mas nem sempre é fácil determinar onde está o interesse nacional –, ou então elas são derivadas do fato de que a melhor posição possível, em determinadas circunstâncias, tem de ser “contornada”, digamos assim, em função de alianças táticas ou de “competição” com outros objetivos, nem sempre muito claros.
Já nem considero aqui as dificuldades de tipo administrativo ou logístico – como a ausência de recursos materiais e humanos suficientes para executar o que se poderia considerar como a melhor diplomacia possível em todas as frentes abertas ao engenho e arte de nosso serviço exterior – ou os obstáculos propriamente “estruturais”, que são a obstrução dos fins pretendidos pelas “nossas” instruções por alguma coalizão mais forte no plano externo ou a insuficiente mobilização de aliados para a nossa causa. Isso faz parte da vida...
O diplomata na capital, ainda que fazendo parte de uma grande burocracia, dispõe de mais margem de ação e de mais autonomia do que o diplomata no posto, que tem necessariamente de seguir as instruções da capital. Mas este último também participa do processo decisório e da elaboração de posições, ao informar corretamente sobre as relações de força, sobre as posições dos demais países, sobre as alianças táticas que estão sendo desenhadas em torno de algum assunto e assim por diante.
Numa embaixada bilateral, que são os postos mais numerosos, as negociações são talvez menos freqüentes, mas aumenta o volume de informações produzidas sobre o país em questão e cresce o esforço de defesa dos interesses brasileiros em temas concretos, como comércio, investimentos, acordos de cooperação, geralmente científica e tecnológica, visitas bilaterais, bem como atividades de promoção cultural.
Coquetéis e recepções constituem parte integral do “balé” diplomático, mas esse tipo de atividade “festiva” geralmente está ligada às comemorações das datas nacionais – e isso dá para preencher quase todos os dias do ano, dependendo da capital e da respectiva rede de embaixadas, mas a freqüentação desse tipo de evento varia muito em função de “quem trabalha com aquele país” – ou então contempla a parte inicial de alguma reunião importante, com a presença de várias delegações. Almoços de trabalho – muito raramente pagos pelo serviço exterior – são mais usuais, ao passo que são mais raras aquelas recepções que nós mesmos organizamos para os colegas que conosco trabalham ou com quem convivemos por dever de ofício. Chefes de missão têm, sim, uma jornada extra, recepcionando ou participando intensamente desses eventos, para os quais se requer boa disposição de espírito, bom humor e o físico em forma...
Resumindo em poucas palavras, o diplomata, em suas diferentes funções ligadas à representação, negociação e informação, passa a maior parte do tempo pesquisando, escrevendo, processando informações, se relacionando com outros diplomatas, colegas e de outros países, bem como com funcionários de diferentes serviços, com o objetivo básico de conceber instruções e depois defender posições que reflitam o interesse nacional de seu país. É uma função, sem dúvida alguma, “nobre” e gratificante, mas também muito exigente e comportando alguma dose de desprendimento, pois por vezes as condições de trabalho, ou as da vida em família, não são as melhores possíveis (em alguns postos “de sacrifício”, por exemplo, ou até mesmo na Secretaria de Estado, onde os salários são baixos e o trabalho excessivo).
No cômputo global, creio que se trata de uma profissão invejável, pela diversidade de situações que ela permite e pelas oportunidades que cria de engrandecimento pessoal, intelectual e profissional. Os interessados em uma opinião pessoal sobre o que eu creio serem, na atualidade, as regras pelas quais deve pautar-se um diplomata, podem consultar meu ensaio preliminar “Dez regras modernas de diplomacia”, no seguinte link:http://www.pralmeida.org/05DocsPRA/800RegrasDiplom.html; um resumo do mesmo texto, limitado às regras, foi colocado em meu Blog, post nr. 62, neste link:http://paulomre.blogspot.com/2005/12/62-dez-regras-modernas-de-diplomacia.html.
Boa sorte aos que tentam o ingresso na carreira, mas um aviso preliminar: será preciso estudar muito, antes e durante toda a carreira...
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 11 de janeiro de 2006
Eleicoes 2014: tres candidatos que acreditam no Estado - Veja
Artigo
No Brasil, candidatos creem que o Estado tem solução para tudo
Tal como o rei Luís XVI, que encarnava o próprio Estado, quem concorre à presidência, mesmo quando diz o contrário, tem fé excessiva no poder do governo

TRÊS GRAÇAS - Da esq. para a dir., Aécio, Marina e Dilma, em pinturas que retratam Luís XIV: olhando de perto, eles até que ficam bem com os paramentos de um rei que se dizia o próprio Estado (Montagem sobre quadros Museu Versalles/Getty Images e Corbis/Latinstock/VEJA)
Em sua última coluna para o jornal O Globo, o escritor baiano João Ubaldo, morto em julho, tratou de uma obsessão brasileira: a ideia de que o Estado é a fonte de todas as soluções, mesmo para aquilo que nem sabíamos que se constituía num problema. Sob o título “O correto uso do papel higiênico”, Ubaldo satirizou a onipotência estatal, que vive criando normas e regulamentos “para nos proteger dos muitos perigos que nos rondam, inclusive nossos próprios hábitos e preferências pessoais”. Agora, na reta final da campanha presidencial, essa obsessão brasileira esteve em plena evidência, com os principais candidatos demonstrando — mesmo quando querem dizer o contrário — sua excessiva fé no poder do Estado e do governo de resolver tudo.
Os candidatos falam como se fossem, eles próprios, a própria encarnação do Estado, mais ou menos como Luís XIV, o rei que cunhou a célebre frase “L’État c’est moi” (O Estado sou eu), para ilustrar seu poder incontrastável na França monárquica. Em julho, numa entrevista à TV, a presidente Dilma Rousseff disse: “Nós vamos manter o emprego, aqui no Brasil, em alta e o desemprego em baixa”. Há duas semanas, também em entrevista à TV, o tucano Aécio Neves, questionado sobre suas políticas para favorecer o crescimento econômico, respondeu assim: “Nossa candidatura é a que permitirá que o Brasil cresça.” Como se vê, os candidatos pensam que o governo cria emprego, que o governo comanda a economia e a faz crescer.
Marina Silva, a candidata do PSB, apresentou ideias que, de início, foram tomadas como propostas para cancelar a tutela estatal sobre os trabalhadores e as indústrias. Disse que, eleita, pretendia “atualizar” as leis trabalhistas, aparentemente ampliando a autonomia de patrões e empregados nos dissídios coletivos. Também prometeu “desmamar” a indústria, sugerindo que a deixaria atuar sem a proteção maternal de incentivos fiscais. Era tudo o contrário do que parecia, como a candidata fez questão de esclarecer. “Desmamar”, na verdade, significa “qualificar melhor” as isenções fiscais, de modo a cobrar uma contrapartida da indústria em favor do governo. E “atualizar” a legislação do trabalho queria dizer “manter os direitos já conquistados e ampliar aqueles que os trabalhadores ainda precisam conquistar”.
Nenhum dos três candidatos, nem mesmo Dilma, que reza pela cartilha do PT, se diz estatista ou estatizante. Nenhum defende a estatização de bancos ou hospitais. Aécio e Marina, sobretudo, apresentam-se como políticos do mercado, da iniciativa privada. Todos, porém, estão sempre vidrados em Brasília, no governo, no Estado, como se daí viessem todas as soluções para o Brasil e seu povo. Contabilizando-se a frequência com que cada candidato, em entrevistas e discursos, pronunciou as palavras “governo” e “mercado”, tem-se uma matemática surpreendente: Aécio, logo Aécio, que se posiciona como o político capaz de acalmar os mercados, falou nada menos que 638 vezes em “governo” e 24 em “mercado”. Dilma, em tese a mais estadocêntrica, falou bem menos em “governo” (150 vezes) e quase o mesmo que Aécio em “mercado” (23 vezes). Marina, outra que se apresenta como amistosa à iniciativa privada, falou 104 vezes em “governo” e só quatro em “mercado”.
A insistência dos candidatos pode parecer apenas receio de perder voto de um eleitorado que equaliza governo com salvação. Mas, por trás desses números, esconde-se uma visão de mundo na qual o Estado é o centro de todas as coisas: cria empregos, move a economia, abraça os pobres, os trabalhadores e os industriais, e protege os cidadãos dos “muitos perigos que nos rondam”. O Estado, claro, é resultado do avanço civilizatório. Apesar da globalização, que enfraqueceu parte de suas funções clássicas, os estados nacionais exercem papéis essenciais nas sociedades democráticas — da proteção aos mais vulneráveis à aplicação de uma política externa. Só não criam um centavo de riqueza, e todo o dinheiro que os governos gastam vem dos impostos pagos por cidadãos produtivos e por empresas que os empregam. Portanto, o Estado está abaixo — e não acima — da sociedade.
Comportando-se como personificação do Estado e fonte de todo o poder, os candidatos reforçam o histórico vício nacional de pedir socorro ao governo — seja para o que for. Marina gosta de denunciar as forças políticas que querem “um pedaço do Estado para chamar de seu”. Em entrevista, Dilma disse que sem os bancos públicos, como Caixa, Banco do Brasil e BNDES, “não saem rodovia, ferrovia, porto, aeroporto. Não sai VLT. Esquece, porque não sai”. É verdade, pois os bancos públicos dão empréstimos para obras de infraestrutura e cobram juros mais acessíveis, mas só é verdade porque queremos que seja assim. Não é um imperativo universal. O conflito entre o individualismo e a sociedade governada nasceu junto com o próprio Estado. Mas a sociedade que não abre o olho acaba tendo um Estado que lhe ensina o correto uso do papel higiênico.
Para ler outras reportagens compre a edição desta semana de VEJA no IBA, no tablet, no iPhone ou nas bancas.
Outros destaques de VEJA desta semana
4 COMENTÁRIOS:
Walace Ferreira.