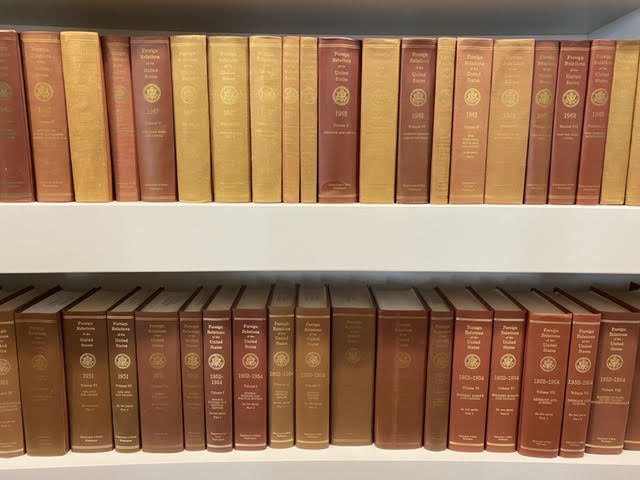Alguém “desenterrou” um texto meu de 2009, depois reproduzido no Ordem Livre, em 2014, do qual eu havia esquecido completamente.
Mas era sobre essas coisas amenas do neoliberalismo, consenso de Washington, quando a Academia brigava contra os seus próprios conceitos falaciosos.
Saudades desses tempos mais saudáveis. Atualmente temos de ficar ouvindo um besteirol inacreditável, feito de “globalismo”, “covidismo” e outras estupidezes ainda piores, vindas não só do chanceler acidental e suas “alucinações exteriores”, mas do próprio tresloucado que tenta dirigir o governo (hoje sob o controle cleptocrático do Centrão, e nisso repito um general boçal, que teve de engolir suas próprias palavras).
Acho que avançamos muito no grau de loucuras nacionais. Anteriormente, elas se colocavam num patamar mais ou menos racional, com o qual era possível dialogar.
Atualmente, as falácias não são apenas mentirosas: elas são simplesmente ALUCINANTES, como revelado no último (ou apenas o mais recente) discurso do patético chanceler em 22/10/2020. Outros virão, tenham certeza: estamos entregues a um bando de doidos.
Em todo caso, agradecendo a quem desenterrou meu texto de uma década atrás, reproduzo-o aqui abaixo.
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 28/10/2020
1. Da pouco nobre arte de ser falaz
Falácia, segundo os bons dicionários, é a qualidade ou o caráter do que é falaz, que, por sua vez, é um adjetivo sugerido como sendo o equivalente de enganador, ardiloso ou fraudulento, ou, ainda, quimérico, ilusório ou enganoso. Pois bem, ao longo de minhas “peregrinações” acadêmicas, tenho tido a oportunidade de deparar-me com exemplos de afirmações, argumentos, postulações, teses ou artigos inteiros que correspondem ao caráter enganador ou, até mesmo, fraudulento contido nesse adjetivo. Comecemos esta série por um dos mais recorrentes em nossos tempos.
Como sabem todos aqueles que convivem com a literatura acadêmica na área de ciências sociais, nenhum conceito tem sido tão equivocadamente mencionado no ambiente universitário, nas últimas duas décadas, quanto o epíteto “neoliberal”, junto com o seu correspondente coletivo e doutrinal, o “neoliberalismo”. A incidência estatística de seu (mau) uso é tão notória, que se poderia falar de uma verdadeira epitetomania anti-neoliberal, dirigida contra todas as políticas econômicas associadas, de perto ou de longe, ao chamado mainstream economics, este representado pelas correntes ortodoxas de pensamento e suas práticas econômicas correspondentes.
Junto com o substantivo usado e abusado de globalização, ou, ainda, o tão mais detestado quanto praticamente desconhecido programa econômico do “consenso de Washington”, o neoliberalismo converteu-se, simultaneamente, em um xingamento e em um slogan de uso praticamente obrigatório por todos aqueles que pretendem desqualificar e condenar as políticas e as práticas da escola econômica convencional. Eles o fazem, supostamente em nome de uma outra orientação, de uma doutrina ou de uma escola, que seriam, alegadamente, heterodoxas, alternativas e até mesmo opostas às primeiras. Os argumentos e teses utilizados para esse tipo de condenação são pouco compatíveis com um trabalho analítico sério, ou seja, capazes de passar pelos testes da coerência, relevância, compatibilidade com os dados da realidade e passíveis de aferição, independentemente dos próprios argumentos que sustentam a acusação.
Nesse sentido, o neoliberalismo já se converteu em um mito acadêmico, isto é, deixou de significar uma realidade empírica, aferível por dados extraídos de alguma situação concreta, para passar a representar uma entidade nebulosa, definida de modo muito pouco precisa, aplicada a diferentes conjunturas de países e políticas vagamente caracterizadas como pertencendo ao domínio dos “livres mercados”, em oposição ao que seria uma regulação estatal mais estrita. Não se é neoliberal por vontade própria, mas apenas por ter sido assim catalogado por aqueles que detêm o monopólio dessa classificação, que são, invariavelmente, os opositores de supostas idéias “neoliberais”.
Por certo, existem muitos outros abusos acadêmicos em relação a diversos conceitos que são usados indevidamente no panorama pouco rigoroso das nossas “humanidades”, entre eles o de classe, o de imperialismo, o de burguesia e vários do mesmo gênero. Contudo, o manancial de falácias que brota sem cessar a partir do uso inadequado do adjetivo “neoliberal” é provavelmente o mais abundante e o mais disseminado de que se tem registro desde os anos 1980. São tantas as variedades de uso e as manifestações qualitativas – ainda que superficiais – em torno desse termo, que fica difícil ignorá-lo como o campeão absoluto de referências numa série analítica que pretende, justamente, examinar alguns exemplos de falácias acadêmicas. Seu uso é tão corrente e banal que pode ser espinhoso selecionar uma “falácia” representativa de toda uma corrente de pensamento que se propõe aqui submeter ao crivo da crítica argumentada e sistemática.
Encontrei, porém, no contexto de minhas leituras, um texto suficientemente representativo de uma falácia acadêmica associada ao dito conceito e perfeitamente ilustrativo do mito mencionado no título deste ensaio. Vou proceder à citação do texto em questão, submetendo o trecho selecionado à crítica que pretendo fazer de toda uma orientação doutrinal muito comum nos meios ligados à comunidade universitária que se move em torno das chamadas humanidades. Os únicos critérios que me guiam na releitura crítica do texto em questão são aqueles que se espera encontrar em todo e qualquer trabalho acadêmico: clareza na descrição ou exposição dos fatos, coerência na apresentação dos argumentos, relevância do discurso para a realidade de que se pretende tratar e sua adequação aos dados dessa própria realidade.
2. As novas roupas do velho imperialismo, em sua fase neoliberal
Deparei-me, num típico volume que deve figurar entre as leituras obrigatórias ou recomendadas de vários cursos dentro dessa área, com a seguinte afirmação:
“...o produto social da globalização, o neoliberalismo tem sido o mais dramático possível. Em pouco tempo esse novo regime de acumulação desagregou sociedades, tornou os ricos mais ricos e ampliou a pobreza em praticamente todos os cantos do mundo, especialmente as nações da periferia, onde a barbárie social vem esgarçando o tecido social e incrementando a violência em todos os sentidos.” (autor: Edmilson Costa; artigo: “Para onde vai o capitalismo? Ensaio sobre a globalização neoliberal e a nova fase do imperialismo”; in Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari (coord.), Relações Internacionais: Múltiplas Dimensões; São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 201-233; cf. p. 206.)
Existe ainda outra frase extraída do mesmo artigo que me parece adequada ao propósito de avaliar criticamente o mito do neoliberalismo em certo pensamento acadêmico contemporâneo, embora esta acima me pareça uma perfeita síntese de tudo o que existe de equivocado e falacioso no “pensamento” universitário em torno desse conceito onipresente e polivalente. Vejamos em todo caso o complemento ideal a ela:
“O neoliberalismo é a síntese de todo esse processo de mudanças profundas que estão ocorrendo no sistema capitalista: funciona como uma espécie de gerenciador ideológico, político, econômico, social e cultural dessa nova fase do imperialismo. Trata-se de uma ideologia primitiva para os tempos atuais, com postulados do século XVIII e meados do XIX, época do capitalismo concorrencial, mas com um apelo espantoso ao senso comum. A ideologia neoliberal procura manipular os sentimentos mais atrasados das massas, revigorando os preconceitos, açulando o individualismo, distorcendo o significado das coisas, reduzindo os fenômenos à sua aparência, de forma a ganhar os corações e mentes para o jogo do livre mercado e da livre iniciativa.” (Idem, op. cit., p. 219)
Não vale a pena alertar para a incoerência de se destacar o caráter “primitivo” de uma ideologia que, sendo de meados do século XIX, tem mais ou menos o mesmo grau de “primitivismo” que o marxismo, nem para a inconsistência de se vincular a defesa do livre mercado e da livre iniciativa a “sentimentos atrasados das massas”, já que a mesma ideologia estaria, supostamente, “açulando o individualismo”. Pedir um mínimo de coerência analítica seria exigir demais de um autor que, manifestamente, distorce o “significado das coisas”, reduz o fenômeno do liberalismo à sua aparência, com o provável objetivo de ganhar os corações e mentes de alguns estudantes para o livre jogo dos seus argumentos ilusórios. Passemos, portanto, a examinar cada uma das partes dessas afirmações, elas mesmas espantosas, em relação ao neoliberalismo, com a atenção que nos requer este exemplo consumado de fraude intelectual (se é verdade que este último adjetivo se aplica ao caso em questão).
3. O neoliberalismo como produto de uma imaginação confusa
Em primeiro lugar, o neoliberalismo nunca foi um “produto social da globalização”. Esta é um processo tão velho quanto os empreendimentos marítimos dos mercadores fenícios da antiguidade e as aventuras em mares desconhecidos dos navegadores ibéricos do final do século XV. Em suas manifestações mais comuns, ela vem sendo aceita tranquilamente até pelos mais empedernidos opositores desse processo, aqueles que, sob inspiração francesa, acreditam que “um outro mundo é possível” e que pedem por “uma outra globalização”, que deveria ser não assimétrica e, preferencialmente, não capitalista. Quanto ao neoliberalismo, a rigor, ele não tem nada a ver com a globalização, podendo ser teoricamente encontrado em diversos sistemas econômicos, bastando com que as práticas econômicas se ajustem ao que se tem, via de regra, como os fundamentos do sistema liberal: liberdade de iniciativa, pleno respeito à propriedade privada e aos contratos, defesa do individualismo contra as intrusões do Estado e, de modo amplo, um conjunto de instituições e práticas que buscam garantir, tanto quanto possível, a liberdade dos mercados.
A rigor, o neoliberalismo não existe, sendo apenas e tão somente um revival, ou renascimento, de uma velha escola de pensamento econômico e de orientações em matéria de políticas econômicas que se filiam ao antigo liberalismo doutrinal que surge na Grã-Bretanha a partir dos séculos XVII e XVIII. Aliás, nenhum “neoliberal” consciente e conseqüente se classificaria dessa maneira: ele apenas diria que segue os princípios do liberalismo (econômico ou político, não vem ao caso diferenciar aqui os dois sistemas, que não são idênticos, mas tampouco estranhos um ao outro) e ponto final; todo o resto seria dispensável. Neoliberal é, como já referido, um epíteto criado pelos opositores do liberalismo ou, se quisermos, um conceito que busca evidenciar, justamente, o retorno do antigo liberalismo, depois de um longo intervalo marcado por práticas e orientações claramente intervencionistas e estatizantes.
Mas continuemos. Deixemos de lado a caracterização de “dramático” aplicada a esse “produto”, pois isto corresponde a uma apreciação inteiramente subjetiva do autor, carente de qualquer fundamentação empírica. Esclareça-se, de imediato, que o “produto” não conforma, absolutamente, um “novo regime de acumulação”, que seria, supostamente, uma forma de organização social da produção e da distribuição de bens e mercadorias historicamente inédita para os padrões conhecidos do capitalismo. Ora, o liberalismo – e seu sucedâneo contemporâneo, que seria “neo” – está longe de ser novo e menos ainda de conformar um regime de acumulação, posto que configurando uma filosofia ou orientação geral nos terrenos da política e da economia. Acumulação é um termo geralmente associado ao pensamento econômico marxista, que denota formas genéricas de apropriação dos resultados sociais do processo de produção, o que pode ocorrer em regime de livre concorrência, de monopólio, de propriedade estatal ou de modalidades mistas dessas configurações produtivas. Aparentemente este autor demonstra pouco rigor na sua utilização do ferramental conceitual marxista; em benefício próprio, deveria ser mais cuidadoso com sua terminologia estereotipada.
Pretender, agora, que esse “novo regime” desagregou sociedades equivaleria a afirmar que o neoliberalismo foi responsável pela desestruturação de várias nações que conheceram a aplicação de políticas neoliberais. Olhando-se, honestamente, um mapa dinâmico do planeta, o que poderíamos constatar é que as únicas sociedades verdadeiramente desestruturadas da atualidade são algumas nações africanas que conheceram processos traumáticos de instabilidade política e social, algumas até atravessando guerras civis abertas e conflitos étnicos ou religiosos intermitentes, ou surtos violentos de conflitos tribais que se arrastam na quase indiferença das nações mais ricas do planeta, estas efetivamente “neoliberais” ou simplesmente liberais.
Com efeito, se podemos caracterizar algumas sociedades como mais liberais do que outras, estas parecem ser as nações do chamado arco civilizacional anglo-saxão (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia), sendo elas seguidas como menor rigor doutrinal (e maior pragmatismo) pelos países nórdicos ou escandinavos (Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia). Quanto aos países da Europa ocidental, essencialmente capitalistas em seu “modo de produção”, eles têm alternado práticas e políticas liberais – ou politicamente “direitistas”, para sermos simplistas – com outras tantas práticas e políticas mais social-democráticas, geralmente conduzidas por partidos de esquerda ou progressistas. No fundo, não se vê bem como distinguir essas políticas entre elas, a não ser no plano da retórica eleitoral.
Em nenhum outro continente ou região podemos distinguir países e sociedades verdadeiramente “neoliberais”, se formos rigorosos na utilização desse conceito. De fato, pretender que países latino-americanos, que empreenderam programas de ajuste e de estabilização macroeconômica depois de longas e recorrentes crises econômicas trazidas por processos inflacionários e de desequilíbrio no balanço de pagamentos, sejam ou tenham sido “neoliberais” – qualquer que seja o entendimento que se dê a esse conceito – representaria abusar em demasia desse conceito, retirando-lhe qualquer precisão metodológica e adequação à realidade empírica que nos é dada observar ao longo das últimas décadas.
Olhando com lupa, talvez se pudesse dizer que o Chile se apresenta como um país mais “neoliberal” do que a média dos latino-americanos. Ora, não se pode dizer que a sociedade chilena esteja “desestruturada”, a qualquer título. Colocando a lupa em outras sociedades da região, o que se observa é que existem, sim, alguns países bem mais desestruturados: os primeiros que aparecem são a Bolívia, a Venezuela e o Equador, com a possível inclusão da Argentina nesse conjunto. Pois bem, dificilmente se poderia dizer que eles estão assim por causa do neoliberalismo. Ao contrário. Em cada um deles, o que se observou, ao longo dos últimos anos, por acaso coincidentes com seus respectivos processos de desestruturação, foi, justamente, a aplicação de políticas dirigistas, estatizantes, intervencionistas, heterodoxas e, até, socialistas; ou seja, tudo menos políticas liberais. O autor deve estar com suas lentes embaçadas por preconceitos ideológicos, o que o impede de constatar a simples realidade de políticas econômicas que são efetivamente aplicadas nos diversos países considerados.
4. O neoliberalismo produz miséria e é sinônimo de barbárie?
O que dizer, em seguida, da suposta ação do neoliberalismo, que teria ampliado “a pobreza em praticamente todos os cantos do mundo, especialmente as nações da periferia”? Trata-se, mais uma vez, de afirmação desprovida de qualquer fundamentação empírica, não se podendo apoiá-la em praticamente nenhum exemplo de sociedade reconhecidamente “neoliberal”, qualquer que seja. A África, como vimos, afundou de fato na pobreza e na desesperança – embora ela venha crescendo novamente nos últimos anos –, mas essa evolução dificilmente poderia ser creditada à ação do neoliberalismo. Desafio o autor do texto selecionado a provar o contrário.
Quanto às duas nações “periféricas” que mais progressos fizeram na elevação gradual de uma miséria abjeta para uma pobreza aceitável, a China e a Índia, o que se observou, nas últimas duas décadas, foi um conjunto de reformas, várias ainda em curso, conduzidas justamente na direção de mecanismos de mercado, não de orientações estatizantes ou de planejamento centralizado. A renda per capita tem se elevado, progressivamente, em ambos os países, especialmente na China, que deu saltos espetaculares na redução da pobreza e na abertura de setores inteiros de sua economia à livre iniciativa e ao capital estrangeiro (todo ele capitalista e, supostamente, neoliberal). Quanto à Cuba socialista, ela conseguiu realizar a proeza de passar da maior renda per capita da América Latina em 1960 – não escondendo o fato de que ela era bem mal distribuída – para um patamar abaixo da média, em 2006, confirmando o consenso de que o socialismo é bem mais eficiente em repartir de modo relativamente igualitário a pobreza existente do que em criar novas riquezas.
Pode-se, talvez, alegar que as mudanças econômicas ocorridas na China vêm sendo feitas sob a égide do planejamento estatal e sob a firme condução do Estado chinês, que mantém controle sobre setores ditos estratégicos da economia do país. Essa realidade não elimina o fato de que todas as reformas operadas apresentam um caráter essencialmente capitalista e, portanto, tendencialmente neoliberal, ainda que não na versão “quimicamente” pura do modelo original anglo-saxão. O estilo ou a forma não pode sobrepor-se à essência do sistema, caberia registrar. Neste caso, nosso autor ou é cego ou é intelectualmente desonesto, ao não querer reconhecer esses dois processos de “enriquecimento capitalista”, que se desenvolvem sob os olhos de todo o planeta há aproximadamente duas décadas. Suas lentes estão completamente fora de foco ou muito sujas, aparentemente. Um pouco de estatística não lhe faria mal.
O fato de que, em vários desses processos – tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento –, os ricos estejam se tornando mais ricos não impede o outro fato concomitante de que os pobres estejam se tornando menos miseráveis. Quem não quiser tomar minha afirmação como um argumento de fé, pode conferir os dados apresentados por estudiosos da distribuição mundial de renda, como Xavier Sala-i-Martin, cujas evidências e conclusões já resumi neste artigo: “Distribuição mundial de renda: as evidências desmentem as teses sobre concentração e divergência econômica”, Revista Brasileira de Comércio Exterior (Rio de Janeiro: Funcex, ano XXI, n. 91, abril-junho 2007, p. 64-75; disponível: https://www.academia.edu/5904200/1716_Distribuição_mundial_de_renda_as_evidências_desmentem_as_teses_sobre_concentração_e_divergência_econômica_2007_ ).
Se existem sociedades nas quais a “barbárie social vem esgarçando o tecido social e incrementando a violência em todos os sentidos”, como pretende o autor, elas estão longe de representar um modelo de “acumulação” ou de organização social da produção que seja liberal ou neoliberal, sendo mais efetivamente caracterizadas pelo autoritarismo político e pelo extremo intervencionismo econômico do Estado, quando não entregues à violência política, religiosa ou tribal, pura e simples, como parece ser o caso de alguns países do continente africano ou do Oriente Médio.
A afirmação carece, assim, de qualquer embasamento na realidade, sendo uma construção puramente mental de um autor manifestamente enviesado contra o que ele crê ser “neoliberalismo”, quando nenhum exemplo concreto desse sistema é discutido ou sequer aventado. Para um autor como esse, ser contra o neoliberalismo significaria se posicionar contra o livre comércio, contra o ingresso do capital estrangeiro, contra a administração em bases de mercado de inúmeros serviços públicos, contra a fixação dos juros e da paridade cambial pelo livre jogo da oferta e demanda de crédito e de moeda, enfim, preservar o controle estatal de inúmeras atividades com impacto social.
Se formos examinar, contudo, os dados econômicos relativos à renda, riqueza e prosperidade de um conjunto significativo de países, estabelecendo duas colunas, nas quais se colocaria, de um lado, os mais “neoliberais” – abertura ao comércio e aos investimentos, menor regulação estatal de atividades de produção e distribuição, fluxo livre de capitais e fixação dos juros e câmbio pelo mercado – e, de outro, os países menos propensos à abertura e mais inclinados à regulação estatal, e certamente quanto ao movimento de capitais – como são em grande medida os da América Latina, do Oriente Médio e da quase totalidade da África – teríamos uma correspondência quase perfeita entre maiores coeficientes de abertura, isto é, maior grau de “neoliberalismo”, e maior renda e prosperidade. O “quase perfeita” vem por conta de países de grande mercado interno – como os EUA – que apresentam pequeno coeficiente de abertura externa (apenas no que tange ao peso do comércio exterior no PIB), sem no entanto deixar de serem abertos às importações e atrativos aos capitais estrangeiros. Ou seja, a liberalização em comércio e em investimentos e um ambiente de negócios favorável à iniciativa privada constituem, sim, poderosas alavancas para a formação de riqueza e a distribuição de prosperidade.
5. O neoliberalismo é um mito, mas alguns ingênuos não sabem disso
Em qualquer hipótese, porém, o neoliberalismo é um mito, tanto pelo lado das acusações infundadas dos anti-neoliberais, como pelo lado dos promotores da própria doutrina liberal, uma vez que todos os Estados modernos, sem exceção, apresentam graus variados de intervenção no sistema econômico e de regulação da vida social. Uma série estatística sobre níveis de tributação e gastos públicos, ao longo do século XX, revelaria um avanço regular e constante da intermediação estatal nos fluxos de valor agregado e de dispêndio total, confirmando o papel sempre relevante do Estado na repartição setorial da renda total e na correção das desigualdades mais gritantes introduzidas pelos regimes puros de mercado. Aliás, falar em “Estado liberal” é uma total contradição nos termos, tanto o substantivo desmente o seu suposto adjetivo.
O que estava, contudo, em causa na análise conduzida neste ensaio de simples avaliação crítica de um dos mitos mais difundidos na academia não era, propriamente, a evolução econômica das modernas sociedades de mercado, e sim a afirmação – que vimos totalmente desprovida de qualquer fundamentação empírica – de que existe algo chamado neoliberalismo sendo ativamente praticado pelos Estados modernos e de que essa doutrina e prática seriam responsáveis por todas as misérias da sociedade contemporânea. Trata-se de uma das fabulações mais inconsistentes de que se tem notícia na produção acadêmica tida por séria e responsável.
Os dados disponíveis, revelados por organismos internacionais e por uma variedade razoável de organizações independentes, confirmam a melhoria sustentada dos padrões de vida em diferentes regiões do planeta, tanto mais rápida e disseminada quanto mais integrados estão esse países e regiões aos fluxos mundiais de comércio, tecnologia e investimentos. Assim, considerar que a “acumulação” neoliberal ampliou a pobreza em todos os cantos do mundo, aprofundou as desigualdades e provocou o cortejo de misérias que são registradas em áreas jamais tocadas por políticas e práticas neoliberais – qualquer que seja o entendimento que se dê ao conceito em questão –configura um tipo de fraude que só consegue ser repetido impunemente em salas de aula universitárias porque a academia brasileira é pouco responsável no “controle de qualidade” dos cursos da área de humanas e nos métodos de avaliação de docentes manifestamente despreparados para cumprir o programa do qual são encarregados. Para sermos mais precisos, estamos em face de uma desonestidade intelectual que só encontra paralelo em apresentações de mágicos de circos mambembes.
Termino por aqui minha primeira análise de uma falácia acadêmica detectada em livros utilizados em universidades brasileiras. De fato, o mito do neoliberalismo – que não guarda a mínima correspondência com a realidade verificável – oferece um exemplo concreto desse tipo de prática, mais comum do que se pensa, aliás, em nosso ambiente universitário. A um simples trecho selecionado de um artigo do autor aqui examinado pode-se aplicar o conjunto de caracterizações dicionarizadas e conectadas ao termo “falácia”: enganador, ardiloso, fraudulento, quimérico e ilusório. Outros exemplos certamente existem: eles também serão trazidos a exame no momento oportuno. Concluo com um aviso à maneira dos franceses: à suivre...
* Publicado originalmente em 09/03/2009.