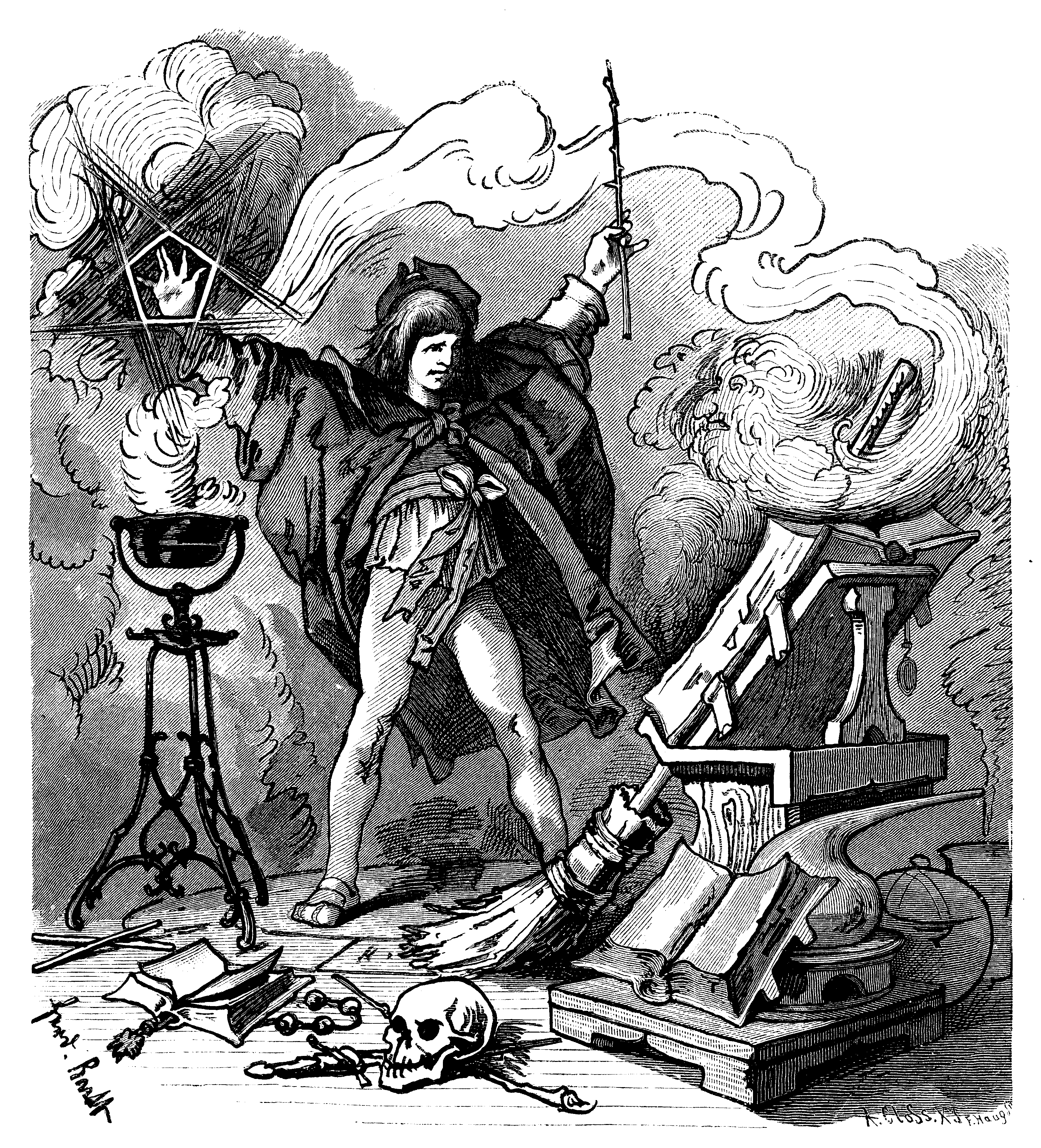Professor do
Departamento de Teoria e Filosofia do Direito da USP e da Fundação Getúlio
Vargas, José Eduardo Faria acaba de lançar o livro Corrupção,
Justiça e Moralidade Pública (Editora Perspectiva). Reunindo
artigos, ensaios e palestras do período 2016-2019 publicados sobretudo no
jornal O Estado de S.
Paulo, neste Estado da
Arte e no site jurídico Jota,
o livro cobre um período marcante e conturbado: aquele das intensificações da
maior operação de combate à corrupção no Brasil, do segundo impeachment de
nossa jovem democracia, da prisão de um ex-presidente da República e das cada
vez mais radicais tensões políticas e institucionais. Nesta entrevista, Faria
fala ao Estado da Arte sobre
os principais temas desenvolvidos nos artigos do livro, das disputas entre
garantistas e punitivistas no quadro atual à engenharia conceitual de nossa
Constituição.
Estado da Arte: Em um dos artigos do seu livro Corrupção,
Justiça e Moralidade Pública, “O pessimismo como dever civil”, o
senhor cita Norberto Bobbio como uma receita para períodos de crise
institucional: “O pessimismo é um dever civil porque só um pessimismo radical
da razão pode despertar aqueles que, de um lado ou de outro, mostram que ainda
não se deram conta que o sono da razão gera monstros”. O senhor avalia que nós
seguimos em uma crise institucional desde então? O que caracterizaria esse
“pessimismo civil”?
José Eduardo Faria: O texto de Bobbio a que me refiro é um artigo publicado em um dos
momentos mais críticos na política italiana, quando o corpo do
primeiro-ministro Aldo Moro foi encontrado e quando se descobriu que a máfia
financiava a Democracia Cristã, com todos os atos terroristas que marcaram os
anos 1970. Naquele momento, a democracia do país estava sendo corroída por todo
tipo de corrupção e radicalização. É quando começam a ressurgir discursos que,
no fundo, eram proto-fascistas. De alguma forma, aquilo fez com que a velha
geração, como era a do Bobbio, acabasse muito preocupada com o risco de um
retrocesso como este que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E ele termina
aquele artigo (um texto brilhante que está em um livro chamado As ideologias
de poder) com três metáforas – a do peixe na rede, a da mosca
na garrafa e a do homem no labirinto.
Nós negamos
virtudes ao eleitor, que não sabe escolher seus candidatos e se deixa seduzir
por um populista. É mais ou menos como o peixe na rede – vota em qualquer um
porque está fadado a se dar mal. Por mais que tente se libertar ele não
consegue: vai morrer de uma forma absolutamente dramática. A imagem da mosca na
garrafa fechada com uma rolha, com o oxigênio acabando, prestes a morrer
sufocada e sem força para estourar aquela rolha, logo, precisa de um braço que
a puxe ilustra o risco do chamado a um braço armado. Por fim, vem a velha ideia
da experimentação, que é a do homem no labirinto. Se ele tiver o mínimo de
capacidade reflexiva, acaba encontrando saída. Por erros e acertos, aprende quais
são as saídas erradas e busca as certas. Bobbio diz que, quando nós temos um
pessimismo de razão – e ele vai buscar esse pessimismo em Weber –, quando temos
uma atividade interrogativa, quando conseguimos tirar do valor de face aquilo
que os articuladores políticos realmente querem, conseguimos, então, encontrar
algumas alternativas viáveis. Esse é o pessimismo civil saudável.
Sobre o quadro de
crise institucional, diria que nós estamos mais surpresos com o Bolsonaro do
que os mais céticos seriam capazes de imaginar. Primeiro, ele não tem uma pauta
de governo. Segundo, é semialfabetizado. Terceiro, é absolutamente confuso,
incapaz de raciocinar sistemicamente – é quase evidente que ele tem
dificuldades cognitivas. E, além de ser uma pessoa embrutecida – e,
ao mesmo tempo, vulgar e ignorante –, ele é também uma figura
extraordinariamente autoritária, que desconhece o funcionamento das
instituições. A fala dele a respeito do Judiciário e do Legislativo é de alguém
que não conhece as regras mais elementares do processo político. Não tem nenhum
respeito pela Constituição, pela ordem jurídica, pelos partidos políticos. É
uma figura que, ao meu ver, vai se tornando potencialmente perigosa.
Estado da Arte: As revelações do site The
Intercept sobre o que parece ter sido um caso de orientação de
Sérgio Moro (à época juiz da Lava Jato) à acusação, na figura do procurador
Deltan Dallagnol, agrava o quadro de crise institucional?
José Eduardo
Faria: Pode estar alimentando
tensões políticas, mas não alimenta a crise institucional.
Estado da Arte: Antes de Bolsonaro, nas tensões do impeachment, e mesmo depois, o senhor
já detectava essa crise?
José Eduardo
Faria: A gente já vinha de uma
crise institucional. Houve um certo esgotamento depois da eleição da Dilma,
principalmente no segundo mandato, do presidencialismo de coalizão. O Congresso
percebeu com uma certa clareza que o impeachment era mais fácil do que eles
imaginavam. Quando, com a pressão das ruas, a Dilma caiu, eles perceberam que o
impeachment era mais do que um instrumento para nivelar crises institucionais –
poderia ser um instrumento para debelar presidentes que não tivessem
sustentação no Congresso e não fizessem o que os “centrões” da vida queriam.
A partir desse
momento, o jogo parlamentar sai da policy –
de um jogo de alternativas de políticas públicas – e entra na politics –
num jogo de mudanças legais e constitucionais que, por sua vez, levam para a polity –
matriz institucional da democracia brasileira. Em português, a gente usa a
palavra política para
descrever o que o inglês descreve em três dimensões: policy,
politics e polity.
A polity é o framing.
Se você mexer na polity, isso
pode desestruturar as instituições, e a democracia vai por água abaixo. O jogo
natural é quando há um debate de policies nas
eleições parlamentares. Politics é
quando há uma eleição presidencial com alternativas de poder, mas sem
alternativas nas instituições. O impeachment chapou tudo. Na realidade, ele
erodiu a discussão sobre as policies.
Não há mais essa discussão, que no passado girava em torno de mais mercado e
menos mercado, mais privatização, menos privatização, por exemplo. Mexeu na
estrutura da politics com
a desestruturação do sistema partidário e, se depender de Bolsonaro, vai mexer
na polity e
vai desestruturar o que resta das instituições. Um dos filhos dele já falou que
para fechar o supremo basta um cabo e um soldado. O próprio presidente já falou
na solução de jogar mais cinco ou seis ministros do Supremo para ter maioria
(que foi o que Costa e Silva impôs ao Castelo Branco em 1967). Claramente, esse
é um discurso disruptivo das instituições. Isso abre caminho para que outros
grupos apareçam também radicalizados, o que indica uma fragilização do sistema.
O Brasil tem uma estrutura sedimentada maior do que a gente imagina, mas essas
coisas me preocupam. A noção de policy nesse
momento está perdida no governo Bolsonaro. Não acho que dele venha nada de
inteligente. O governo não tem pauta, não tem agenda, não tem projeto – tem um
discurso ideológico, vive do confronto.
Estado da Arte: O conjunto de artigos reunidos em seu livro,
nesse período que vai de 2016 a 2019, tem foco nas tensões entre “famílias”
interpretativas do Direito – “garantistas” e “punitivistas” seria
um modo de apresentar a questão. No entanto, a ênfase toda agora parece recair
sobre a política.
José Eduardo Faria: Tudo tem levado as análises para a
política. Agora, isso não quer dizer que, por trás dessas discussões políticas
e institucionais, não esteja o Supremo dando a última palavra. Vai ficando evidente
que o Supremo vai ser a âncora de salvação da polity no
Brasil. Volto a insistir: policy,
politics e polity. Quem
vai segurar um “framing” vai ser o Supremo.
Estado da Arte: Há uma tese defendida por muitos analistas e
cientistas políticos segundo a qual a Lava Jato é indiretamente responsável por
Bolsonaro ter sido eleito presidente. O senhor endossa a tese?
José Eduardo Faria: Eu acho que essa ideia de que existe o
“Partido do Ministério Público” ou o “Partido da Justiça” não se sustenta. O
que você tem na realidade é um jogo corporativo pesado. É um jogo cultural
também bastante interessante nas instituições de Direito. Há 20 anos, o MPF
estava tão politizado quanto está hoje. Não sei se você se recorda que havia
dois procuradores – Guilherme Schelb e Luis Francisco de Sousa – que
tumultuaram o governo Fernando Henrique do começo ao fim do segundo mandato, a
ponto de conseguirem liminares com juízes federais de comarcas do interior do
Amazonas, do interior do Nordeste, obrigando a Advocacia-Geral da União a
mandar advogados da União com jatinhos da FAB para tentar às pressas cassar
aquelas liminares.
Pode haver uma mudança de perfil, mas a tática
continua. Isso sempre aconteceu no Ministério Público. O MP sempre teve, na sua
função de acusar, protagonistas que se valeram dessa prerrogativa para se
lançarem como justiceiros, moralistas e para transformar a carreira de promotor
em caminho para a política. O Hélio Bicudo fez isso, o Fleury fez isso. O Pedro
Taques, que foi governador do Mato Grosso, era procurador da República e mandou
prender o Jader Barbalho. Há uma certa tradição de procuradores que vão para a
política. O cargo dá projeção, coloca você na mídia. Sérgio Moro, que chegou a
ser juiz auxiliar da [ministra] Rosa Weber no Supremo, enfrentou oposição na
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que lhe exigiu
que ministrasse aulas no meio da semana, coisa que não poderia fazer. Aquilo
vinha de briga política e corporativa interna. Ao obrigar Sérgio Moro a voltar
para Curitiba, esse pessoal não percebeu que tinha dado a ele, sem que o
próprio Moro percebesse, aliás, um super poder, que foi a 13ª Vara Criminal
Federal de Curitiba, transformando-o, no longo prazo, ou num presidenciável, ou
num futuro ministro do Supremo, ou, no mínimo, nessa figura que ele é agora.
José Eduardo Faria: Sim. Eu lancei dois olhares a esse
fenômeno: o da filosofia e o da sociologia do Direito, que consiste em analisar
esses julgamentos da Lava Jato a partir da hermenêutica jurídica, do conflito
de famílias interpretativas do Direito e de distintas gerações. A partir dessa
perspectiva, percebe-se claramente que, a despeito da vasta gama de doutrinas
sobre o tema, tem-se, de uma lado, a linha positivista ou normativista, que
privilegia o critério lógico-formal – que não se preocupa com a política, com a
economia, com a história, com a antropologia, apenas com a amarração
lógico-formal do sistema jurídico numa pirâmide normativa que começa na
Constituição e vai descendo até chegar ao contrato –; e, de outro, tem-se o
realismo jurídico que, nos séculos 19 e 20, foi aberto por um juiz americano
brilhante chamado Oliver Wendell Holmes Jr. e que, até hoje, pauta grandes
juristas americanos e ingleses, para os quais não existe interpretação literal
do Direito, sendo necessário sempre buscar o sentido da norma, o que o
legislador queria, se essa norma já tem uma certa duração, como é que ela
sobreviveu, e que tipo de ajuste nós podemos fazer hermeneuticamente dessa
norma, que veio do passado, sendo aplicada a um caso concreto cujos valores
nada têm a ver como contexto original de emergência daquela norma.
No Judiciário, percebe-se essa divisão do ponto
de vista geracional, com juízes mais jovens e juízes mais velhos, em linhas
gerais, assumindo cada uma dessas posições hermenêuticas. Os juízes mais velhos
têm uma formação franco-românica no campo do Direito civil e do Direito
privado, e uma formação germano-românica no campo do Direito penal. Os juízes
mais jovens, além de partilharem, em muitos casos, de formação anglo-saxã em
algum nível, já integrados ao mundo da globalização (sobretudo financeira), são
juízes que vieram depois da Constituição de 1988, e sobretudo, perceberam uma
coisa que os juízes mais velhos não perceberam, e que eu vou tentar explicar. A
tarefa de legislar uma sociedade requer um mínimo de unidade jurídica para
garantir a diversidade social, e para isso, é preciso se valer de um código feito
de um corpo geral de normas abstratas e impessoais para dar conta de sociedades
pouco diferenciadas. O conceito de complexidade para nós, na sociologia e na
filosofia do Direito, diz respeito à ideia de uma sociedade que vai se tornando
mais diferenciada funcionalmente em sistemas especializados, e cada sistema
especializado tende a se subdividir em sistemas ainda mais especializados. O
problema é que lá atrás, em 1988, ninguém percebeu que a sociedade brasileira
já era uma sociedade diferenciada funcionalmente em sistemas especializados.
Qual é o problema que vai surgir? É que, para as sociedades funcionalmente
diferenciadas, você não consegue mais trabalhar com a ideia de código. Os
códigos perderam sua referência normativa, tornando-se inviáveis. Foi
exatamente nesse momento que, não só o Brasil, mas países como a Espanha e
Portugal, quando saíram de uma ditadura, começaram a perceber a importância dos princípios.
Estado da Arte: E como operam esses princípios?
José Eduardo Faria: O princípio é uma norma que tem o texto
aberto, que se vale de conceitos indeterminados. Enquanto a norma tem uma
textura fechada que se vale de conceitos muito objetivos, os princípios se
valem de conceitos polissêmicos. O legislador constitucional trabalha quase
sempre a partir de uma atitude prudencial que é identificar aquilo que é
tradição, aquilo que é rotina, aquilo que é comportamento sedimentado, aquilo
que gera expectativas comuns de justiça. Ou seja, ele trabalha com aquilo que
funciona, e transforma esse material, através de um processo de observação, em
regra. Como aquilo que ele transformou em uma regra já funciona, a sociedade
continua reproduzindo aquele comportamento acriticamente, daí a noção de eficácia de
um texto constitucional.
O problema surge quando você tem de regular um
comportamento inédito – e não há uma maioria política clara que apoie
democraticamente uma alternativa, já que os próprios atores políticos estão
confusos com aquilo. É nesse momento que você é obrigado a recorrer a uma
estratégia tópica para tentar, através de um discurso e de conceitos
deliberadamente ambíguos, ir conquistando o apoio da sociedade. O princípio da
boa fé no Direito; o princípio da função social no contrato; o princípio da
função social da propriedade; o princípio da dignidade do homem livre na
Constituição; o princípio do homem livre no trabalho; o princípio do Direito da
subsistência: todos esses conceitos são indeterminados, e o legislador se vale
deles a partir de uma estratégia política de passar a mensagem “olha, eu não
vou oferecer uma resposta permanente, mas eu prometo que nessa linha oferecerei
em breve uma resposta”. Os princípios permitem uma aparência de que
determinadas matérias constitucionais foram tratadas. Como eles são
polissêmicos, cada segmento que defendia uma posição X, Y, Z ou W se achou
representada naquele princípio, e o princípio deu uma espécie de fecho de
abóbada consensual, o que permitiu que a Constituição chegasse ao seu final. A
estratégia dos constituintes era fechar questão temporariamente por meio de
princípios, uma vez que a tensão política era grande. Depois, com a primeira
eleição democrática (1989), viria uma maioria que poderia substituir os
princípios por regras, até completar o quadro constitucional – foi essa a
estratégia deles. Mas isso não aconteceu.
Ocorre que os princípios têm eficácia desde que
sejam usados em caráter absolutamente excepcional, e nossos constituintes
usaram e abusaram da figura jurídica dos princípios. Com isso, a Constituição
ficou particularmente sensível a interpretações. Em um país que adota um
sistema de controle difuso, um juiz de primeira instância – dependendo de sua
formação, da sensibilidade política vinda de um centro acadêmico – vai
perceber, com o tempo, que os princípios são tão vagos que ele pode deixar de
lado a regra e dar um sentido àquele princípio em um caso concreto.
Com isso, os promotores e os juízes têm um poder
de fogo que não tinham no passado. Descobriram aquilo que os velhos juízes e procuradores
de justiça não descobriram, e que os parlamentares demoraram para perceber –
que aquela divisão tripartite (Judiciário, Legislativo e Executivo) foi para o
espaço. Na medida em que a Constituição de 1988 jogou muitos princípios, deu um
papel de colegislador para os juízes de primeira instância. Foi assim que o
juiz Fausto De Sanctis mandou prender o Daniel Dantas, por exemplo. Duas ou
três horas depois de ele ser solto pelo Gilmar Mendes, o De Sanctis mandou
prendê-lo novamente. O Gilmar o desafiou, dizendo que não tinha base legal. E o
De Sanctis deu entrevista para todos os jornais, com um sorriso de orelha a
orelha, falando que o princípio da moralidade pública o autorizava a fazer
aquilo.
Quase dez anos depois, o Moro também vai fazer
isso. Condenou o Lula com base nos princípios, enquanto os advogados dele – da
velha guarda – ficaram trabalhando no discurso do garantismo. O que eu quero
dizer é que a magistratura, num processo jovem, de erro e acerto, percebeu que
a figura da tripartição dos poderes foi para o espaço com o uso quase abusivo
dos princípios. Não vou dizer abusivo porque é um termo negativo, mas a partir
de uma estratégia de sobrevivência que os constituintes de 1988 tiveram.
Portanto, não existe um partido do Ministério
Público, não existe um partido da Justiça.
Estado da Arte: É uma falha grave de nossa Constituição, então?
José Eduardo Faria: No livro, eu não estou julgando se a
Constituição é boa ou má. Estou tentando mostrar como a engenharia
constitucional, durante a Constituinte, da perspectiva mais tradicional dos
constituintes, não funcionou. Quando perceberam que a coisa ia fugir do
controle deles, eles apelaram para a criatividade – e a criatividade acabou
tendo como externalidade a ampliação do número de princípios. Com base nessa
ampliação, os juízes e os promotores mais jovens – com uma certa vivência de
centros acadêmicos, movimentos sociais, etc. – perceberam claramente aquela
brecha para poder tomar decisões.
Estado da Arte: É isso que está na base da concepção de atuação
da Lava Jato?
José Eduardo Faria: Essa geração mais jovem percebeu uma
mudança no Direito penal, oriunda de estratégia adotada inicialmente na Europa
para combater lavagem de dinheiro associada às máfias, ao tráfico e ao
terrorismo. Isso levou à criação, na década de 1980, de um grupo na OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) chamado GAFI (Grupo
de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro), que
desenvolveria uma minuta com elementos de um Direito penal econômico que seria,
depois, “importada” pelos países da organização. No caso do Brasil, país
observador, o governo FHC internalizou esse Direito penal econômico em troca de
acesso à tecnologia e linhas de crédito favorecidas. Esse Direito penal
econômico foi inteiramente formulado a partir do Direito anglo-saxônico,
marcado pelo realismo que comentei há pouco. Isso explica, em parte, o choque
de gerações e de
famílias do Direito sobre o qual falávamos acima: essas novas
gerações de promotores e juízes, incluindo o próprio Sérgio Moro, fizeram algum
tipo de especialização ou de pós-graduação em universidades americanas ou
inglesas. Todos eles acabaram percebendo, de um lado, a flexibilidade dos
princípios no desenho constitucional e, de outro, a flexibilidade de usar
procedimentos anglo-saxônicos. A reação a isso é o discurso do “garantismo”.
Repare que isso não é novo: as gerações mais velhas, mais próximas do
“garantismo” e do formalismo do Direito germano-românico, já haviam saído
derrotadas durante o julgamento do Mensalão, muito antes de Sérgio Moro,
Dallagnol e outros personagens da Lava Jato despontarem no cenário.
Estado da Arte: No entanto, parece ser consenso que as
revelações do site The Intercept acerca
das articulações entre o Procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sergio Moro
na Lava Jato constituem uma falta moral, e talvez, legal, indo muito além de
uma questão de formação diferente. O senhor interpreta a situação nesses
termos?
José Eduardo Faria: Sim, o balanço das revelações das
conversas do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador-chefe da força-tarefa do
Ministério Público Federal em Curitiba deve pesar mais pelo lado moral ou ético
do que pelo lado jurídico. Neste caso, como a interceptação das conversas foi
absolutamente ilegal, dificilmente as conversas serão aceitas pelos tribunais
como fundamento ou prova para que ambos venham a ser condenados. Além disso,
como as conversas parecem ter sido editadas e o que foi divulgado está
descontextualizado, haveria a necessidade de contraprovas. Mas como obtê-las? É
praticamente impossível fazer uma perícia sem elas. Claro, haverá discussões
nos tribunais superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde
muitos ministros não encaram Moro com bons olhos e não gostariam de tê-lo como
colega de toga, por ser apenas um simples juiz de primeiro grau. Mas não vejo
como poderão puni-lo. Do ponto de vista moral, contudo, a imagem, ficou
maculada perante quem tem instrução suficiente para entender que se deixou
levar por uma ética maquiavélica, no sentido de que os fins – no caso, a defesa
da moralidade pública, por um lado, e o afastamento do ex-presidente Lula da
vida política, por outro – justificam os meios. Ele pode ser visto como herói
pelas massas. Mas quem tem um mínimo de descortino sabe que ele não se
comportou bem.
Estado da Arte: Nesse caso, não foi “realismo” jurídico
defensável…
José Eduardo Faria: Foi maquiavelismo mesmo, não realismo.
Não há como se justificar colaboração íntima entre juízo e acusação.
Estado da Arte:Frequentemente se apresenta a Lava Jato, assim
como, em geral, as interpretações mais amplas de “princípios” e esse “realismo”
jurídico, de modo favorável, pois seriam uma armas para travar o “bom combate”:
combater a corrupção, por exemplo. Mas, valendo-se de uma abordagem de “princípios”
excessivamente amplos, juízes de tribunais eleitorais podem alegar que o
princípio da isonomia na disputa eleitoral está sendo ferido por faixas e
cartazes de estudantes e justificar uma invasão policial na Universidade, como
vimos ocorrer no pleito de 2018. Não é perigoso para a democracia arriscar esse
jogo?
José Eduardo Faria: É evidente que, dos dois lados da
alternativa nessa disputa de “famílias” jurídicas, você tem riscos. O lado do
“garantismo”, para os advogados criminalistas tradicionais, era uma forma ir
levantando questão de ordem ao longo do processo sabendo que, no fundo você não
discutiria o mérito, garantindo a prescrição do processo lá na frente. Como nos
mostra a sociologia americana do Direito, quanto mais rico é o réu, podendo se
valer de advogados caros, maior certamente será a impunidade. Do outro lado
você tem esse risco que você está mencionando, já visível na Lava Jato.
Estado da Arte: Deixando de lado a Lava Jato, esses desvios,
muitos dos quais acabaram ganhando a alcunha de “ativismo judicial”, tema que o
senhor também explora nos artigos do livro, parecem invadir perigosamente o
domínio dos valores morais acerca dos quais o Estado, sob a figura do poder
jurídico, ao menos, deveria ser neutro, reservando ao legislativo a tarefa de,
por meios democráticos, expressar o desejo das maiorias. O Supremo não tem se
excedido?
José Eduardo Faria: Essas discussões têm de ser pensadas como
um processo de erro e acerto. Você tem uma série de questões que são questões
que envolvem a mudança da arquitetura do Direito – não é tirar um tijolo daqui,
não é uma questão de reforma, mas é uma questão de quebra de paradigma. E,
nessa situação de quebra de paradigma, é absolutamente evidente que nós estamos
olhando para a polity,
e não mais para um conflito de partido aqui ou ali. E nessa polity a
gente começa a perceber que o problema vai passar necessariamente pelas mãos do
Supremo. Você tem toda razão, o Supremo começa também a poder utilizar a
interpretação de princípios para legislar. Agora, se de um lado existe uma
pressão da sociedade por certas pautas, de outro existe uma figura jurídica que
é a inconstitucionalidade por omissão: se um movimento social alegar que tal
Direito é um Direito previsto pela legislação, mas ele não é regulamentado,
você pode pedir para que o Supremo regularmente, ou dê um prazo para
regulamentar, e, enquanto não houver a regulamentação, prevalece esse
entendimento. O Supremo está cumprindo o papel dele – não sei se está cumprindo
bem. O problema não é que ele não esteja cumprindo o seu papel, é saber se ele
está cumprindo bem ou não. Em alguns momentos ele é muito conservador, em
outros momentos ele é menos conservador, em alguns momentos ele também se
omite, em outros momentos ele também não se omite.
Estado da Arte: No artigo “A Adjudicação em Tempo de
Incertezas”, lemos que “A história registra não só protagonismos judiciais
desastrosos, mas também experiências exitosas, como a promovida pela Suprema
Corte americana sob a presidência de Earl Warren. Trata-se do julgamento de Brown x Board of
Education.” É um caso exemplar de que, por vezes, sem uma disputa
política que poderia ser interpretada como “ativismo judicial”, não há avanços
civilizatórios que hoje consideramos elementares.
José Eduardo Faria: Guardadas as devidas proporções, é o que o
Supremo fez na questão da homofobia no Brasil. Em alguns momentos ele tem de
ser contra-majoritário, em alguns momentos ele tem de fazer defesa de
determinados interesses que podem representar conquistas civilizatórias, como
no caso que você citou. Toda a ideia do livro foi tentar colocar a discussão do
ponto de vista técnico, sempre chamando a atenção de políticos, da imprensa, da
opinião pública, para o fato de que você tem questões institucionais por trás
de muitas disputas que parecem ser políticas, e que, portanto, não é como se o
Supremo estivesse fazendo política partidária. Não se pode tratar o Supremo
exclusivamente a partir dos seus atores atuais. Há momentos em que o Supremo,
com outra composição, foi decisivo para garantir estabilidade.