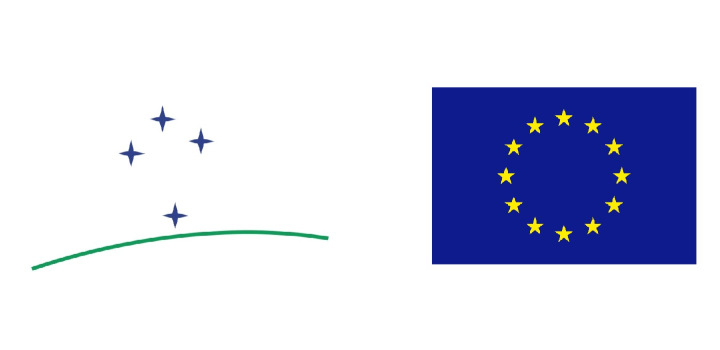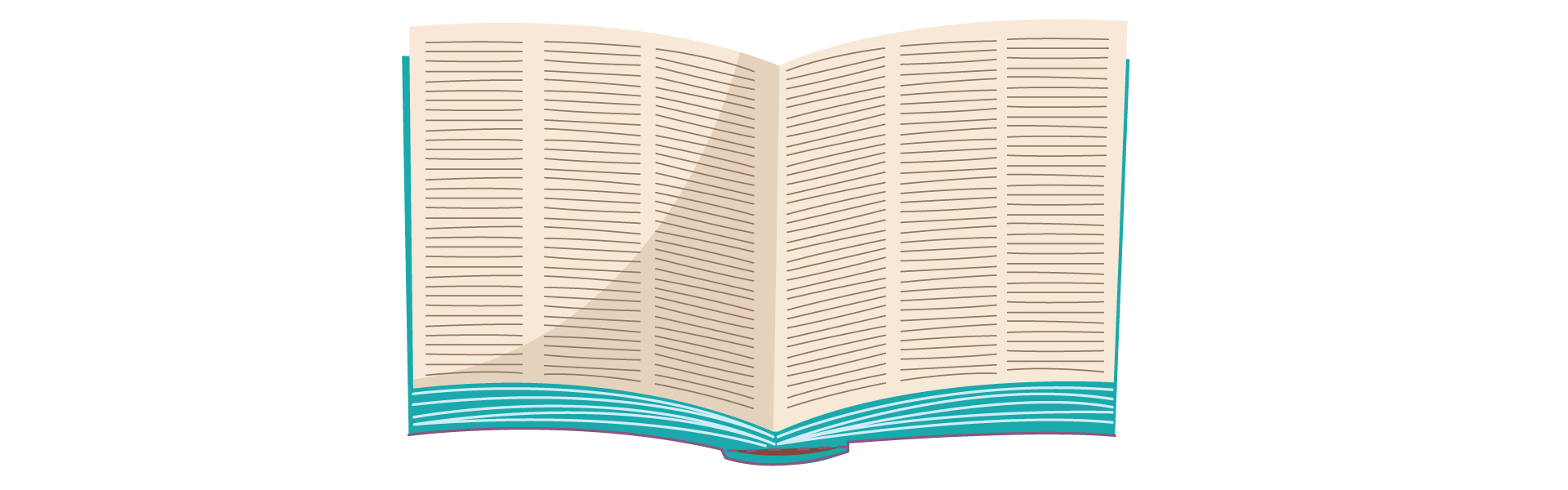A Independência brasileira se deu, realmente, de modo tranquilo e natural, um simples “divórcio amigável” de Portugal? Havia um “Brasil” previamente definido? Na verdade, o processo de emancipação foi muito mais caótico, incerto e violento do que a imagem tradicionalmente difundida. E é fundamentado em ampla pesquisa documental que Independência e Morte nos revela uma outra história, marcada pela incerteza, a instabilidade e a ausência de uma identidade nacional pré-existente.
O livro apresenta um panorama da situação sociopolítica brasileira, a partir da qual se expõem as perspectivas e projetos de diversos atores no contexto da elevação do Brasil a Reino (1816), nos impactos da Revolução do Porto (1820) e no processo que resultou no estabelecimento do Império do Brasil, com D. Pedro I como imperador. Na continuação dessa análise, avalia-se aqui a dimensão militar do processo de emancipação, com informações sobre números, batalhas, táticas e estratégias.
Ao aproximar-se a celebração dos 200 anos da Independência, Helio Franchini Neto nos mostra uma nova visão sobre a construção do Brasil. Descobre-se, aqui, uma história muito mais complexa e agitada, um período (1821- 1823) marcado por diferenças regionais, diversidade de projetos, negociações e, principalmente, conflitos políticos que derivaram em operações militares na Guerra de Independência.
Com base em intensa utilização de documentos de época e de bibliografia, esta obra desvenda uma trama muito mais complexa e agitada, um período (1821-1823) marcado por diferenças regionais, diversidade de projetos, negociações e, principalmente, conflitos políticos que derivaram em operações militares, com a mobilização de mais de 50 mil soldados, na Guerra de Independência do Brasil.
A história detalhada dessa separação entre a Colônia e o Reino é aqui esmiuçada, desde o surgimento de ideias e propostas de emancipação até a consolidação final do Império do Brasil, com o reconhecimento por parte de Portugal e a manutenção da unidade nacional. Surgem, então, elementos pouco conhecidos do processo de Independência, passando por combates no Norte (Ceará-Piauí-Maranhão-Pará), na Bahia e na Cisplatina.
O confronto político e as operações militares são dados fundamentais para se entender o processo que ocorreu em nosso país, e para auxiliar na compreensão do fato de o Brasil ter permanecido unificado em torno de seu primeiro imperador, D. Pedro I. Como aponta o professor Francisco Doratioto em seu prefácio, “ambas, guerra e política, foram pilares fundamentais para que todas as províncias brasileiras rompessem com Lisboa e para que terminassem incorporadas ao Império do Brasil”.
*******
SINOPSE
Independência e Morte: Política e Guerra na 673 pgs. / R$ 79,90
Emancipação do Brasil / 1821-1823 ISBN: 978-85-7475-286-0
Helio Franchini Neto
— Diplomata de carreira, doutor em História pela UnB e mestre em Ciência Política pela USP, com diploma de especialização pelo Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional (IHEDN), da França, o autor é professor assistente de História da Política Externa Brasileira no Instituto Rio Branco, tendo publicado artigos nas áreas de história brasileira e relações internacionais. Este importante ensaio – que se torna ainda mais relevante pela proximidade do bicentenário da Independência do Brasil,em 2022 – faz um panorama da situação sociopolítica nacional, e detalha toda a história da difícil separação entre a Colônia e o Reino. Na verdade, esse processo foi muito mais caótico e violento do que nos ensinaram na escola, envolvendo operações militares que mobilizaram mais de 50 mil soldados. Segundo o historiador Francisco Doratioto, que assina o prefácio, essa obra é uma oportunidade de se “compreender como (...) se construiu um Estado que, em contraste com o que ocorreu com a América Hispânica, conseguiu manter a unidade do espaço territorial herdado do período colonial”. Para ele, o livro de Helio Franchini Neto traz “novas informações e lança luzes esclarecedoras sobre outras já conhecidas, (...) desvendando as articulações entre as dimensões política e militar”.
SERVIÇO
Independência e Morte: Política e Guerra na Emancipação do Brasil / 1821-1823
Autor: Helio Franchini Neto
Formato: 15,5cm x 23,0cm
673 páginas / R$ 79,90
ISBN: 978-85-7475-286-0
Capa: Miriam Lerner / Equatorium Design
Topbooks Editora e Distribuidora de Livros Ltda.
Rua Visconde de Inhaúma, 58 / sala 203
Centro – RJ / CEP: 20091-007
Tels.: (21) 2233.8718 / 2283.1039
Estamos também no FACEBOOK e no INSTAGRAM.