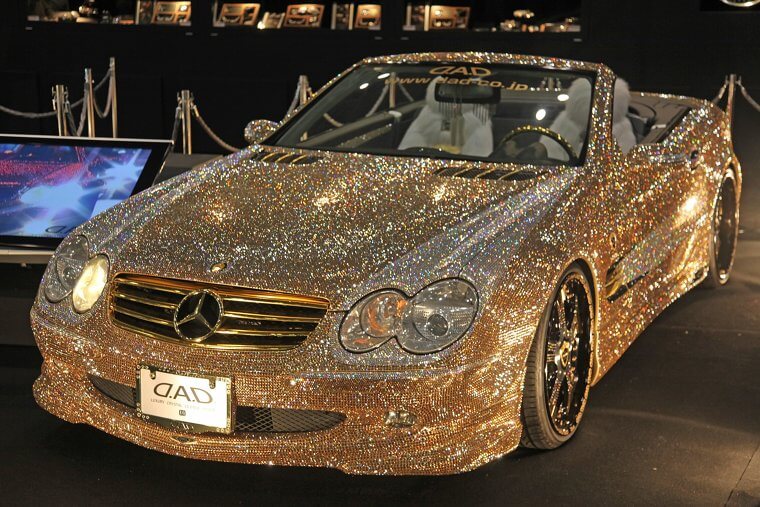Não creio que propostas de intelectuais sejam implementáveis na prática, pois as sociedades se movem muito lentamente, muito dificilmente, tendo em vista que mentalidades mudam muito lentamente, a uma taxa aritmética, quando a tecnologia se move geometricamente.
Em todo caso, cabe conhecer, estudar e debater propostas como essa.
Paulo Roberto de Almeida
Liberalismo Radical: Indo à Raiz
As propostas para a migração e para o tratamento dos dados como trabalho, apresentadas por Eric A. Posner & Glen Weyl no livro Mercados radicais: reinventando o capitalismo e a democracia para uma sociedade justa (São Paulo: Editora Portfolio/Penguin; 2019), podem reduzir drasticamente o subemprego.
As duas propostas ampliam os mercados de trabalho e fortalecem os trabalhadores.
- A proposta para a migração converte trabalhadores/consumidores passivos dos países ricos em empreendedores. Eles veem os migrantes como oportunidade econômica e não como concorrentes no mercado de trabalho.
- A proposta para os dados converte consumidores passivos na economia digital em trabalhadores de dados que exigem remuneração por seus serviços.
As duas propostas expandem os mercados de trabalho para além das fronteiras e para a esfera digital.
O conjunto de suas propostas tem poder suficiente para tratar da estagdesigualdadepor um bom tempo. Reunindo suas estimativas expostas nos vários capítulos do citado livro, suas propostas reduziriam a parte da renda nacional capturada pelo 1% mais rico para muito além de seu ponto mais baixo em meados do século XX. Também acabariam com as disparidades de riqueza como fonte significativa de desigualdade interpessoal, na medida em que os lucros sobre a riqueza seriam, em larga medida, distribuídos igualitariamente por um COST. Um mercado radical permitiria existir uma desigualdade decorrente somente de diferenças entre capacidades naturais.
Percebam como um COST sobre a riqueza e o dividendo social subsidiado por ele responderiam à mudança tecnológica. Se o trabalho fosse substituído cada vez mais pela IA e os seres humanos mostrassem não terem o papel importante no trabalho de dados pressuposto, a parte da renda do capital aumentaria de forma drástica.
Vamos supor ele atingir 90%: a receita arrecadada por COST aumentaria então para 60% da renda nacional (na medida em que se destina a capturar dois terços do capital) e subsidiaria um generoso padrão de vida para todos os cidadãos.
Mesmo nos níveis atuais da renda nacional, por exemplo, supondo esse imposto substituir todos os impostos americanos, tal política tributária proporcionaria a uma família de quatro pessoas uma renda anual de quase 90 mil dólares.
Mas, se a força de trabalho permanecesse importante, o dividendo social continuaria modesto o suficiente para muitos ainda quererem trabalhar, fornecer dados valiosos à IA e receber trabalhadores migrantes para complementar a renda. A distribuição mais igualitária dos benefícios dessas atividades, como descrito anteriormente, asseguraria uma igualdade duradoura.
Suas propostas também combateriam o problema da estagnação. Juntas (totalizando as estimativas dos vários capítulos), aumentariam em um terço a dimensão da economia global. Isso bastaria para devolver por uma geração o crescimento ao nível aproximado do período imediatamente após as duas guerras.
Junto com a redução da desigualdade, isso dobraria o padrão de vida dos domicílios médios, apenas reduzindo o bem-estar absoluto do 1% mais rico em cerca de um terço. Esse aumento na renda da família média é similar ao da Era Dourada entre 1945 e 1975.
Apenas uma inovação contínua asseguraria um maior crescimento para além desse horizonte, mas suas ideias contemplam a perspectiva desses aperfeiçoamentos adicionais se aplicados em conjunto com outro progresso tecnológico adicional, como ilustrado a seguir.
Considere-se uma extensão muito radical do COST: ao capital humano. O capital humano se refere ao grau de instrução e treinamento de uma pessoa. Ele é um pouco parecido com o capital físico (terras, fábricas etc.), porque capacita seu detentor a obter lucros adicionais em um determinado investimento de esforço. Mas é também fundamentalmente diferente, por razões claras mostradas adiante.
Para entender como funcionaria um COST sobre o capital humano, imaginem os indivíduos autoavaliarem seu tempo, pagarem um imposto sobre esse valor autoavaliado e estarem prontos para trabalhar para qualquer empregador disposto a pagar esse salário.
Considere-se, por exemplo, uma cirurgiã anunciar fazer uma cirurgia de vesícula biliar por 2 mil dólares. Ela deveria pagar um imposto sobre esse montante e fazer uma operação em qualquer um com condições de pagar esse valor. O imposto iria desencorajá-la a sobrevalorizar seu tempo e, com isso, negar seus talentos a uma comunidade necessitada, enquanto a obrigação de estar à disposição mediante esse pagamento impediria ela estabelecer um valor demasiado baixo.
Um COST sobre o capital humano seria, em princípio, imensamente valioso. Com efeito, resolveria a maior ameaça à igualdade e à produtividade não abordada no livro — a possibilidade de as pessoas mais dotadas (os principais cientistas, advogados, contadores, artistas, gênios das finanças) se eximissem de oferecer seus serviços a menos se receberem o valor de monopólio.
Um COST sobre o capital físico simplesmente não resolve esse problema. Este é uma das principais fontes do aumento de desigualdade nos últimos cinquenta anos. Resolvidas quase todas as outras fontes de desigualdade com suas outras propostas, essa poderia se tornar uma grande fonte de tensão social, ainda mais porque a engenharia genética e a cibernética têm redefinido a ideia de investir nas capacidades humanas.
Ademais, um COST sobre o capital humano eliminaria a necessidade de um dos fatores mais desanimadores das pessoas a trabalhar: os impostos sobre a renda. Ao substituir a tributação da renda por uma sobre o capital humano gerador de renda, um COST mais estimularia em lugar de desestimular o trabalho. Também seria mais justo e mais legítimo.
As pessoas não dotadas de grandes talentos ainda teriam uma menor renda potencial se comparada à das mais dotadas, mas nunca correriam o risco de cair na pobreza, pois receberiam um grande dividendo social, baseado nos impostos arrecadados das dotadas.
As pessoas talentosas teriam mais oportunidades de serem ricas se comparadas às das menos dotadas, mas ao custo de arcar com o risco de cair na pobreza (com a tributação de seu dividendo social) caso se negassem a utilizar esses talentos.
O COST sobre o capital humano poderia ter popularidade política porque penaliza a classe instruída altamente ressentida e todas as espécies de preguiçosos, ao mesmo tempo recompensando o esforço dos trabalhadores comuns.
Apesar desses potenciais benefícios, o COST sobre o capital humano é prematuro. Há dois grandes problemas.
Primeiro, simplesmente não há tecnologia para isso. O COST sobre o capital humano teria de levar em conta se as pessoas gostam ou não de trabalhar, em todas as facetas onde isso se dá. Elas se preocupam com a quantidade de trabalho, onde e com quem trabalham, as condições em que o fazem, e muito mais — nada disso consegue ser capturado por um COST sobre o capital humano, a menos surjam meios tecnológicos de medir tantos fatores. É plausível imaginar um COST sobre o capital humano associado a uma forma de trabalho tecnologicamente integrada — como o input de dados constantemente monitorado por computadores — poderia funcionar, mas é difícil saber com certeza.
Em segundo lugar, um COST sobre o capital humano poderia ser visto como uma espécie de escravidão — incorretamente, a nosso ver, pelo menos se o COST for formulado de maneira adequada. Mas, mesmo assim, Eric A. Posner & Glen Weyl entendem o problema.
Imagine-se um cirurgião decida certo dia ter cansado de fazer cirurgias. Sob um COST, ele daria a si mesmo um alto valor, para ninguém mais comprar seus serviços — pagando um alto imposto em troca de seu afastamento da profissão. Mas as pessoas poderiam se ver em uma situação quando isso não seria prático ou apenas não quisessem mais trabalhar, independentemente da dedicação tida no passado. Seria possível evitar os elementos de coerção do sistema com ajustes em seu projeto, mas a sociedade ainda não está pronta para tal revisão radical na sua concepção do trabalho.
Seria um erro, porém, pensar o sistema atual não ser coercitivo. Em nosso sistema atual, há uma grande distância entre as elites instruídas, cujos talentos inatos ou adquiridos têm grande valor no mercado, e as pessoas incultas – com as profundas mudanças na economia, elas ficaram para trás.
Os dotados gozam de uma espécie de liberdade, pois podem escolher entre uma série de empregos atraentes. Esses empregos lhes permitem acumular rapidamente um capital capaz de os sustentar na velhice, se não gostarem dos empregos disponíveis, ou escolher e selecionar uma opção entre diversos níveis de trabalho (meio período, empregos de baixa remuneração, mas interessantes ou gratificantes, no terceiro setor etc.).
Os menos habilitados no mercado enfrentam uma escolha inflexível: trabalhar com baixa remuneração em duras condições, passar fome ou se submeter às várias indignidades da vida com assistência pública.
De todo modo, o desperdício de recursos sociais quando uma pessoa dotada deixa de realizar seu potencial é muito maior. Portanto, é defensável sua recusa em trabalhar ser punida com maior rigor.
O COST sobre o capital humano pode melhorar essa forma de liberdade desigual exigindo as pessoas dotadas pagarem um imposto caso não queiram trabalhar em uma área mais eficiente para a sociedade. Um imposto razoável não as reduzirá à fome nem a uma existência dependente da Previdência Social, mas exercerá maior pressão para trabalharem para o benefício da sociedade, tal como os pobres precisam fazer hoje em dia, ao mesmo tempo aliviando a pressão correspondente sobre os menos dotados em nossa sociedade atual.
Talvez uma sociedade mais acostumada a um COST sobre a riqueza e outras restrições ao poder de mercado, na qual os dotados usam engenharia genética para dar aos filhos vantagens claramente injustas, viesse a considerar perniciosos os monopólios sobre os talentos. Experiências mentais em histórias de ficção científica indicam as sociedades más administradoras de dotes únicos, seja escravizando, seja concedendo total posse de si, têm a tendência de acabar mal.