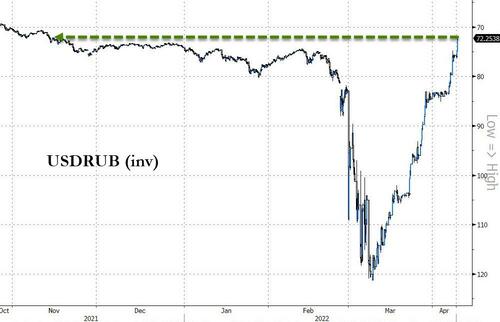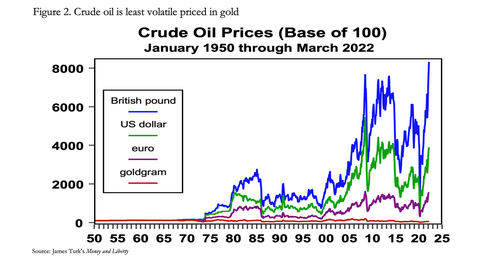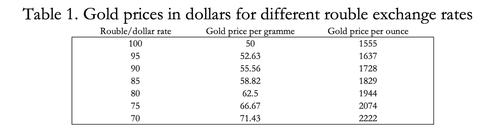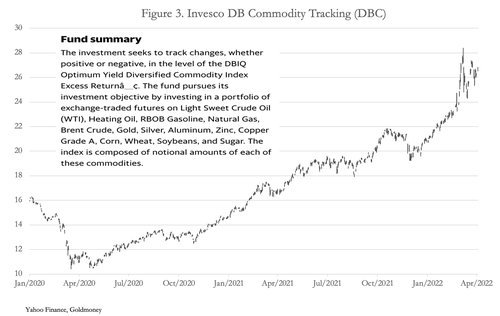Análise preliminar da Campanha da Ucrânia de 2022
Prof. Eugenio Diniz
Synopsis, 31 de março de 2022
Última atualização 6 de abril de 2022
https://synopsisint.com/analise-preliminar-da-campanha-da-ucrania-de-2022/
Identificação dos objetivos
Em uma guerra, é muito difícil estimar os objetivos das partes, por várias razões, incluindo: elas têm bons motivos para ocultá-los, mascará-los ou disfarçá-los; algumas das lideranças de cada lado podem ter agendas próprias, que podem ser desconhecidas até mesmo dos seus colegas ou dos seus superiores hierárquicos; e, ao longo da duração da guerra, vários fatores podem levá-las a reconsiderá-los, redefini-los, renegociá-los. Ao mesmo tempo, é impossível, seja para analistas, seja para agentes políticos, interpretar os acontecimentos sem uma referência aos objetivos das partes. Desse modo, é necessário inferir esses objetivos a partir de informações contextuais, conhecimento teórico e empírico, trajetórias políticas, manifestações e reações dos agentes políticos, composição, organização e desdobramento das forças e outros fatores, sempre tendo em mente que são estimativas, baseada em informações contingentes, necessariamente fragmentadas, muitas vezes de baixa confiabilidade, e que essas estimativas podem ter que ser revisadas frequentemente.[1]
Assim, considerando os acontecimentos a partir de 24 de fevereiro de 2022 como uma nova fase da guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2014,[2] podemos tomar como ponto de partida para entender os objetivos atuais da Rússia o que esta já conseguira após os acontecimentos de fevereiro de 2014 até 12 de fevereiro de 2015 (data da assinatura do acordo Minsk II, com termos bem favoráveis à Rússia:
- controlar a Crimeia (cuja anexação não foi reconhecida internacionalmente);
- um corredor terrestre bastante precário entre o território contíguo russo e a Península da Crimeia na região do Baixo Don (Donbas), com o reconhecimento formal pelo governo ucraniano da autonomia das oblasti de Donetsk e Luhansk, mas que dificilmente poderia ser considerado um acesso terrestre seguro a Sevastopol.
É importante compreender a importância da Crimeia e do controle político de Donetsk e Luhansk para a Rússia. Embora, em tese, seja possível acessar o Mar Negro a partir do seu litoral leste, que pertence à Rússia, o fato é que Sevastopol, na Crimeia, era a principal base da Esquadra do Mar Negro na época da União Soviética, e, mesmo depois do fim desta e antes de 2014, a Rússia tinha um acordo com a Ucrânia que lhe permitia usar a base. Com a anexação, mesmo não reconhecida internacionalmente, a utilização de Sevastopol e outras instalações militares na Crimeia pela Rússia fica mais garantida. Porém, se a região do Baixo Don for controlada pela Ucrânia, e esta negar o acesso à Crimeia à Rússia, o problema logístico para esta se complica enormemente.
No caso da Crimeia, mesmo que sua anexação pela Rússia não seja reconhecida internacionalmente, se for possível sustentar a presença de forças russas na península, sua defesa contra uma eventual tentativa de retomada pela Ucrânia é bastante facilitada pelas suas características geográficas. Entretanto, isso pode ser dificultado caso a Rússia não disponha de um corredor terrestre assegurado à Crimeia. Porém, a situação em Donetsk e Luhansk é particularmente precária. Em 2014 e 2015, o que a Rússia e as oblasti conseguiram se deveu a aspectos muito particulares da situação de então, e a sua autonomia dificilmente poderia ser considerada segura. Notadamente, a situação das forças armadas ucranianas (antes da ofensiva de 24 de fevereiro de 2022) melhorara substancialmente com relação ao final da Campanha de 2014, e sua capacidade de retomar as duas oblasti aumentara significativamente.
Com base nisso, eu considero que o resultado mínimo buscado pela Rússia seria:
R1: Assegurar o controle político sobre Luhansk e Donetsk para garantir um acesso terrestre seguro à Crimeia.
Todas as pretensões da Rússia a ser uma potência para além do seu entorno imediato dependem de controlar Sevastopol e ter acesso seguro a ela. A Rússia não tem qualquer outro substituto. Do ponto de vista da Rússia, pode-se considerar que alguma forma de reconhecimento de que a Ucrânia não retomaria a área seria desejável, mas não depender de reconhecimento seria melhor ainda.
O principal obstáculo à consecução desse objetivo seria exatamente a possibilidade de as forças ucranianas retomarem, num dado momento, as duas regiões. Portanto, isso se traduz nos seguintes objetivos estratégicos:
R2: Enfraquecer drasticamente as forças ucranianas, eliminando por um bom tempo sua capacidade de retomar Donetsk e Luhansk.
R3: Impedir ou pelo menos dificultar a reconstituição das forças ucranianas, para prolongar esse controle com o mínimo de custos.
A maneira mais eficaz e garantida de alcançar esse objetivo é, simplesmente, destruir diretamente o máximo possível das forças ucranianas; e, em seguida, destruir o máximo possível da capacidade ucraniana de reconstruir essas forças, o que significa, no curto prazo, inviabilizar o suprimento de qualquer tipo de apoio às forças ucranianas (principalmente munição, combustível, novos equipamentos e peças de reposição); e, para o médio e o longo prazos, danificar significativamente a infraestrutura produtiva da Ucrânia; e impedir qualquer tipo de apoio a qualquer oposição armada.
A partir dessa consideração, é importante constatar que:
- Se for o caso que as lideranças russas tinham essas ações em mente antes da invasão, não é razoável supor que elas não antecipassem a possibilidade de uma intensa reação, voltada diretamente contra elas mesmas, as pessoas físicas que tomaram as decisões – apesar do tanto que se diz sobre isso. Essa avaliação não exclui a possibilidade de que algumas medidas tenham efetivamente lhes causado alguma surpresa. Tudo somado, porém, não parece muito realista esperar que essa reação leve a uma reconsideração das ações por parte das autoridades russas.
- Uma possibilidade adicional é que as forças russas queiram também intensificar o fluxo de refugiados ucranianos, de modo a, entre outras coisas, diminuir o universo de recrutamento que poderia futuramente estar disponível para uma eventual oposição armada clandestina ucraniana. Nesse caso, se isso foi de caso pensado, torna-se ainda menos crível a possibilidade de que a Rússia não antecipasse manifestações muito enfáticas contrárias à sua ação.
Impedir o fluxo de suprimento e apoio às forças ucranianas e/ou a alguma oposição armada exige:
- negar-lhes a utilização dos portos no Mar Negro a oeste e a leste da Península da Crimeia – a oeste, Odessa, Mykolayiv e Kherson são os pontos principais; a leste, fora as áreas marítimas das oblasti de Donetsk e Luhansk, o porto de Mariupol é a posição principal, com Berdyansk ocupando uma posição secundária;
- negar-lhes a utilização dos acessos terrestres no oeste-noroeste da Ucrânia (ao norte da Moldávia), particularmente o controle das estradas – aqui, as posições principais são Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Lviv e Lutsk; as posições secundárias são Vynnytsia, Kimenytski, Ternopol e Rivne;
Fora essas áreas, o terreno da Ucrânia não é favorável a uma oposição armada clandestina, exceto talvez nas cidades. A única área mais acidentada se localiza bem a oeste-noroeste, nos Cárpatos. O controle das estradas nas posições mencionadas acima neutralizaria a influência dos acontecimentos locais sobre o restante da Ucrânia.
Portanto, entre os objetivos da Rússia, poderiam estar:
R4: Impedir o fluxo de recursos para as forças ucranianas e/ou para uma oposição armada a partir de Mariupol, de Mykolayiv, de Kherson e de Odessa;
R5: Impedir o fluxo de recursos para as forças ucranianas e/ou para uma oposição armada pelas estradas do oeste e do noroeste da Ucrânia.
Observe-se que, para tanto, não é necessário, a rigor, controlar as cidades mencionadas (e menos ainda outras cidades diferentes daquelas) – embora controlar as cidades portuárias possa ser útil para benefícios logísticos próprios. Fora isso, dadas as características do terreno da Ucrânia, poderia ser suficiente enfraquecer as forças ucranianas próximas, monitorar o movimento das estradas (drones, satélites, postos de observação etc.) e atacar os fluxos de interesse usando, por exemplo, artilharia. De resto, não necessariamente é melhor, a priori, tomar e controlar aquelas posições, pois isso poderia implicar uma maior vulnerabilidade das forças a ações hostis, o que obrigaria a Rússia a ter que alocar mais forças para proteção – com as implicações logísticas daí decorrentes. Talvez seja mais interessante para a Rússia, simplesmente, neutralizar a capacidade de ação ucraniana e enfraquecer as cidades – talvez destruindo boa parte da sua infraestrutura (não só produtiva) e fazendo com que grande parte das respectivas populações as abandonem.
É possível que a destruição pudesse ser minimizada caso o governo ucraniano aceitasse uma desmilitarização permanente. Parece razoável esperar que isso só ocorreria diante da necessidade de se evitar algo ainda pior – por exemplo, a desmilitarização de fato (pela destruição das suas forças armadas) e mais a destruição da infraestrutura produtiva do país. Não é impossível que as forças russas estejam tentando produzir esse algo ainda pior, talvez até mesmo como forma de levar o governo ucraniano a aceitar essa desmilitarização total permanente.
Levando isso em consideração, um resultado ainda mais favorável do ponto de vista das lideranças russas poderia incluir:
R6: Reconhecimento formal pela Ucrânia, e idealmente sancionado internacionalmente, da anexação da Crimeia pela Rússia e da independência de Donetsk e Luhansk.
R7: Aceitação formal pela Ucrânia, e pelo menos aceitação tácita da parte de Alemanha, EUA, França e Reino Unido (além da China), da desmilitarização permanente da Ucrânia.
Naturalmente, se forem reconhecidas como independentes, Donetsk e Luhansk poderiam depois unir-se à Rússia (voluntariamente ou não). Mas isso parece ter, no momento, importância secundária.
Do ponto de vista da garantia do acesso da Rússia à Crimeia, esses reconhecimentos significariam pouca coisa. A sua importância real residiria no fato de que, se isso viesse a acontecer, tratar-se-ia de um reconhecimento implícito também de que o entorno imediato da Rússia, constituído pelos ex-membros da União Soviética (com exceção de Estônia, Letônia e Lituânia, que já são membros plenos da OTAN), é efetivamente uma zona de influência russa a ser respeitada. Se isso efetivamente ocorrer, pode ser um resultado ainda melhor para a Rússia do que anexar integralmente a Ucrânia sem que haja reconhecimento internacional efetivo. Diante disso, a inviabilidade da adesão da Ucrânia e de outros ex-integrantes da União Soviética à OTAN ficaria de fato estabelecida.
Esses seriam passos bastante significativos a ser dados, por exemplo, pelos Estados que integram a OTAN. Só faz sentido esperar que eles o deem diante, novamente, da possibilidade de que algo muito pior pudesse ocorrer, e tivesse então que ser evitado. Duas possibilidades aparecem imediatamente: o arrasamento da Ucrânia; e/ou sua anexação pela Rússia. Sob esse aspecto, é significativo que, no discurso que fez na terça-feira que antecedeu a invasão, em 22/2/2022, o Presidente Vladimir Putin tenha insistido em que “a Ucrânia não tem tradição de ser um Estado independente” e em que “o futuro da Ucrânia está inevitavelmente ligado à Rússia”.
Mas, do ponto de vista dos russos, um resultado ainda melhor talvez seja, além dos pontos acima, um acordo que incluísse formalmente:
R8: Uma cláusula de “neutralidade da Ucrânia”, significando na prática a rejeição permanente de uma adesão à OTAN (e uma sujeição permanente à Rússia).
Esse resultado poderia ser considerado, do ponto de vista russo, ainda melhor que uma eventual anexação da Ucrânia, pois o status de grande potência regional, hegemônica, teria sido concedido claramente à Rússia, com ampla repercussão regional, e aumentando significativamente sua margem de manobra política internacional. Muitos consideram que este seria o principal objetivo da Rússia com a atual campanha, mas, além da argumentação acima, há uma dificuldade para esse entendimento: o Presidente Zelensky já anunciou publicamente, de viva voz, sua renúncia à pretensão de aderir à OTAN, mas isso não parece ter gerado qualquer movimentação das lideranças russas em direção a uma cessação das hostilidades. Tudo leva a crer que, conquanto isso possa ser um dos objetivos da Rússia, estaria longe de ser o objetivo prioritário.
* * *
Com base numa avaliação da situação anterior à atual campanha e dos interesses estratégicos russos, R1 a R8, parece-me, comporiam a pauta original das lideranças da Rússia, antes do início da campanha. Reitero: cheguei a essa lista a partir de uma análise da situação estratégica e da atuação das forças russas na Ucrânia a partir da situação estabelecida em 2015, à luz também da configuração, desdobramento e atuação das forças russas agora, em fevereiro e março de 2022.
Uma pessoa atenta observará que a lista de demandas que o Presidente Putin anunciou como condição para a cessação das hostilidades converge com esta. Se a minha análise estiver correta, isso significa duas coisas: que as lideranças russas parecem ter avaliado com consistência sua situação estratégica; e, como se verá mais adiante, parecem também ter planejado sua atuação na atual campanha de maneira consistente com essa avaliação – o que não significa que não possam estar enfrentando problemas, eventualmente sérios (ressalvando que, no caso, a informação que nos chega dos acontecimentos na Ucrânia é de baixa qualidade: ocasional, anedótica, com representatividade difícil de estabelecer).
Entretanto, há ainda outros aspectos da situação que parecem salientes, e não é impossível que também integrem, ainda que não explicitamente, a pauta das lideranças da Rússia. Por exemplo, o próprio fato de tomarem a iniciativa de uma (nova) invasão, em escala significativamente maior que a de 2014, pode servir de demonstração à OTAN de uma nova assertividade da Rússia em âmbito regional, o que, por si só, passa a exigir uma decisão da OTAN (que pode ser anunciada ou não; pode ser explícita ou tácita), ou seja: se a OTAN vai aceitar essa assertividade ou não, e até que ponto pretende ir. Se for esse o caso, a lista então incluiria ainda:
R9: Alguma forma de reconhecimento, mesmo implícito, mas ainda assim suficientemente claro, de que a OTAN se resignou a aceitar a liderança da Rússia sobre os países da antiga URSS à sua volta, com a exceção – pelo menos temporária – de Estônia, Letônia e Lituânia (membros plenos da OTAN).
Outro elemento da situação, mas, no caso, estabelecido após o início da atual campanha, a partir do momento em que se começaram a impor sanções sobre a Rússia, seria, evidentemente:
R10: O levantamento das sanções – idealmente, do ponto de vista das lideranças da Rússia, todas elas, mas, mais plausivelmente, uma boa parte delas, ainda que com alguma dilação no tempo.
Vários desses objetivos exigem a anuência de outros Estados que não a Ucrânia, e não podem ser alcançados em negociações que envolvam exclusivamente a Ucrânia. É possível que o Presidente Putin insista, de algum modo, numa negociação mais ampla, que envolva, de algum modo (ainda que indiretamente), a OTAN institucionalmente ou alguns dos seus integrantes de maior peso.
Numa primeira avaliação, portanto, podemos dizer que, se a Rússia não alcançar pelos menos os objetivos R1 (Assegurar o controle político sobre Luhansk e Donetsk para garantir um acesso terrestre seguro à Crimeia) e R2 (Enfraquecer drasticamente as forças ucranianas, eliminando por um bom tempo sua capacidade de retomar Donetsk e Luhansk), ou seu substituto (desmilitarização da Ucrânia), sua ação na Crimeia terá sido basicamente um desperdício de vidas e recursos. Uma outra consequência negativa para a Rússia seria a disseminação de uma percepção de fraqueza, o que poderia comprometer severamente qualquer expectativa de exercer uma maior assertividade política baseada no temor de sua força – sua capacidade de bullying pode ficar prejudicada. Por outro lado, se conseguir alcançar pelo menos esses dois, a Rússia poderá ter colhido uma melhora relevante na sua posição estratégica – deixando em aberto aqui o dano efetivo que uma continuidade prolongada das sanções possa vir a trazer a suas lideranças ou à sua economia (o que, evidentemente, teria implicações estratégicas no médio prazo).
Se alcançar mais do que isso, e novamente deixando em aberto o dano efetivo que uma continuidade prolongada das sanções possa vir a trazer, os resultados para a Rússia começam a ser muito, muito significativos. Não creio ser necessário elaborar esse ponto.
Observe-se que, à luz dessa análise, a questão da presença da OTAN no entorno da Rússia, embora não seja uma questão irrelevante, torna-se, pelo menos para o caso da Ucrânia, uma questão secundária. O centro do problema é a garantia da utilização e do acesso a Sevastopol. Qualquer ambição de influência de maior alcance pela Rússia depende disso. A maneira mais fácil de conter qualquer pretensão russa de influência extrarregional é negar-lhe esse acesso.
* * *
Naturalmente, como afirmado no começo, tais listas têm sempre um caráter especulativo. Certos comportamentos, por sua consistência ou inconsistência com itens da pauta, podem apontar para sua maior ou menor plausibilidade. Desse modo, uma análise do comportamento, particularmente no terreno, é necessária para essa avaliação.
Antes, contudo, é importante fazer o mesmo exercício para a Ucrânia. Parece-me que essa tarefa é um pouco menos complexa, levando-se em conta a situação de aparente desvantagem da Ucrânia. Parece-nos razoavelmente óbvio afirmar que seu objetivo mínimo seria:
U1: Sobreviver como unidade política minimamente autônoma, ainda que com o sacrifício de alguma parte do seu território.
Se é isso, a Ucrânia não tem outra opção que não seja continuar lutando de modo a impor o máximo de custos às forças russas, na expectativa de que, se houver uma quantidade muito grande de perdas, as lideranças russas terão que aceitar no mínimo uma Ucrânia que não esteja desmilitarizada e cuja infraestrutura produtiva, ou pelo menos uma parte dela, seja preservada– como forma de, no mínimo, dificultar uma nova invasão no futuro e, se possível, reconstituir suas forças para uma eventual retomada dos territórios perdidos. Evidentemente, essa aposta fica mais realista se houver um apoio militar da OTAN, ou de pelo menos alguns de seus membros, o que torna compreensível a insistência do Presidente Zelensky em arrastar a aliança para o confronto com a Rússia.
Menos do que isso, mesmo com algum acordo que preserve a existência jurídica do Estado, mas desmilitarizado e com sua política externa submetida a um veto vindo de fora, significa de fato renunciar a qualquer pretensão de autonomia, e, a meu ver, só se tornaria aceitável às lideranças ucranianas se ficasse claro que seria ou isso ou sua anexação pura e simples, com a expectativa implícita de continuidade da destruição que estaria em curso atualmente.
Mas, caso algumas coisas caminhem a seu favor, talvez a Ucrânia possa almejar algum objetivo um pouco mais robusto, como:
U2: Repelir as forças russas sem concessões territoriais adicionais, ou, pelo menos, sem o reconhecimento internacional da anexação da Crimeia e da independência de Donetsk e Luhansk.
Parece difícil conseguir reverter pelo menos a inclusão de Mariupol e arredores ao corredor Rússia-Crimeia por Luhansk e Donetsk, mas um eventual desgaste significativo das forças russas, combinadamente com possíveis eventos políticos internos à Rússia, pudesse fazer com que, pelo menos, a situação ficasse congelada no pé em que se encontra atualmente. Este já seria um resultado muito bom para a Ucrânia.
Se isso efetivamente se materializar, as lideranças da Ucrânia poderiam começar a pensar em algo mais robusto, ainda que num horizonte de tempo mais dilatado:
U3: Tornar a considerar a hipótese de acesso à OTAN;
U4: Retomar o controle sobre Luhansk, Donetsk e Crimeia.
Note-se que ambos parecem, no momento, distantes; mas, caso uma sucessão de reveses políticos e militares russos se materialize a ponto de haver, na prática, um rechaço das forças russas pelas ucranianas (ainda que com um eventual apoio externo), as dinâmicas políticas e estratégicas poderiam alterar-se substancialmente, abrindo essas possibilidades.
Análise do Teatro
De acordo com a organização e a doutrina militares russas, as principais unidades combatentes russas são os BTGs (Grupos Táticos em Nível de Batalhão), que são considerados as unidades mais preparadas e mais prontas das forças armadas russas. Em termos de capacidade combatente, cada BTG é constituído por 1 companhia de tanques (aproximadamente 10 tanques), 3 de infantaria, com composições variadas (mas, tipicamente, 20 IFVs e 10 APCs) e até 4 baterias de artilharia autopropulsada (o que daria, para as mais robustas, até 20 peças, incluindo MLRS; por simplificação, incluiu-se nesse total também a defesa antiaérea orgânica aos BTGs). Atualmente, os BTGs integram divisões, que contêm peças de artilharia rebocada e algumas autopropulsadas próprias, além das que são orgânicas aos BTGs. Em toda essa análise, salvo ressalva explícita em contrário, supor-se-á que os BTGs foram desdobrados atendendo-se às condições de preparo e prontidão doutrinariamente estabelecidas.
Em termos estritamente numéricos, a Rochan Consulting[3] estima que, em 20 de fevereiro de 2022, estariam disponíveis para a ação da Rússia na Ucrânia pelo menos 98 BTGs. Já havia vários deles em torno da Ucrânia, mas, a partir do último trimestre de 2021, a Rússia começou a desdobrar BTGs adicionais para essas áreas. Extrapolando-se essa conta, pode-se estimar que a Rússia teria aproximadamente 1.000 tanques[4], 3.000 veículos blindados de infantaria e algo entre 1.500 e 2.000 peças de artilharia autopropulsada (além da rebocada e de outras unidades alocadas às divisões). Já o Military Balance 2022 estima que haveria, no início de 2022, nada menos que 168 BTGs disponíveis para uma ação na Ucrânia (incluindo as Forças Terrestres, a Infantaria Naval e as Forças Aerotransportadas). Nesse caso, estimaríamos então algo como 1.600-1.700 tanques, 5.000 veículos blindados de infantaria e entre 3.000 e 3.400 peças de artilharia, incluindo MRLS, mas não incluindo a artilharia divisional. Em comparação, segundo o Military Balance 2022, a Ucrânia teria um pouco menos que 1.500 tanques, um pouco mais de 2.020 veículos blindados de infantaria e um pouco menos de 2.000 peças de artilharia (autopropulsada e rebocada, no total). Note-se que, numericamente, se as estimativas da Rochan Consulting estiverem corretas, as diferenças não são tão grandes em favor da Rússia – no caso dos tanques, a Rússia estaria em desvantagem numérica. Já os números do IISS dão às forças russas uma vantagem maior, mas não em tanques.
Embora, por outro lado, o equipamento russo seja de qualidade superior, a grande vantagem da Rússia estaria, quantitativa e qualitativamente, na sua artilharia e na sua infantaria. O alcance da artilharia de tubos da Rússia pode chegar a quase 50 km; e parte da artilharia de foguetes da Rússia pode alcançar até quase 90 km. A infantaria russa, além de numericamente superior, é fortemente equipada em capacidades antiaérea e antiblindados.
Em termos de aeronaves, a Rússia também teria nítida vantagem. Além de 213 bombardeiros de longo alcance, a Rússia teria, incluindo todas as aeronaves de caça e de ataque ao solo (incluindo as de emprego dual), 1.033 aeronaves. Já a Ucrânia teria um total de 115 aeronaves de caça e/ou ataque ao solo, e nenhum bombardeiro. Quanto a helicópteros de ataque, sem contar os embarcados em navios e em esquadras e distritos militares mais afastados, a Rússia teria aproximadamente 399 helicópteros, ao passo que a Ucrânia teria aproximadamente 115 helicópteros de ataque. Às vantagens numéricas, acrescentem-se as vantagens qualitativas da maioria das aeronaves russas sobre as ucranianas. Por outro lado, embora as quantidades efetivas sejam mais difíceis de se estimar, tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm capacidade de defesa antiaérea, mas com grande vantagem, quantitativa e qualitativa, para a Rússia.
Essa mera consideração sugere algumas coisas.
- A primeira delas é: mesmo levando-se em conta a incapacidade das forças ucranianas em 2014, não haveria por que esperar que a sua capacidade não tivesse aumentado, pois não era segredo que a Ucrânia aumentara seu equipamento total e suas forças passaram por novo treinamento. Se o Estado-Maior russo e/ou as lideranças políticas esperavam a mesma facilidade que experimentaram em 2014, isso seria um erro de avaliação crasso, muito crasso. A meu ver, dever-se-ia esperar um desempenho mais aguerrido e capaz das forças ucranianas em comparação com os eventos de 2014.
- A segunda, levando-se em conta a primeira, é que os dados sugerem um curso de ação óbvio para as forças russas: evitar os combates de blindados e infantaria até que sua artilharia produza desgaste significativo das forças ucranianas. Isso é atrito, e atrito demora. Se a ideia das lideranças russas era uma “Blitzkrieg” para tomar Kiev rapidamente e impor um governo fantoche, elas estão com algum problema sério; tratar-se-ia aqui de uma subutilização das suas vantagens, ou seja, isso seria outro erro crasso. A forma de atuação que faria o melhor emprego das vantagens russas seria a imposição de atrito a distância. Isso não exclui o fato de que as forças russas tenham que, eventualmente, realizar ações de reconhecimento em força, de modo a obrigar as forças ucranianas a lutar e, a partir daí, direcionar os fogos contra elas, de modo a reduzi-las.
- Isso também pode explicar a pequena participação de meios aéreos russos nos combates. Em princípio, a realização de ataques aéreos poderia expor suas aeronaves de asa fixa e helicópteros às defesas aéreas e antiaéreas ucranianas, ao passo que essas ações de ataque ao solo podem perfeitamente ser substituídas pela artilharia russa, pelos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes (que podem atingir alvos a 90 km de distância) ou, em casos mais extremos, pelos mísseis balísticos de curto alcance russos; contra as aeronaves de asa fixa e rotatória ucranianas, a defesa antiaérea dos BTGs e das divisões poderia ser empregada, poupando as aeronaves e minimizando o esforço logístico relacionado a combustível.
- A avaliação, frequente entre comentaristas, de que “a ofensiva russa visava a realizar uma Blitzkrieg que permitisse tomar rapidamente a capital e impor um governo fantoche, e, como isso não ocorreu, a ofensiva russa fracassou” parece em desacordo com a situação, tal como descrita acima, e com o desdobramento das forças russas imediatamente antes da nova ofensiva. Pelo contrário, as considerações acima sugerem minimizar o risco para as forças russas, usando as imensas vantagens da artilharia russa para impor, a longas distâncias, o máximo de perdas às forças ucranianas e, também, o máximo dano à capacidade produtiva do país. Ainda que se pudesse esperar que algum governo fantoche impusesse uma desmilitarização da Ucrânia (o que não parece muito realista), não me parece razoável esperar que mesmo um governo fantoche deliberadamente reduzisse a capacidade produtiva do país.
- O comportamento das forças russas na Ucrânia, até o momento, parece consistente com essa perspectiva delineada acima. Não estou com isso afirmando que as forças russas não estão enfrentando problemas de planejamento logístico ou de disposição para o enfrentamento, ou que não estão sofrendo baixas significativas em enfrentamentos. Pode ser que sim, pode ser que não – a qualidade das notícias sobre os acontecimentos é muito baixa. O que se afirma aqui é que a atuação das forças russas na Ucrânia, até o momento, parece condizente com o exposto acima.
- Essa hipótese da Blietzkrieg para Kiev também é inconsistente com o desdobramento de forças no sul e no noroeste da Ucrânia. Se se tratava de uma Blietzkrieg, havia, pelo jeito, um Plano B gigante.
- E, diante dessas considerações, como dar conta das notícias de “tanques” (que, no noticiário, acabam sendo o nome genérico para todos os veículos blindados) russos destruídos, se eles não estiverem engajando? Reiterando que a qualidade da informação que está chegando é muito baixa, o mais provável é que os engajamentos decorram de ações de reconhecimento em força. Nesse caso, esse tipo de engajamento estaria provendo ocasião para alguma destruição de veículos blindados russos (e também para a produção de muitas imagens).
O que não é possível saber, nesse momento, com qualquer confiabilidade, é: como está sendo o desempenho das forças de cada lado? Qual o desgaste que as forças ucranianas e russas sofreram até agora? Como está a situação logística (principalmente combustível e munição) de cada lado? E o moral de cada lado? Essas são as questões de que dependerão o rumo das negociações. O problema, como já disse, é que não há, no momento, informação confiável o suficiente para respondê-las. Por exemplo, mencionaram-se, alguns dias atrás, estimativas de agências de inteligência ocidentais segundo as quais a Rússia só teria combustível e suprimento para mais 10 dias. Pelas minhas contas, esse prazo se teria encerrado em 24 de março de 2022.
Sendo assim, o melhor é rastrear aquilo que for relevante e inequívoco, e dar pouca atenção ao que for secundário e ambíguo. Isso poderá dar uma melhor ideia do andamento das coisas.
Por exemplo, notícias de “retomadas” ou “expulsões” da Rússia de determinadas cidades são de valor discutível. Se o que se disse acima – que o controle efetivo das cidades é dispensável ou irrelevante para as forças russas, com exceção de algumas poucas, como Mariupol, Kherson, Mykolayiv e Odessa –, mesmo supondo que as forças russas tenham entrado e depois saído, seja porque quiseram, seja porque os ucranianos as repeliram, esses supostos sucessos não alteram em nada o desenrolar da ação. Do mesmo modo, correm notícias de que “as forças russas teriam desistido de Kiev”, mas não há, até o momento, notícias de grandes movimentações de forças afastando-se de Kiev (embora o deslocamento de um comboio maior rumo a Kiev tenha sido noticiado dias a fio). Em muitos casos, é possível que a ação russa dentro da cidade ou da vizinhança tenha sido uma incursão de pequeno porte, com objetivos limitados, ainda que sujeita a ação hostil, com possíveis baixas. Isso não impacta o desenrolar geral da guerra. Do mesmo modo, há o tempo todo menções a quantidades de perdas russas – cujas fontes são, quase sempre, autoridades ucranianas –, mas nenhuma referência às perdas sofridas pelas forças ucranianas. Assim, torna-se impraticável qualquer avaliação do que está ocorrendo efetivamente no teatro.
Algumas situações específicas podem ser vir de teste. Por exemplo, as forças russas só avançaram sobre Mariupol, ao que consta, depois de a cidade ter sofrido danos muito severos. Sendo Mariupol uma das cidades que, para as forças russas, faria sentido controlar, pode-se tratar de um indício de que esse seria o comportamento a ser adotado por elas: só efetivamente adentrar as cidades a controlar depois de impor-lhes perdas muito substanciais. Em outro exemplo, em 26 de março de 2022, houve notícias de que as forças russas estariam sendo repelidas de Kherson; depois, não se falou mais no assunto. Sendo Kherson outra cidade importante que faria sentido às forças russas controlar (sendo um porto importante na foz do Rio Dnieper), uma expulsão definitiva das forças russas seria uma notícia significativa.
Excurso: é possível uma ocupação?
Uma consideração adicional está relacionada à capacidade da Rússia de, eventualmente, vir a conduzir uma ocupação. Particularmente, citaram-se com alguma frequência trabalhos de James Quinlivan[5], cuja implicação seria que, para viabilizar uma ocupação efetiva da Ucrânia, seriam necessários aproximadamente 800 mil soldados russos. A meu ver, essa análise é improcedente.
Em primeiro lugar, as premissas são inteiramente diferentes: a análise de Quinlivan é voltada para operações de estabilização, ou seja, em que há efetivamente uma perspectiva de reconstrução de um país funcionando com alguma normalidade e estabilidade. manter a ocupação contra uma eventual oposição armada, ainda que irregular, e viabilizar uma vida, digamos, normal para o restante da população. Não creio que estas sejam as prioridades estabelecidas pela liderança para as forças russas. Outro elemento é que mesmo a repressão normalmente tem limites muito mais rígidos para as forças ocidentais do que as que se imporão para as forças russas, e uma repressão implacável costuma ter efeitos surpreendentes. Segundo, na análise de Quinlivan, as contas são feitas com todo o pessoal; no caso dos EUA, isso inclui todo o pessoal ocupado com atividades logísticas transoceânicas – operações intermodais, instalações avançadas de manutenção e armazenamento, construção e manutenção de estradas e ferrovias, instalações médicas de grande porte etc.; no caso da Rússia, que é contígua à Ucrânia, esses elementos não estão presentes. Outro elemento importante: se a oposição armada contará com apoio externo – inclusive suprimento clandestino de equipamento, munição, peças de reposição, suprimentos, reforços, comunicação – e santuário; o terreno da Ucrânia não favorece essas atividades, o que implica que a quantidade de pessoas empregadas nessas tarefas pode ser menor ali – a não ser que o acesso pelo oeste da Ucrânia não seja controlado pelas forças russas. Em suma, muitas variáveis incidem na determinação desses números. Vou dar apenas alguns exemplos, sem a pretensão de exaustividade:
- Em que medida o terreno é ou não favorável à ação prolongada de uma oposição doméstica armada (o da Ucrânia é desfavorável);
- Em que medida haveria relativa facilidade de movimentação clandestina de pessoas, equipamentos e suprimentos para dentro e para fora da Ucrânia (seria difícil);
- Se haveria ou não disponibilidade de santuários:
- seja dentro da Ucrânia (não me parece plausível);
- seja em suas vizinhanças – em tese, até poderia ser possível, mas a Bielorrússia/ Belarus é forte aliada na Rússia inclusive na atual empreitada; é difícil imaginar a Moldávia/ Moldova incorrendo na ira da Rússia nesse momento; e, no caso dos outros países fronteiriços (Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia), que pertencem à OTAN, isso significaria, na prática, entrar na guerra, e, se estão dispostos a isso, deveriam então entrar agora, de modo a enfraquecer a Rússia empenhada numa campanha;
- De qualquer modo, caso haja efetivamente uma neutralização do acesso ao interior da Ucrânia pelas estradas a oeste, as dificuldades serão muito maiores para uma oposição armada clandestina do que nos exemplos estudados por Quinlivan.
- Na ausência de apoio externo, a capacidade doméstica de prover os recursos necessários à oposição armada prolongada (as forças russas não têm demonstrado especial cuidado em proteger a infraestrutura, e possivelmente estejam mais predispostas a uma política de terra arrasada do que as potências ocidentais nos casos examinados por Quinlivan);
- Quão implacável pode ser a maneira de lidar com a oposição (a Rússia do Presidente Putin parece ter menos restrições a isso que outros países com controles jurídicos e disciplinares mais rigorosos – um outro aspecto de uma possível política de terra arrasada);
- A maior ou menor tolerância a fatalidades entre seus próprios soldados (é plausível que as lideranças russas se importem menos com isso, talvez em função de sua menor sujeição à opinião pública doméstica);
- A maior ou menor dificuldade de mover forças, equipamentos, munições e suprimentos em apoio a suas próprias forças (sendo a Rússia fronteiriça à Ucrânia, há uma necessidade muito menor de efetivos alocados pura e simplesmente à viabilização das operações logísticas intermodais). As análises de Quinlivan são todas baseadas em operações transoceânicas, com necessidade de instalações portuárias, postos avançados de estocagem e manutenção, centros de distribuição etc., que são minimizados pela pura e simples contiguidade da Rússia com relação à Ucrânia, com relativa facilidade de movimentação.
Assim sendo, supondo que as forças russas consigam impor severo desgaste às forças ucranianas com comparativamente poucas perdas, principalmente em termos de infantaria (indivíduos e veículos), as forças russas atualmente desdobradas na Ucrânia, pelo menos segundo os cálculos do Military Balance 2022, parecem-me, em princípio, suficientes para uma ocupação efetiva (ainda que com padrões abaixo do que geralmente se espera, e ressalvados erros grosseiros de condução e de planejamento).
Aspectos a observar para avaliação da Guerra da Ucrânia
Sugiro, portanto, observar:
- Se, efetivamente, há alguma movimentação significativa de forças russas;
- Quais as áreas estão sendo bombardeadas ou deixaram de ser bombardeadas, e em que estado estas últimas se encontram. Sob esse aspecto, chama-me a atenção a aparente falta de sistematicidade nos ataques no oeste da Ucrânia, em Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Lviv e Lutsk – as menções a ataques a Lviv se dão em contextos específicos: o emprego de um míssil hipersônico no dia 17 de março, um bombardeio quando da reunião da OTAN na Polônia, com a presença do Presidente Biden. Como as estradas nessa área são cruciais para impedir a chegada de apoio externo às forças ucranianas, seria de esperar-se intensa atividade nessas posições. Se realmente isso não estiver ocorrendo, pode-se tratar de um indício de que as prioridades de combustível e munição estejam sendo redirecionadas para outras áreas. Isso, aliás, é o que mais me intriga, nesse momento, na campanha russa: uma vez que foi anunciado o envio de recursos para os ucranianos, as forças deveriam estar-se movendo para controlar esses acessos, principalmente em Lutsk, Lviv, Ivano-Frankivsk e Chernivtsi. Quando começou o bombardeio no Oeste, perto de Lviv, na sexta/sábado, pareceu-me que começara a ação para tomada desses objetivos; mas acabou sendo uma ação isolada. Talvez isso signifique algum problema logístico real, de fato, para as forças russas, ou algum outro tipo de impedimento; ou talvez as forças russas queiram deixar o caminho livre para quem quiser sair da Ucrânia. O fato é que estou intrigado com essa ausência de movimentação no oeste da Ucrânia.
- A falta de urgência demonstrada pela Rússia em relação a Kiev pode ser indício de problemas logísticos, ou então de que a Rússia está protelando a decisão para enfraquecer o máximo possível a Ucrânia antes disso. Sob esse aspecto, chama também a atenção o contraste entre a pressão por negociações diretas que vem sendo feita pelo Presidente Zelensky e a falta de resposta do Presidente Putin quanto a isso. Esse contraste sugere, naturalmente, uma urgência muito maior do Presidente Zelensky em negociar do que a manifestada pelo Presidente Putin – o que parece sugerir que a situação estar-se-ia encaminhando mais favoravelmente ao Presidente Putin que ao Presidente Zelensky, embora seja possível considerar também que se trate de um exercício de administração de expectativas por parte das lideranças russas.
- Ao fim e ao cabo, os testes mais importantes são os termos do acordo de paz, se houver, ou o estado da Ucrânia e das forças russas quando houver alguma estabilização da situação. Os critérios para avaliação, tanto durante quanto depois de encerradas as hostilidade, são os mesmos propostos por Diniz e Proença Jr., no texto citado anteriormente: quanto dos objetivos de cada parte foi alcançado; como o balanço de forças entre os contendores se alterou; e como se alterou o balanço de forças entre os contendores e outros atores com quem possam interagir tendo a força como elemento do cálculo político.
Eugenio Diniz é Diretor-Executivo da Synopsis — Inteligência, Estratégia, Diplomacia; professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e da SKEMA Business School; e membro do International Institute for Strategic Studies (IISS, Londres).
Agradeço as sugestões e comentários de Antônio Jorge Ramalho Rocha, Augusto Teixeira Jr., Daniela Vieira Secches, Danielle Jacon Ayres Pinto, Domício Proença Jr. e Layla Dawood. As considerações apresentadas permanecem responsabilidade inteiramente minha.
Comentários são bem-vindos. Por gentileza, envie-os para synopsis@synopsisint.com.
Referência
Charap, Samuel, et al. Russian Grand Strategy: Rhetoric and reality. Santa Monica (CA), Rand, 2021.
Diniz, Eugenio; Proença Jr., Domício. “No victory in war: Assessing the outcomes of war considering political goals and the balance of forces.” Comparative Strategy, 39:6, 565-578, DOI: 10.1080/01495933.2020.1826852
Karber, Phillip; Thibeault, Joshua. Russia’s new generation warfare. 2016. Disponível em https://www.ausa.org/articles/russia%E2%80%99s-new-generation-warfare
Kofman, Michael, et al. Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine. Santa Monica (CA), Rand, 2017.
Quinlivan, James T. “Force Requirements in Stability Operations,” Parameters 25, no. 1 1995, doi:10.55540/0031-1723.1751.
Quinlivan, James T. “Burden of Victory: The painful arithmetic of stability operations”. RAND Review 27 (2), 2003. pp. 28-29.
Rochan Consulting. Tracking Russian deployments near Ukraine – Autumn-Winter 2021-22. Disponível em https://rochan-consulting.com/tracking-russian-deployments-near-ukraine-autumn-winter-2021-22/. Acesso em 24 de março de 2022.
The International Institute for Strategic Studies (IISS). Russia’s Military Modernisation. London, IISS, 2020.
The International Institute for Strategic Studies (IISS). The Military Balance 2022. London, IISS, 2022.
[1] A respeito, ver Diniz, Eugenio; Proença Jr., Domício. “No victory in war: Assessing the outcomes of war considering political goals and the balance of forces.” Comparative Strategy, 39:6, 565-578, DOI: 10.1080/01495933.2020.1826852
[2] Em 24 de fevereiro de 2014, o Conselho Municipal de Sevastopol nomeou prefeito um cidadão russo, e unidades da Infantaria Naval russa adentraram a cidade. Embora o movimento das forças tenha-se iniciado dois dias antes, 24 de fevereiro é o primeiro acontecimento público, e, a meu ver, marca o início da campanha. Para uma análise dos acontecimentos na Ucrânia de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015, v. Kofman, Michael, et al. Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine. Santa Monica (CA), Rand, 2017.
[3] https://rochan-consulting.com/tracking-russian-deployments-near-ukraine-autumn-winter-2021-22/
[4] Nesta análise, não distinguiremos entre MBTs e tanques de reconhecimento.
[5] Quinlivan, James T. “Force Requirements in Stability Operations,” Parameters 25, no. 1 1995, doi:10.55540/0031-1723.1751; Quinlivan, James T. “Burden of Victory: The painful arithmetic of stability operations”. RAND Review 27 (2), 2003. pp. 28-29.