Está neste link: http://ibri-rbpi.org/2015/09/30/transformacoes-da-ordem-economica-mundial-do-final-do-seculo-19-a-segunda-guerra-mundial-entrevista-com-paulo-roberto-de-almeida/
Paulo Roberto de Almeida
Transformações da ordem econômica mundial, do final do século 19 à Segunda Guerra Mundial – Entrevista com Paulo R. de Almeida
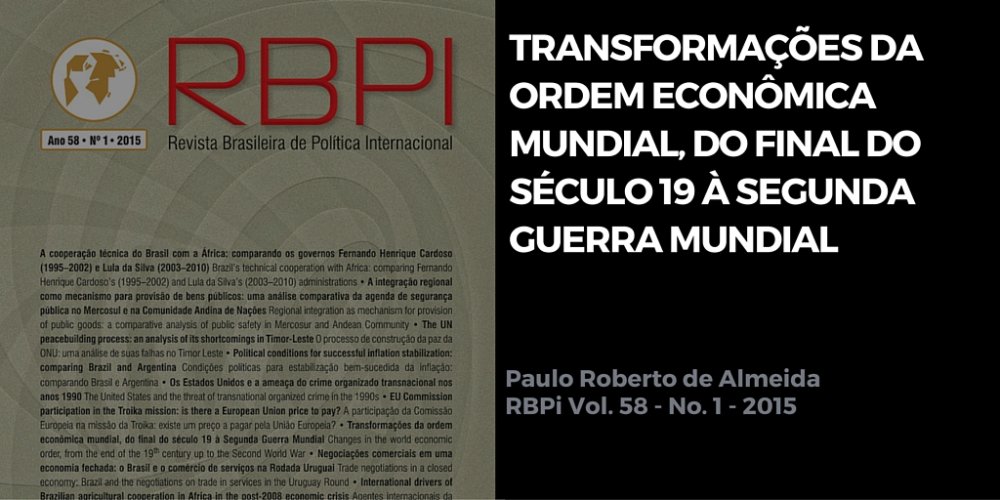
Entre o final do século XIX e a metade do
século XX, a economia mundial foi estruturalmente modificada. O modelo
capitalista consolidou-se e, posteriormente, evoluiu, ganhando feições
modernas e fundando a sociedade de consumo de massa. As inovações
tecnológicas, que chegavam a literalmente assustar, e as inovações
organizacionais resultaram em um aumento inédito (e inimaginável) da
produtividade. O padrão ouro, pilar da estabilidade da ordem econômica
mundial do século XIX, foi definitivamente abandonado, o que produziu
grande volatilidade e insegurança. Em 1944, no entanto, surgiu o sistema
Bretton Woods, em reação àquela instabilidade estrutural. Assim, foram
estabelecidas instituições que, até hoje, ajudam a moldar a ordem
financeiro-comercial: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e
o Acordo Geral de Tarifa e Comércio (GATT, na sigla em inglês). Por
fim, nesse período, os Estado Unidos se consolidaram como a maior
economia do planeta, rompendo com séculos de predomínio europeu.
Paradoxalmente, no entanto, muitas características da ordem econômica
mundial não se alteraram.
Essas e outras mudanças e contradições são analisadas no artigo Transformações da ordem econômica mundial, do final do século 19 à Segunda Guerra Mundial,
publicado na mais recente edição da Revista Brasileira de Relações
Internacionais. O diplomata Paulo Roberto de Almeira, autor do artigo,
concedeu entrevista a Daniel Costa Gomes, membro da equipe editorial da
RBPI e mestrando em Relações Internacionais na Universidade de Brasília –
UnB.
Paulo Roberto de Almeida é Doutor em
Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas (1984), mestre em
Planejamento Econômico e Economia Internacional pelo Colégio dos Países
em Desenvolvimento da Universidade de Estado de Antuérpia (1976),
formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas (1974).
Defendeu tese de história diplomática no Curso de Altos Estudos do
Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores (1997).
Diplomata de carreira desde 1977, exerceu diversos cargos na Secretaria
de Estado das Relações Exteriores e em embaixadas e delegações do Brasil
no exterior. Desde 2004 é professor no Programa de Mestrado e Doutorado
em Direito do Centro Universitário de Brasília (Uniceub). É autor de
mais de uma dezena de livros individuais, organizou diversas outras
obras, participou de dezenas de livros coletivos e assinou centenas de
artigos em revistas especializadas.
1) Como
apontado no artigo, o liberalismo clássico não existe mais desde a
década de 1930. O Estado ganhou papel mais ativo na sociedade, e as
relações sociais passaram a ser amplamente regulamentadas. Apesar disso,
movimentos políticos, como os libertários nos Estados Unidos, defendem a
volta daquele modelo. O que você acha disso?
Paulo Roberto de Almeida: Sendo
breve, eu diria que não existe a menor chance disso acontecer, ou seja,
um volta ao “modelo” liberal, que não era modelo, e que de fato não
existia. Mas cabe elaborar um pouco mais a esse respeito, recolocando
esse suposto “modelo” em seu contexto histórico. Existem aqui duas
questões de natureza diferente: o mundo real e o mundo das ideias. O
primeiro tem a ver com processos e eventos concretos, fatos objetivos,
ocorrendo no mundo das relações sociais efetivamente existentes: a
produção, a comercialização, fluxos e estoques de poupança, de
investimentos, moedas, etc. O segundo se refere a um conjunto de
concepções sobre esse mundo, que podem ser aplicadas ex-ante “por
engenheiros sociais”, ou seja, para planejar e mudar a forma como as
comunidades humanas gostariam ou poderiam organizar aquelas relações, ou
implementadas a posteriori, ou seja, o que e como fazer em face de
eventos ou fatos objetivos que fogem ao processo normal de
desenvolvimento das mesmas relações, e que exigem respostas da
comunidade, tomadas com base em certas ideias, pequenas, modestas, ou
grandiosas, verdadeiramente transformadoras. Quanto mais pretensiosas
essas ideias, maiores os desastres que podem esperar seus propositores e
suas vítimas.
O
capitalismo, tal como conhecido historicamente, pertence, obviamente,
bem mais ao mundo real do que ao mundo das ideias, mesmo quando
ideólogos e filósofos sociais buscaram teorizar ou explicar o “sistema”,
desde o Iluminismo até a atualidade. O fato é que nenhum cérebro genial
“planejou” o capitalismo: ele foi sendo implantado aos poucos, como
resultados de processos “naturais” de desenvolvimento econômico e
social, sem qualquer central coordenadora de suas “boas” ou “más”
variantes. Diferente é o status do socialismo e das concepções
coletivistas e de dirigismo econômico, aplicadas tanto nos casos dos
fascismos europeus do entre-guerras – como o fascismo mussoliniano ou o
nazismo hitlerista – quanto na experiência mais longeva do socialismo de
tipo soviético. O dirigismo também existiu na forma mais amena do
planejamento indicativo de diversos países europeus na segunda metade do
século 20. Aqui estamos falando de ideias que tentaram guiar o mundo
real, sempre com falhas e limitações intrínsecas, ou mesmo produzindo
alguns desastres incomensuráveis.
O
liberalismo clássico, que na verdade nunca existiu, de fato,
correspondeu, no campo do mundo real, ao chamado período do capitalismo
laissez-faire, a Belle Époque, grosso modo do último terço do século 19
até a Primeira Guerra, e no campo das ideias, ao pensamento liberal de
corte essencialmente britânico (escocês ou inglês), com umas poucas
derivações continentais (Benjamin Constant ou Alexis de Tocqueville, na
França, por exemplo, ou Wilhelm von Humboldt, na Prússia). Se ele de
fato existiu, no terreno do mundo real e no das ideias, ele veio a termo
bem antes de 1930, e pode ter sido “enterrado”, pelo menos
temporariamente, pelos eventos momentosos da Grande Guerra e, depois,
pelas crises do entre-guerras, sobretudo pela Grande Depressão. Termina
aí um suposto liberalismo, muito pouco liberal, e muito menos clássico;
foram apenas experimentos locais de liberalização política e de relativa
liberdade econômica que correspondem ao triunfo temporário das
concepções burguesas do mundo.
O
neoliberalismo, que se ensaiou no terreno das ideias a partir das
primeiras reuniões da Sociedade do Mont Pelérin (com Friedrich Hayek),
no final dos anos 1940, só conseguiu ter um tênue ressurgimento muitos
anos depois, quando da ascensão de líderes políticos conservadores, como
Margaret Thatcher, no Reino Unido, em 1979, e Ronald Reagan, nos EUA,
em 1980. Na periferia do sistema, nunca chegou a existir qualquer
neoliberalismo consistente, embora tenham ocorrido, no México, no Chile,
e alguns outros (poucos) países, tímidos processos de reformas
econômicas tendentes a limitar os excessos do nacionalismo doentio e do
estatismo esquizofrênico em uso e abuso nos anos da grande euforia
keynesiana, do final dos anos 1940 ao final dos 70.
Mais
recentemente, tomaram pequeno impulso grupos liberais ou libertários, e
alguns “anarco-capitalistas”, que representam uma tentativa de “revival”
de antigas ideias liberais, ou libertárias, mas que provavelmente não
vão prevalecer, no momento presente, ou, provavelmente, em qualquer
tempo do futuro previsível. Os fenômenos são quase inteiramente
políticos, ou seja, de círculos intelectuais, e dispõem de pouco apoio
dos verdadeiros capitalistas, estes sempre ocupados em obter algum tipo
de entendimento com as burocracias governamentais, com a máquina
estatal. Ou seja, os ideais liberais, ou libertários, se desenvolvem um
pouco à margem dos processos reais de organização econômica e social.
Depois
desta contextualização histórica sobre o itinerário das ideias e
processos econômicos no último século, cabe responder à pergunta
especificamente formulada sobre as chances que teria, historicamente ou
praticamente, uma volta a um modelo liberal de capitalismo que teria
existindo mais de um século atrás. Meu argumento, como já referido, é
que esse liberalismo, na verdade, nunca existiu, de fato, ou seja, como
expressão de tendências “naturais” do sistema capitalista nessa etapa de
seu desenvolvimento histórico. Respondendo rapidamente à primeira
pergunta, portanto, pode-se confirmar que o liberalismo “clássico”, se
já não existia antes, não tem a mais mínima chance de retornar agora, e
não tem qualquer perspectiva futura em termos de governança econômica ou
de organização do Estado. Ele permanece uma ideia.
Não é que
ele não tenha nenhuma chance teórica de voltar a conquistar corações e
mentes de acadêmicos, ou mesmo de algumas (pequenas) frações da opinião
pública, pois sempre existirão ideólogos liberais que conseguirão fazer
passar a sua mensagem de liberdades econômicas a espectros mais amplos
de algumas sociedades. É que a complexidade do mundo moderno, o
agigantamento da burocracia, a dimensão já alcançada por um sem número
de programas estatais, ou públicos, nos mais variados setores da vida
social (e individual) tornam irrisórias essas chances de revival liberal
no futuro previsível. Será muito difícil, senão impossível fazer o
Estado recuar para as dimensões e a importância econômica que ele tinha
um século atrás. Seria como se tivéssemos de colocar o gênio para dentro
da garrafa outra vez, ou, como já afirmou uma mente privilegiada, de
“enfiar a pasta para dentro do dentifrício novamente”.
O fato de
que grupos liberais, libertários, façam campanha ou agitem bandeiras
proclamando a necessidade de se reduzir o papel e o peso do Estado na
vida não só econômica, mas simplesmente cotidiana, não significa que
essa reversão seja factível ou sequer imaginável. Já nem se está falando
dos anarco-capitalistas, dos libertários, que desejam uma ausência
completa do Estado, pois eles são como os anarquistas do século 19: um
punhado de sonhadores, um número muito reduzido de militantes utópicos.
Os liberais verdadeiros, aqueles que desejam apenas medidas racionais
para uma maior amplitude das liberdades econômicas na organização social
contemporânea, não devem esperar qualquer avanço notável em favor ou no
sentido de sua pregação bastante sensata e altamente razoável. O
liberalismo não desapareceu, e não desaparecerá, mas suas chances de se
tornar hegemônico – o que ele nunca foi – continuam e continuarão
bastante reduzidas.
As razões
podem ser resumidas assim: as sociedades contemporâneas dispondo de
economias avançadas, com um grau razoável de prosperidade e de bem-estar
para a maioria da população, ainda não enfrentaram crises fiscais
verdadeiras para reverter a natureza ainda essencialmente keynesiana de
suas políticas econômicas; tampouco elas conheceram rupturas severas de
seus modelos previdenciários e assistencialistas, que as obrigassem a
desenhar e implementar sistemas alternativos de seguridade social, que
represente uma diminuição do tamanho e do custo do Estado benefactor. Os
países e economias socialistas desapareceram praticamente por completo –
e o que restou são apenas aberrações aguardando os taxidermistas – mas
eles nunca foram modelo de nada, a não ser para mentes alucinadas das
academias. Quanto aos países emergentes e nações em desenvolvimento,
eles ainda estão construindo seus sistemas de assistência social e de
seguridade inclusiva para desistir no meio do caminho. Nos dois casos,
países desenvolvidos e em desenvolvimento, políticos demagogos,
mandarins privilegiados, burocracias poderosas, excessivamente
poderosas, impediriam qualquer reversão no processo de construção de um
Estado babá, que aliás está em expansão contínua.
Voltando a
ser breve, eu apenas apelo ao realismo ou ao bom senso: não se pode
esperar a volta do liberalismo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro
lugar. Não há nenhum risco dessa coisa acontecer novamente, inclusive
porque já não acontecia antes. O Estado sempre foi poderoso, desde os
tempos do absolutismo; ele só tinha um papel econômico relativamente
reduzido por razões próprias ao processo de construção das modernas
sociedades urbanas e à organização do modo de produção capitalista. O
gênio já tinha saído da garrafa, talvez antes mesmo da Primeira Guerra
Mundial; depois, então, ele nunca mais deixou de se espalhar por cada
poro da sociedade. Esse é o mundo real, mas também está nos corações e
mentes, ou seja, o culto desmedido do Estado. Se olharmos o povo
brasileiro, por exemplo, existe uma evidente comprovação dessa tese: por
mais que ele sofra nas mãos do Estado – de um Estado semifascista como o
que aqui existe – o povo brasileiro ama o Estado, quer mais Estado,
suplica por políticas estatais, tanto quanto os capitalistas estão
sempre pedindo “políticas setoriais” aos ministros e burocratas de
Brasília. Portanto, não esperem nenhum recuo por enquanto.
2) Você
menciona, no artigo, que o pós-Primeira Guerra foi caracterizado pelo
forte intervencionismo estatal na economia. Após a Segunda Guerra
Mundial, no entanto, o resultado foi completamente diverso, com a adoção
do multilateralismo econômico. Como explicar resultados tão distintos,
em tão curto espaço de tempo, em face de praticamente os mesmos países?
Paulo Roberto de Almeida: O
forte intervencionismo estatal na economia começou no próprio bojo e em
razão da Primeira Guerra, e não apenas na organização da produção
industrial voltada para a guerra, mas também em função de todos os
mecanismos financeiros e monetários que conduziram à uma quase completa
subordinação da economia às razões da política até então conhecida na
história da humanidade, processos que foram exacerbados nos casos dos
fascismos europeus, e levados a um delírio extremo no caso do
bolchevismo. Vozes liberais como as de Ludwig von Mises ou de Friedrich
Hayek caíram num vazio “ensurdecedor”, ao mesmo tempo em que ascendiam
as doutrinas econômicas de corte intervencionista, mesmo na versão mais
moderada do keynesianismo aplicado.
O fato de
que no segundo pós-guerra se tenha caminhado, no plano das relações
econômicas internacionais, para a ordem multilateral simbolizada pelas
instituições de Bretton Woods e pelo Gatt não quer dizer que se tenha
abandonado o intervencionismo estatal na economia, que aliás não se opõe
ao primeiro fenômeno, e que pode até ter sido o contrário do
pretendido. Quase todos os países avançados aderiram, por certo, ao
multilateralismo econômico e continuaram, ou aprofundaram, formas
diversas de intervencionismo estatal, seja na forma mais light do
contratualismo de inspiração rooseveltiana, seja na versão bem mais
dirigista do socialismo europeu (com diversos países conduzindo
processos extensivos de nacionalizações e de estatização, com
experimentos de planejamento indicativo que traduziam a mesma intenção).
Os
resultados, portanto, não são distintos, e não são contraditórios, pois o
fato de se trabalhar num ambiente internacional mais aberto aos
intercâmbios os mais diversos – comércio, investimentos, abertura
econômica, de modo geral – não impediu governos de estenderem a
regulação estatal a setores cada vez mais “privados” da vida social, em
saúde, educação, planejamento familiar, sempre num sentido
“redistributivo” – ou seja, para corrigir “desigualdades sociais” – e
geralmente intrusivo na vida pessoal. Mesmo nos países que souberam
proteger as liberdades individuais – afastando o temor do Big Brother
orwelliano, que no entanto existia plenamente na União Soviética e na
China comunista, por exemplo –, a atuação do Estado se fez mais visível e
praticamente avassaladora, ainda que estando presente de uma forma não
opressiva, como ocorria nos casos “clássicos” de ditaduras comunistas.
Mas até mesmo esses regimes opressivos terminaram por aderir ao
multilateralismo, embora nunca extirpassem os aspectos mais intrusivos
do controle estatal sobre seus cidadãos. No caso ainda mais exemplar dos
países em desenvolvimento, em princípio capitalistas e aderentes
formais à ordem econômica de Bretton Woods, o papel do Estado foi
igualmente determinante, quando não dominante, em quase todas as áreas
relevantes de organização econômica. Continua a ser, de certo modo,
inclusive porque vários deles, depois de breves e/ou tempestuosos
ensaios com experimentos “neoliberais”, voltaram, pela via eleitoral, ao
populismo estatizante e demagógico dos velhos tempos de keynesianismo
improvisado.
A pequena
reversão do estatismo exacerbado registrado nesses países no período
recente e até os processos mais consistentes de desestatização e de
maior abertura econômica – como aliás ocorre atualmente na China – não
foram capazes de diminuir o peso do Estado na vida econômica, como aliás
evidenciado nas estatísticas fiscais de todos os países no último meio
século: basta observar a carga fiscal nos países da OCDE, para constatar
o progresso constante do ogro estatal em praticamente todos os países,
independentemente dos progressos do multilateralismo e da globalização
desde os anos 1990. Em síntese, não cabe equacionar o multilateralismo
da ordem de Bretton Woods com o fim do intervencionismo econômico –
embora ele tenha eliminado os aspectos mais discriminatórios dos regimes
comerciais precedentes, assim como dos sistemas de pagamentos – pois
este continuou sob novas roupagens e em novas formas. O dirigismo
rústico dos sistemas coletivistas do entre-guerras cedeu lugar ao Estado
de bem-estar social, que logo estabeleceu outros requerimentos em
termos de “extração fiscal” e de “redistribuição” pelo alto, não pela
via dos mercados.
3) Antes
da Grande Recessão, de 2008, muitos analistas apontavam que o fim da
Guerra Fria levou à emergência de uma nova era liberal. Nesse sentido, a
virada entre os séculos XX/XXI era comparada à virada entre os séculos
XIX/XX. Você acredita que o paralelo é válido?
Paulo Roberto de Almeida: Analistas
superficiais – como jornalistas econômicos, historiadores apressados e
sociólogos mal preparados – adoram ver paralelos históricos ou analogias
formais entre processos separados por décadas, ou por séculos inteiros.
Daí imagens frequentemente invocadas de um “novo equilíbrio de poderes”
– ao final da Guerra Fria, como se estivéssemos na belle Époque – ou as
demandas por um “novo Bretton Woods”, em face da enorme desordem
financeira trazida pelas crises da economia internacional, nos anos 1990
e a partir de 2008. A ideia de que houve uma “nova era liberal” no
final da Guerra Fria não corresponde absolutamente aos processos
históricos efetivamente havidos. A Guerra Fria não tem tanto a ver com a
terceira onda de globalização – iniciada, por sinal, antes de seu
término “oficial”, ainda nos anos 1980, quando a China se abre aos
capitalistas estrangeiros – quanto a abertura econômica ocorrida no
último quinto do século 20 tem a ver, fundamentalmente, com o
esgotamento e a subsequente implosão prática do modo socialista de
produção enquanto alternativa credível ao modo capitalista de
organização econômica e social.
Esse “modo
capitalista” – que certamente não é uno, unificado ou uniforme, e que
sequer é capitalista em toda a sua extensão, sendo mais exatamente um
sistema de mercado baseado em certas regras comuns – não é
necessariamente liberal (como prova o caso da China), ou tampouco menos
intervencionista do que os modelos keynesianos exacerbados em vigora na
maior parte da Europa continental, na América Latina e em vários outros
cantos do planeta. O capitalismo é um processo “irracional”,
incontrolado e incontrolável, assumindo formas diversas ao longo dos
séculos, e que não depende da democracia liberal para frutificar e se
consolidar; ele pode ocorrer sob os regimes políticos os mais diversos,
inclusive ditaduras abertas. É certo, porém, como dizia Milton Friedman
em Capitalism and Freedom (1962), que a liberdade de mercados é uma
condição necessária – embora não suficiente – das democracias. O
capitalismo facilita a vida das democracias, e certamente a aproxima do
polo liberal de organização social e política, mas ele não pode, por
suas próprias forças moldar todo um sistema, o que ultrapassa em muito a
sua “missão histórica”: ele veio ao mundo para produzir mercadorias,
não para distribuir bondades políticas, e menos ainda para corresponder a
construções teóricas generosas e libertárias como podem ser os regimes
liberais.
Não
acredito em paralelos históricos ou em analogias superficiais, ainda que
alguns processos possam ter similaridades formais, uma vez que os
atores fundamentais – que são os Estados nacionais, que estão conosco há
quatro séculos, e que prometem perdurar por vários séculos mais –
permanecem os mesmos, e os mecanismos de ação – dissuasão, cooperação,
intimidação, persuasão, dominação – também permanecem substancialmente
os mesmos desde Westfália. O fato de existir essa grande coisa que se
chama ONU – que De Gaulle chamava de “grand machin” – não muda muito nas
equações de base do sistema internacional, que continua a ser
interestatal e soberanista.
O que
poderia haver de paralelo entre o final do século 19 e o início do 21?
Pouca coisa, se alguma. Os Estados, num e noutro caso, continuam a ser
decisivos na vida política e econômica do mundo, agora ainda mais do que
antes, inclusive porque eles ganharam um poder absoluto de emissão
irresponsável de moeda, provocando os mesmos males que já tinham
provocado na Primeira Guerra Mundial e mais além, ou agravando outros:
inflação, déficits orçamentários, desequilíbrios fiscais, regulação
intrusiva, endividamento excessivo, movimentos cambiais erráticos e
outros males que ainda estão por vir. Seria ilusão, contudo, acreditar
que vamos retornar a um padrão ouro, a uma intervenção mínima dos
Estados na vida econômica, ou às liberdades econômicas – livre fluxo de
capitais e de pessoas, comércio relativamente desimpedido ou
protecionismo moderado – que existiam antes da Primeira Guerra.
Sequer no
plano político o cenário pode ser colocado em paralelo: a despeito de
continuarem a existir, grosso modo, as mesmas grandes potências, a
globalização atual se vê fragmentada em quase duas centenas de
soberanias distintas e independentes. As guerras deixaram de ser
globais, por certo, mas a mortandade continua numa escala ainda
respeitável, ainda que espalhada por centenas de conflitos civis,
étnicos, religiosos e no aumento da criminalidade transnacional e do
terrorismo fundamentalista. O mundo é provavelmente melhor, no cômputo
global, do que um século atrás – longevidade, níveis de bem estar,
acesso a bens e serviços culturais, epidemias de fome que podem não ser
tão mortíferas quanto no passado, etc. – mas ele continua tão excitante,
ou tão perigoso, quanto antes…
4) Entre o
final do século XIX e meados do século XX, houve um intenso processo de
tentativa e erro. Nesses processos, várias alternativas políticas e
econômicas foram testadas. Para você, quais são as principais lições
desse período de grandes ensaios?
Paulo Roberto de Almeida: Excelente
pergunta, mas que não pode ser respondida de modo simplista, ou de
forma ideológica. Aqui também é preciso estabelecer as distinções
necessárias entre, de um lado, processos reais no bojo de um itinerário
“natural” da história econômica do sistema capitalista, e, de outro, as
ideias e as concepções que justamente estiveram por trás dos grandes
experimentos de “engenharia social”, que foram todos de natureza
política. Por exemplo, a noção de uma sucessão de “grandes ensaios”, de
processos de “tentativa e erro”, não pertence ao reino das
possibilidades históricas previsíveis, pois ela pressupõe a conformação
de uma formação social submetida à ação voluntária de atores sociais
determinados a implementar esses experimentos, o que geralmente não é o
caso, pelo menos não no ambiente natural das democracias de mercado, que
são as experiências mais permanentes na história humana dos últimos
cinco séculos. É certo que grandes revoluções sociais – a francesa do
século 18, a bolchevique e a maoísta do século 20, não esquecendo as
convulsões sociais que levaram aos fascismos do entre-guerras – não
foram planejadas, mas as mudanças impostas à economia e à vida social e
econômica na sequência de cada uma delas foram planejadas e
implementadas sem que os “erros” fossem esperados: estes resultaram da
“lei” das consequências involuntárias.
Regimes
absolutistas, ditaduras abertas, tiranias comunistas e fascistas
surgiram e desapareceram enquanto experimentos de “ensaio e erro”, uma
vez que violavam certas “leis econômicas” da organização social, ou
contrariavam a aspiração natural dos seres humanos a maior autonomia, à
liberdade individual, à iniciativa privada e à defesa da propriedade. O
fato de a democracia inglesa ter se mostrado durável desde 1688, ou de a
grande nação americana ter preservado até a atualidade os traços
fundamentais estabelecidos um século depois pelos “pais fundadores”
deve-se provavelmente ao fato de não terem essas duas formações
políticas embarcado em processos tentativos de “ensaio e erro”, e sim
respeitado algumas regras simples do jogo democrático e da ordem
econômica.
Todas as
“grandes” experiências contemporâneas nessa vertente – os fascismos
europeus do entre-guerras e suas derivações periféricas, a escravidão
bolchevique e o monstruoso delírio maoísta, com seus milhões de mortos –
foram todas legítimos empreendimentos de “engenharia social”, o que não
ocorreu com as democracias de mercado, independentemente de suas crises
econômicas e de seus problemas sociais. No pós-guerra, as inflações
latino-americanas, as sucessivas trocas de moedas, no bojo de
catastróficos programas de “engenharia econômica” tentativamente de
estabilização, as crises intermitentes derrubando presidentes e trocando
ditadores também pertencem ao mesmo universo dos ensaios de “tentativas
e erros”, sobretudo no campo econômico.
O
itinerário da União Soviética é exemplar nesse sentido: socialismo de
guerra e seu cortejo de fome e miséria; Nova Política Econômica, e sua
pequena janela de liberdade para pequenos mercados capitalistas;
estatização extensiva e lançamento dos planos quinquenais; coletivização
da agricultura, seguido de nova onda de fome e de uma enorme mortandade
provocada; socialismo num só país e industrialização à base de trabalho
“escravo”; estatização completa da economia e consolidação de uma
divisão entre a produção civil e a militar; esgotamento do planejamento
centralizado e ensaios parciais de mecanismos de mercado; esgotamento
completo do “modo socialista de produção” e implosão final do sistema. O
itinerário maoísta é ainda mais pavoroso, com milhões de mortos
sacrificados nos diversos experimentos de engenharia social no espaço de
uma única geração: repressão contra capitalistas e grandes
agricultores, seguida de uma coletivização antinatural para os padrões
sociais chineses; grande salto para a frente, com fome e canibalismo e
milhões de mortos; revolução cultural, com outros milhares de mortos e a
destruição completa do sistema educacional; no total, dezenas de
milhões de sacrificados aos grandes ensaios maoístas, com o rebaixamento
completo da economia chinesa ao longo desse processo.
Especificamente
no período limitado à primeira metade do século 20, é verdade que
ocorreram outros tantos “ensaios”, ou “alternativas de políticas
econômicas”, mas as que corresponderam mais exatamente a “tentativas e
erros” foram quase todas, se não todas elas, experimentos de engenharia
social conduzidas por regimes autoritários. As democracias de mercado
que atravessaram diferentes políticas econômicas ao longo do período,
geralmente não o fizeram como tentativa e erro, a não ser
involuntariamente. O que elas fizeram, na maior parte dos casos, foi
tentar adaptar-se às novas circunstâncias criadas pelos processos
econômicos, pelas dinâmicas dos ciclos de negócios, quando não pelos
cataclismos políticos representados pelos enfrentamentos com as
potências militarizadas e agressivas.
A maior
parte dos mecanismos de intervenção estatal na vida econômica foi
introduzida quando da Grande Guerra, e apenas parcialmente revertida na
sequência, o que certamente criou uma primeira “cultura
intervencionista” que ressurgiria em outras circunstâncias. As medidas
econômicas, corretas ou equivocadas, adotadas por sua vez no
entre-guerras, em especial no seguimento da crise de 1929 e da Grande
Depressão iniciada em 1931 – protecionismo, manipulações cambiais,
desvalorizações maciças, controles de capitais, bilateralismo comercial,
intercâmbios recíprocos de compensação –, também corresponderam mais a
respostas (ainda que improvisadas) do que a supostos “grandes ensaios”
de economia política alternativa. Estes ficaram inteiramente no terreno
das ideias, geralmente com consequências catastróficas.
O grande
experimento “capitalista” que entra na categoria da história das ideias
foi certamente o conjunto de prescrições de políticas econômica mais
tarde enfeixadas sob o rótulo de keynesianismo, mas muitas dessas
medidas estavam sendo seguidas ou implementadas de modo instintivo,
antes mesmo que elas se convertessem numa espécie de corpo teórico de
“receitas” de política econômica a partir da publicação da Teoria Geral
(1936). Não é seguro que o mundo capitalista tenha sido “salvo” pelo
keynesianismo aplicado, assim como não é seguro que ele tenha construído
as bases das três décadas de prosperidade e de grande crescimento
econômico do segundo pós-guerra, embora certa historiografia econômica
aprecie preservar esse mito.
É certo,
no entanto, que as faculdades de economia aderiram rapidamente às novas
tábuas da lei, e passaram a cultivar o receituário keynesiano (inclusive
de forma passavelmente acrítica), mas isso se deu, provavelmente, mais
por preguiça conceitual do que por suas supostas virtudes no terreno da
prática econômica efetiva. Governos, como se sabe, costumam se guiar
mais pela fria realidade das contas nacionais e dos orçamentos, do
emprego e das reservas monetárias, do que por doutrinas econômicas
produzidas nos gabinetes universitários. Eles também são geralmente
infensos (ainda bem) aos ideólogos da academia, mesmo se os líderes
políticos sempre tenham presente, em suas mentes e na formulação dos
discursos, as ideias de algum economista morto, como dizia o próprio
Keynes.
Em todo
caso, o keynesianismo foi acumulando o seu pequeno (ou grande) lote de
contradições teóricas e de impasses práticos, até literalmente implodir
na famosa estagflação dos anos 1970, quando suas bases foram sendo
minadas tanto pelos fracassos registrados quanto pelos avanços teóricos e
práticos do neoliberalismo de corte austríaco. Este, no entanto, nunca
foi dominante, ou ideologicamente hegemônico, pois, a despeito de ter
conquistado alguns (poucos) corações e mentes no cenário político e em
algumas (poucas) academias, ele jamais conseguiu estabelecer sólidas
bases no campo teórico ou conquistar grandes espaços para si nas
políticas públicas, permanecendo sempre marginal e relativamente
incompleto na panóplia de políticas públicas efetivamente aplicadas (que
sempre estiveram inevitavelmente congeladas no universo teórico e
prático do keynesianismo).
Quais as
lições, finalmente, que podem ser extraídas das grandes turbulências
econômicas da primeira metade do século 20, com seu cortejo de desastres
políticos e militares, seu desfilar de milhões de mortos e suas enormes
transformações nas políticas econômicas de quase todos os países? Elas
são muitas, mas foi preciso aguardar a “saída da servidão”, que foi a
implosão final da grande alternativa ao capitalismo, representada pelos
experimentos coletivistas, para realmente confirmar o maior ensinamento
prático que se pode extrair do espetáculo de “aprendizes de feiticeiro”
que constituíram esses experimentos no espaço de três gerações. Esse
ensinamento diz que mercados, em geral, costumam ser mais “inteligentes”
do que burocratas governamentais para criar renda e riquezas sociais,
sendo também mais efetivos na distribuição racional dessas mesmas
riquezas do que governos bem intencionados. O grande erro do socialismo,
como já ensinava Mises desde 1919, não foi, finalmente, ter construído
um regime de opressão, de escravidão econômica, de fraudes políticas e
de degenerescência moral; foi o fato de ter ignorado os mecanismos de
mercado, e a sinalização da raridade relativa pela ação livre dos
preços, como requerimentos básicos de um sistema sustentável, e
racional, de produção e de distribuição de bens e serviços.
Esta é,
sem dúvida, a maior lição do período, que aliás tinha sido consolidada
no magnum opus de Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão (1944). O
ensinamento, contudo, não parece ter sido absorvido pelas duas gerações
seguintes, sequer pela atual, pois a maior parte dos líderes políticos e
dos responsáveis econômicos continua a seguir a trilha do dirigismo
econômico, do intervencionismo estatal na vida econômica, da manipulação
de moedas e orçamentos, provocando o espocar constante e regular de
desequilíbrios fiscais e de crises financeiras. Aqui não estamos mais no
itinerário “natural” do capitalismo, mas no desenvolvimento pouco
natural das doutrinas políticas e das concepções econômicas, com certa
atração distributivista dos políticos e a adesão inconsciente das massas
às aparentes facilidades do Estado-babá.
De modo
geral, todas as experiências coletivistas – fascistas ou socialistas –
foram um fracasso completo, algumas com um custo humano inacreditável,
ademais do custo mais permanente que se manifestou de modo indireto nas
orientações dirigistas das políticas econômicas, estas parcialmente
compatíveis com a dominação ideológica keynesianismo aplicado. O
socialismo pode ter sido derrotado, mais na prática do que na teoria –
que continuou seu pequeno caminho de irracionalidades nas academias,
indiferentes ao mundo real – mas o capitalismo de Estado segue seu
itinerário de realizações – na China, por exemplo – e de contradições –
na maior parte da periferia capitalista, dentro da qual os países da
América Latina. Ele não parece perto de ser aposentado, ou de ser
compulsoriamente enviado ao museu dos dinossauros econômicos, e pode
ainda dispor de um belo futuro pela frente.
Volto,
portanto, ao meu argumento inicial: a despeito de terem sido superados
os experimentos mais nefastos de dirigismo econômico e de “engenharia
social”, em vigor na primeira metade do século 20, não parece haver
nenhum risco de volta triunfal do liberalismo, ou sequer de um retorno
parcial de suas prescrições de maior liberdade econômica e de completa
liberdade individual. Por outro lado, e como constatação final, uma
outra grande lição não parece ter sido aprendida ou absorvida de modo
completo: a de que qualquer medida de distribuição social dos benefícios
do crescimento econômico necessita começar pelo reforço dos processos
de produção e de inovação tecnológica, sem os quais o distributivismo
passa a incidir bem mais sobre os estoques de riqueza já criada ou
acumulada do que sobre os novos fluxos de criação de renda e riqueza por
meio do estímulo à atividade produtiva. Em conclusão, o liberalismo
ainda tem uma longa batalha a travar contra o socialismo, mesmo nas
formas amenas deste último. Como diriam alguns, a luta continua…
Contact:
Paulo Roberto de Almeida, Ministério das Relações Exteriores, Brasília, DF, Brasil (pralmeida@me.com)
Read this article:
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Transformações da ordem econômica mundial, do final do século 19 à Segunda Guerra Mundial. Rev. bras. polít. int. [online]. 2015, vol.58, n.1 [cited 2015-10-02], pp. 127-141 . Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292015000100127&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1983-3121. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201500107.

Nenhum comentário:
Postar um comentário