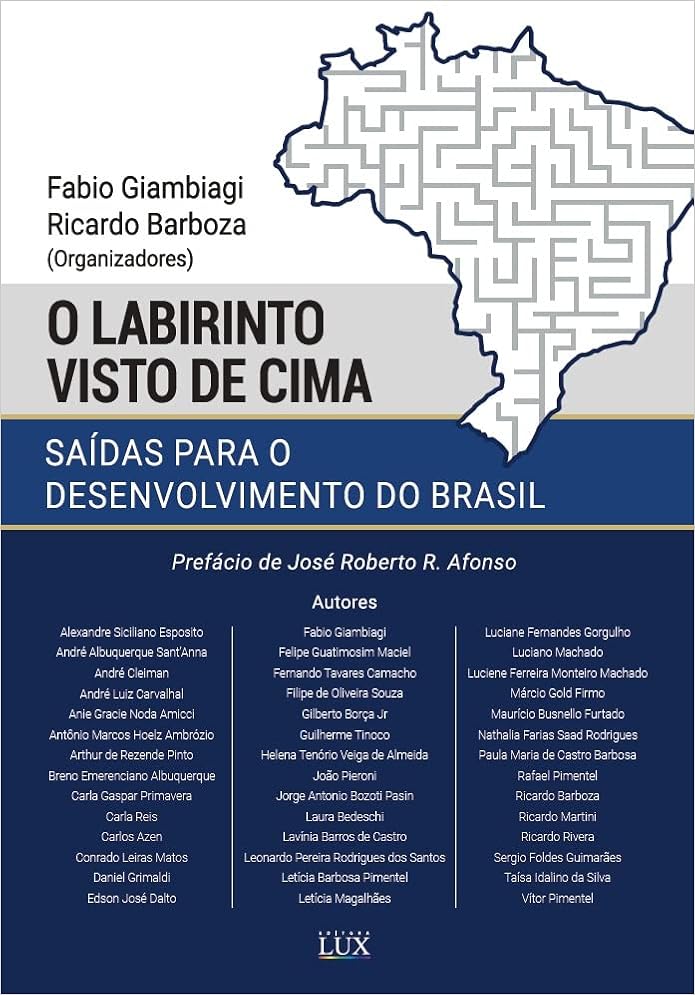CAPITALISMO: MODO DE USAR
Fabio Giambiagi
Rio de Janeiro, Campus-Elsevier, 2015
Por que o Brasil precisa aprender a
lidar com a melhor forma de organização econômica que o ser humano já inventou
Prefácio: Fernando Gabeira
Orelha: Marcelo Madureira
Contracapa: Guilherme Fiúza
Parte I – Introdução
1. 17 anos, 5 meses e 4 dias
2. O óbvio ululante
3. Por que alguns países dão certo e outros não?
4. A cultura do coitado ou “o Haiti não é aqui”
Parte II – Falha nossa
5. O analfabetismo financeiro
6. Educação para o subdesenvolvimento
7. Produtividade: tudo errado
8. Imprensa golpista? Conta outra...
9. A Venezuela é logo ali
Parte III – Capitalismo: modo de usar
10. Sucesso, essa ofensa pessoal
11. O ciclo da vida
12. Um tal Schumpeter
13. Os incentivos, sempre eles
14. Darwin e as empresas
15. Histórias e modelos
16. O nome do jogo
Capitalismo – modo de usar
Livro mostra como a luta ideológica contra o
capitalismo alimenta o subdesenvolvimento do Brasil
O
atoleiro político e econômico no qual o país adentrou nos últimos anos fez com
que o economista Fabio Giambiagi decidisse fazer uma análise
descomplicada para os leitores em geral – e não direcionada unicamente ao
universo dos conhecedores do árido terreno da economia - de como o progresso
futuro está rigorosamente atrelado às leis do capitalismo - com valorização da
competitividade e do empreendedorismo. O desafio está, em boa medida, no
alcance de uma mudança na mentalidade de grande parte da sociedade brasileira,
estacionada no passado em sua desconfiança profunda do sistema capitalista e
ilusão com o ideal socialista.
Em
seu 26º livro “Capitalismo – Modo de usar” (editora
Campus/Elsevier), a ser lançado em agosto, no Rio de
Janeiro, Fabio Giambiagi percorre a trajetória recente da economia do
país para demonstrar, de forma crítica, que o Brasil tem um
componente anticapitalista densamente enraizado na sociedade,
aprofundando o debate sobre como esta cultura pode explicar algumas das
principais causas do subdesenvolvimento do país.
Capitalismo
– Modo de usar traz no prefácio um novo olhar
sobre o sistema capitalista do jornalista e antigo militante esquerdista Fernando
Gabeira e, ainda, na orelha, a revelação do comediante Marcelo
Madureira, que provocou o autor a escrever um livro sobre
Economia acessível ao grande público. A obra guia o leitor por citações
inspiradoras, revelando um hábito antigo do autor de colecionar reflexões
literárias e filosóficas. Entre os vários teóricos mencionados, Giambiagi rende
um tributo especial ao austríaco Joseph Schumpeter, por suas considerações
acerca das inovações tecnológicas e seu papel renovador no capitalismo. O
Brasil, contudo, caminha em direção contrária aos ensinamentos do prestigiado
economista, alerta Fábio Giambiagi.
Com
uma linguagem leve e boas pitadas de humor e ironia, Giambiagi joga luz sobre
como informações manipuladas e alguns mitos perpetuam e acentuam a visão
anticapitalista no país. E denuncia como a mídia é sistematicamente
acusada de “cometer crime de lesa pátria” ao questionar as convicções do
Governo e noticiar a opção por uma política econômica que impede o país de
progredir. “A superação do
preconceito contra o sistema capitalista é um imperativo para o
desenvolvimento do Brasil”, afirma Giambiagi, para quem a luta ideológica
contra a ortodoxia econômica se traduz em um viés antiempresarial e conspira
contra o progresso e a riqueza.
Enquanto
sociedades de países da Europa e dos EUA se destacam pela obsessão pela
produtividade o Brasil, em contraposição, está entre os 25% menos produtivos da
América Latina: a produtividade do trabalho no Brasil é de US$17.295 por
trabalhador, enquanto nos EUA é de US$ 93.260 e, na Coréia do Sul, US$ 59.560.
Ainda assim, o aumento real dos ganhos dos trabalhadores
brasileiros ficou acima dos ganhos de produtividade do país entre 2003 e 2010.
Opção pelo
passado
Para
ajudar o leitor a entender melhor algumas das questões acerca do tema,
Giambiagi demonstra como a cultura nacional mantém viva a noção de que a
solução de todos os problemas virá dos favores estatais, ao defender uma
forte presença do Estado e bem estar social amplo. A Previdência é o maior
símbolo deste equívoco, traduzida na despesa do INSS: em 1988 foi de 2,5 % do
PIB, em 2015, será de quase 7,5 % do PIB - e continuará subindo, uma vez
que o número de idosos aumentará em torno de 4% a.a. nos próximos 15
anos. “É uma tragédia anunciada. É como se o país tivesse feito uma
escolha pelo passado em detrimento das gerações futuras”.
O
ponto essencial do livro é mostrar que para que uma economia tenha êxito, no mundo
moderno, cabe aos governos, um papel crucial na regulação e na coordenação de
certas políticas, mas a chave do dinamismo é a competição travada no campo do
setor privado. As coordenadas para a correção do rumo são indicadas pelo
economista. “É para os EUA que temos que olhar. É um país com uma boa base de
contrato social e, no restante, o que prevalece é a competitividade”.
Para progredir, finalmente, o Brasil precisa, de uma
vez por todas, se assumir como uma economia capitalista. O papel do Governo será
fundamental para liderar uma agenda de reformas. Estas requerem cinco
condições: a) um bom diagnóstico; b) convicções firmes; c) energia para
implementar a agenda; d) uma enorme capacidade de persuasão; e, finalmente, e)
um grande poder de articulação. Se estes requisitos forem cumpridos, o país vai
dar um salto.
O autor
FABIO GIAMBIAGI. Economista, com graduação
e mestrado na UFRJ. Ex-professor da UFRJ e da PUC/RJ. Funcionário concursado do
BNDES desde 1984. Ex-membro do staff
do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) em Washington. Ex-assessor do
Ministério de Planejamento. Coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural
do IPEA entre 2004 e 2007. Autor ou organizador de mais de vinte e cinco livros
sobre Economia Brasileira. Assina uma coluna mensal no jornal Valor Econômico e
outra no jornal O Globo.
==============
Este livro é dedicado a todos aqueles que,
ao longo dos últimos anos, têm se feito – e, alguns deles, têm me feito – uma
indagação angustiante: “Será que o Brasil vai dar certo?”. Os capítulos a
seguir constituem uma modesta tentativa de contribuir para que a resposta a
essa pergunta seja positiva.
===============
“O Brasil
não gosta do sistema capitalista. Os congressistas não gostam do capitalismo,
os jornalistas não gostam do capitalismo, os universitários não gostam do capitalismo...
O ideal, o pressuposto que está por trás das cabeças, é um regime
não-capitalista e isolado, com Estado forte e bem-estar social amplo” (Fernando
Henrique Cardoso, “A arte da política”).
Apresentação
Num dia qualquer de junho de 2013, Pedro
Galindo saiu de sua residência, num bairro de classe média do Rio de Janeiro.
Estava animado. Na véspera, tinha visto no noticiário a matéria sobre os
tumultos e depredações que tinham acontecido no Centro da cidade e sentiu-se
identificado com aquelas figuras de preto que tinha vislumbrado no meio do
quebra-quebra. Aluno medíocre, passara sempre com notas baixas. Tentara a
Faculdade, mas a nota que conseguiu no ENEM não lhe permitiu ingressar sequer
na terceira reclassificação para o segundo semestre de uma das carreiras menos
requisitadas. Assim, só lhe restou ter que arrumar trabalho. No lugar onde
conseguiu um emprego como auxiliar de escritório, os R$ 1.200 que levava para
casa todo final do mês não lhe permitiam grandes sonhos, ainda que fossem suficientes
para levar a sua vida de saídas com amigos como ele, já que ainda morava com os
pais. Na sua vida, tinha substituído o mantra de que “estudar é um saco” pelo
mais atual de “o trabalho é uma merda”. Eufórico com a perspectiva dos tumultos
do dia anterior se repetirem, ele tinha a secreta esperança de ser aceito
naquele grupo, os tais “black blocs”.
No final do dia, seria um dos mascarados que, sem camisa, invadiu o prédio da
Assembléia Legislativa. Sua revolta contra o sistema tinha encontrado o canal
para poder se expressar à altura do que ele sentia no fundo da sua alma. Sem se
conter, tirou fotos de um caixa de banco destruído e de um carro pegando fogo e
mandou para um amigo por celular, com o comentário: “Maior barato!”. Era seu
dia de glória. No dia seguinte, seria preso. Favorecido pela ação de um grupo
de advogados, saiu da delegacia esbravejando para a imprensa, reclamando da
“brutalidade da ação da polícia, totalmente desproporcional”.
Vinte anos antes, em 1993, pertencente a
uma família humilde, órfã de pai, criada pelos avôs e com a mãe trabalhando
como doméstica sem carteira de trabalho há mais de trinta anos, Kátia Fernandes
tinha saído da periferia de Governador Valadares, em Minas, para tentar
comprovar a máxima de Eça de Queiroz, de que “a distância mais curta entre dois
pontos é uma curva vadia e delirante”. Na época com dezoito anos, Kátia não
andava feliz com os rumos que a sua vida estava tomando. Mesmo tendo tirado
boas notas na escola, não conseguia ver muito bem o horizonte. Foi quando uma
amiga lhe falou que um conhecido de Brasília, diplomata, estava precisando de
uma pessoa para tomar conta do casal de gêmeos que sua esposa tinha tido duas
semanas antes. Ainda que a perspectiva de seguir os passos da mãe fosse a
princípio frustrante, o pagamento era bom e lá foi ela atrás do destino. Passado
algum tempo, o diplomata foi enviado em missão para os EUA e propôs a ela
levá-la junto para as tarefas de apoio doméstico, com passagem e tudo incluído.
E “tudo incluído” era o pacote completo de residência, visto e um pagamento
mensal de US$ 800, praticamente líquido, pois seus gastos seriam muito
pequenos. Lá aproveitou para aprender inglês, para o qual revelou ter grande
facilidade. Três anos depois, a família do diplomata foi transferida para a
Alemanha – e ela foi junto. Com mais quatro anos, com uma licença especial para
trabalhar, acabou contratada como secretária – nessa altura, seu alemão era
muito bom – de uma Câmara de Comércio local. A saudade, porém, apertava. Tendo
conhecido um brasileiro com quem se casou no exterior, acabaram voltando anos
depois. Hoje, é dona de uma escola de inglês em Juiz de Fora, onde mora há
alguns anos. A escola vai de vento em popa e já tem mais de 500 alunos.
Essas duas pessoas definem dois perfis
diferentes de brasileiros e de país. O primeiro, ranzinza, de mal com a vida,
sem nada a fazer nem a esperar dela, reclamando de tudo e de todos, joga nos
demais a culpa pelo próprio infortúnio. O segundo, empreendedor, ativo, desejoso
de progresso, correto, exemplar, ciente de que o que se faz na vida deve decorrer
fundamentalmente do seu próprio empenho. Este livro é um pequeno tributo a
esses brasileiros, mas é ao mesmo tempo o resultado da constatação de que, para
que o Brasil dê um salto, é preciso aumentar – e muito – a proporção de Kátias
e diminuir bastante a proporção de Pedros.
Não se está querendo com isso,
evidentemente, dizer que o país tem milhões de black blocs. O que gerou a motivação para este livro é a percepção
de que ainda hoje, 239 anos depois da publicação do livro de Adam Smith sobre a
riqueza das Nações (uma espécie de “Bíblia” do capitalismo), 193 anos depois da
nossa Declaração da Independência, 126 anos depois da proclamação da República,
85 anos depois da Revolução de 30 comandada por Getúlio (o homem que, na
prática, inventou o Brasil, até então um aglomerado de Estados com escassas
relações entre si) e 21 anos depois da estabilização do Plano Real, o Brasil
continua sendo um país onde uma parte considerável das pessoas continua sem
estar preparada e sem entender como funciona adequadamente o regime
capitalista. A epígrafe deste livro, na frase de Fernando Henrique Cardoso –
manifestada mais com “chapéu” de sociólogo que com o de então Presidente da
República - para Armínio Fraga ao prepará-lo para a sabatina no Senado em 1999,
é a mais pura expressão dessa realidade. Não haverá um futuro de prosperidade
para o Brasil, sem que essa limitação seja superada.
Nossa tradição jurídica de colocar as mais
diversas exigências na legislação gera, no limite, pérolas como a do Artigo 3
do Estatuto do Idoso, que reza que “é obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida”. A redação deixa a família de um moribundo na
difícil situação, na iminência da partida de um ser querido, de se perguntar o
que significa exatamente isso. Tais fatos seriam meramente folclóricos, se não
tivessem uma contrapartida importante na alocação dos recursos do país. O
problema surge justamente da combinação deletéria entre a utilização cada vez
maior de recursos públicos para a “garantia de direitos” e a disseminação de
uma cultura que colide com o que são os princípios do bom funcionamento de uma
economia capitalista.
Winston Churchill dizia que “é uma idéia
socialista que lucrar é um vício. Eu considero que o vício verdadeiro é gerar
prejuízo”. Essa idéia singela parece não ter sido devidamente absorvida por um
contingente expressivo de brasileiros.
Tome-se o noticiário dos dias em que a
decisão de fazer este livro estava sendo tomada. A simples leitura das
manchetes daquelas semanas mostrava os seguintes fatos:
i)
Distúrbios
em São Paulo. Um prédio - ou seja, uma propriedade privada - tinha sido invadido
por membros de um coletivo de pessoas consideradas sem teto. Os proprietários
tinham conseguido uma decisão judicial determinando a saída dos invasores e a
reintegração de posse. Diante da recusa, a polícia, como representante da
ordenação formal do país nos casos em que alguém se recusa a cumprir uma ordem judicial,
foi chamada ao local, sendo recebida com pedras, coquetéis molotov e até por uma
cama que foi jogada de uma janela, convertendo a rua numa praça de guerra. As
manchetes dos jornais no noticiário on line foram todas referentes à “violência
policial”.
ii)
Propaganda
eleitoral. Nos dias da campanha presidencial de 2014, o principal partido do
país, crítico da proposta de conceder autonomia operacional ao Banco Central na
forma da Lei – como vigente em democracias consolidadas como os EUA, a
Inglaterra, a Nova Zelândia, o Canadá e os países da Europa da zona do euro,
entre outros – denunciou a iniciativa como a implantação de um “Quarto Poder”.
Além disso, ele colocou no ar na TV um anúncio, onde associava a idéia ao
desaparecimento da comida do prato do povo, mostrando um comercial onde a
medida em que o locutor falava sobre a autonomia do Banco Central, a comida ia
sumindo da mesa.
iii)
Ameaças.
Em ato em defesa do petróleo, diante da crítica da candidata Marina Silva de
que a exploração do mesmo seria um “mal necessário”, o MST, convertido em braço
operacional de uma das candidaturas à Presidência, expressou-se de forma
explícita dizendo que, se Marina ganhasse, a organização iria para a rua para
promover manifestações diárias.
iv)
Propostas
dos candidatos. Nas ruas e nos jornais, proliferavam as propostas dos
candidatos a Deputado, com proposições como “fim do fator previdenciário” ou
“contra a cobrança de pedágio”.
v)
Promessas.
Na eleição para Governador do Rio de Janeiro, um dos candidatos prometia
“cancelar a concessão do Maracanã”.
vi)
Adiamento
do leilão da hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, usina com capacidade de
geração de 8 mil MW. A matéria do Globo dizia que “o componente indígena foi
fundamental para o cancelamento do leilão”. No mundo da tecnologia 4G, a
reportagem era ilustrada pela fotografia dos índios mandakurus, de arco e
flecha, apontando para as águas que circundam o Ministério da Justiça em
Brasília.
A lista seria longa. O denominador comum
dessas posições é o fato de ignorarem olimpicamente as conseqüências desses
atos sobre a organização econômica de um país e sobre as causas de longo prazo
do desenvolvimento de uma Nação. Estas se relacionam com o aumento da
produtividade, o investimento e a existência de instituições sólidas, incluindo
uma gestão fiscal responsável.
A idiossincrasia local está dominada pela
crença de que um mítico “projeto nacional”, com um pacote de grandes
investimentos coordenados por uma central governamental, deveria conduzir o
país para o ideal do Progresso. Ignora que, nas palavras de Gustavo Franco em
um livro (“O Brasil tem jeito?”) publicado há anos pela Editora J. Zahar, “o
investimento privado é determinado de forma descentralizada, individual. [É] um
complexo processo social, uma teia de decisões interdependentes que precisa de
uma atmosfera positiva, na qual horizontes precisam ser claros, a carga
tributária moderada, o custo do capital razoável, a macroeconomia previsível, o
marco regulatório consolidado, o mercado de capitais profundo, os investidores
institucionais prestigiados, o empreendedorismo celebrado e a chance de
intervenções discricionárias de autoridades de vezo redentor desprezível”.
Uma interpretação parecida de como deve
ser entendido o bom funcionamento de uma economia foi exposta também pelo ex-Ministro
e ex-Deputado Antonio Delfim Netto, que em artigo no Valor, no dia 16 de
setembro de 2014, assim se manifestou: “Em larga medida, os mercados são o
produto da cooperação natural espontânea entre os homens que possibilitou a
vida em sociedade. Com eles, a divisão do trabalho aumentou a eficiência
produtiva e coordenou as necessidades de cada um com a capacidade dos outros
para atendê-las. Mas os mercados não são o ‘capitalismo’. O capitalismo é o velho
mercado da antiguidade, somado a mais um – o mercado de trabalho – e à
instituição da propriedade privada. Ele separou a sociedade em duas classes: os
detentores de capital e os que lhes vendem a força de trabalho. Isso aumentou
ainda mais a eficiência produtiva, mas criou dois grandes problemas: por um
lado, produziu uma exagerada desigualdade de renda e, por outro, aumentou as
incertezas do trabalhador com a aleatoriedade do seu emprego. É por isso que o
capitalismo só funciona quando protegido por um Estado forte,
constitucionalmente limitado, capaz de garantir a propriedade privada e de
regulá-lo para reduzir seus inconvenientes. O capitalismo não é uma coisa: é um
instante de um processo evolutivo que prossegue e vai construindo instituições
que vão tornando viável a sociedade civilizada”.
Em 2007, antes da revisão das Contas
Nacionais que mostrou um desempenho melhor da economia nos anos anteriores em
relação aos dados que tinham sido divulgados pelo IBGE até a época, eu
publiquei um livro chamado “Brasil – Raízes do atraso”, em assumida analogia
com o título de “Raízes do Brasil” do mestre Buarque de Holanda. O livro tinha o
subtítulo “Paternalismo vs.Produtividade” e tentava investigar onde se
localizavam algumas causas profundas de nosso subdesenvolvimento. Pouco depois,
o IBGE divulgou novos dados das Contas Nacionais desde 1995, mostrando,
particularmente para 2006, um crescimento maior do PIB que o que até então se
tinha considerado. E, como todos sabem, a economia teve um crescimento bastante
acentuado no segundo Governo Lula.
Anos depois, tive a grata surpresa de ser
comunicado que uma instituição financeira que escolhe todos os anos um livro
para fazer uma edição de brinde para alguns dos seus principais clientes, tinha
escolhido aquele meu livro para doar a esses clientes top. Fui então chamado
para dar uma palestra por ocasião do lançamento dessa edição especial. Os anos
Lula tinham deixado seqüelas positivas no ânimo nacional e me vi, portanto, na
curiosa contingência de falar sobre um livro que tratava do atraso, em um
contexto em que tudo ia bem no Brasil, aparentemente.
O mais estranho, porém, relendo o livro, é
que todos os problemas para os quais ele apontava continuavam lá, intactos, no
que poderíamos chamar de “Brasil profundo”. Minha palestra, consequentemente,
talvez algo frustrante para a platéia que creio que estaria mais interessada em
ouvir notícias boas, focou-se em: a) refletir por que o país poderia exibir
bons números, apesar de ter tanta coisa que precisava ser corrigida; e b)
apontar para a conclusão de que a mensagem do livro, de que o país precisava de
mudanças, continuava de pé, apesar da euforia reinante.
A reforma mais importante de todas, porém,
pela qual o Brasil precisa passar, é uma mudança de mentalidade. Há, na
política brasileira, por uma série de razões históricas que não cabe aqui
analisar, uma grande ojeriza pelos EUA. Durante sua Presidência, homenageado
pela Assembléia Nacional da França no exercício do mandato, Fernando Henrique
Cardoso concluiu seu discurso, para delírio da platéia de parlamentares
franceses, com a exclamação “Vive la
France!”, sem maiores conseqüências políticas aqui no Brasil. Pois bem, um
Presidente brasileiro que fosse aos EUA e exclamasse “God save the USA” estaria politicamente morto na hora, pela péssima
repercussão que tal manifestação teria por estas bandas, diante da acusação
retórica de ser, supostamente, a manifestação de uma subserviência inaceitável.
E, entretanto, é para lá que deveríamos
olhar. Há traços da sociedade norte-americana - como, por exemplo, certo
individualismo algo exacerbado ou a cultura das armas - que, particularmente,
não me agradam. Entretanto, considero que a base do contrato social dos EUA é
essencialmente correta. E o que estabelece esse contrato social? Que é dever do
Estado prover a seus habitantes uma boa educação e dispor de uma rede de
atendimento de saúde razoável, além de procurar dar uma vida minimamente digna
aos idosos. Fora isso, porém, como diria Arnaldo César Coelho, “a regra é
clara”, ou seja, prevalece a competição. Os detratores chamam esse modelo de
“capitalismo selvagem”, pelo fato de que é um sistema em que há ganhadores e
perdedores. A analogia que cabe fazer, porém, é um pouco como no esporte: há
ganhadores e perdedores, sim, mas isso é parte inerente ao sistema, da mesma
forma como no Brasileirão, com 20 times, a cada ano há um único campeão, mais 3
ou 4 classificados para a Libertadores e 4 times caem para a segunda divisão.
Em contrapartida, a economia dos EUA exibe
uma pujança que a levou a ter uma das maiores rendas per capita do mundo e a
ser a terra de algumas das principais marcas globais e um lugar marcado pela
constante inovação, além da capacidade de gerar empregos. Este livro se destina
a que o Brasil do futuro se pareça mais com os EUA e se distancie do que temos
visto nos últimos anos, em alguns casos; e há décadas, em outros.
Cabem, aqui, três esclarecimentos. O
primeiro é que este não é um texto para economistas. Como o leitor poderá
observar, praticamente não há tabelas e não há gráficos. É um texto que procura
conquistar corações e mentes para os argumentos aqui defendidos, numa linguagem
que o leigo possa entender perfeitamente. Economistas, evidentemente, se
quiserem poderão ler estas páginas, mas elas se destinam ao público em geral e
não ao público especializado. Ainda que correndo o risco de abandonar a pureza
da Academia – algo que muitas vezes não é visto com bons olhos pelos meus colegas
– o esforço de fazer chegar a mensagem a outro tipo de leitor justifica encarar
o desafio de vencer a barreira da linguagem, para ir além das estreitas
fronteiras do “economês”.
O segundo esclarecimento é que os
capítulos podem ser lidos de forma independente entre si, porque eles são, de
certa forma, autônomos. Há um fio condutor do relato, mas cada capítulo trata
de um tema e, embora a idéia é que, ao concluir um capítulo, o leitor fique com
gosto de “quero mais” e procure iniciar logo a leitura do seguinte, cada
capítulo é auto-contido e pode ser lido individualmente ou mesmo fora de ordem.
Já para o terceiro esclarecimento, acerca
da proliferação de citações ao longo dos capítulos, há – reconheço – leitores
que podem julgar a abundância dessas “quotations”
excessiva ou até, eventualmente, pedante. Gostaria (ou deveria dizer “torço”?)
que o número de leitores que apreciem esses comentários espirituosos ditos por
terceiros seja maior que o daqueles que não aprovam o estilo. Pessoalmente,
sempre aprendo um pouco com as boas citações.
O livro está dividido em três partes e
dezesseis capítulos, em alguns casos com títulos que envolvem certa “licença
poética” e não explicitam de forma imediata o seu conteúdo. A primeira parte,
meramente introdutória, inclui quatro capítulos. O capítulo 1 (“17 anos, 5
meses e 4 dias”) apresenta alguns traços de nossa sociedade, marcadamente
paternalista. O capítulo 2 (“O óbvio ululante”) expõe certos conceitos e
princípios que serão importantes no desenvolvimento da argumentação do restante
do livro. O capítulo 3 (“Por que alguns países dão certo e outros não?”) tenta
explicar as razões das diferenças entre os graus de desenvolvimento dos países.
O capítulo 4 (“A cultura do coitado ou o Haiti não é aqui”) faz a transição
para a segunda parte do livro, com título auto-explicativo.
A segunda parte do livro, com cinco
capítulos, mostra por que, apesar de tantas vezes nos considerarmos vítimas de
alguma conspiração alheia, os problemas que vivemos no país são de nossa própria
responsabilidade. O capítulo 5 (“O analfabetismo financeiro”) aborda um dos
problemas mais sérios para sermos um país mais desenvolvido: o atraso enorme da
maior parte da população no entendimento dos rudimentos das finanças, algo
essencial hoje em dia para poder crescer na vida. O capítulo 6 (“Educação para
o subdesenvolvimento”) trata das chagas da nossa educação. O capítulo 7
(“Produtividade: tudo errado”) explica as diversas coisas equivocadas que
fazemos e que geram como resultado uma baixa produtividade. O capítulo 8 (“Imprensa
golpista? Conta outra...”) critica a idéia de que a imprensa seja parte de
alguma conspiração. O capítulo 9 (“A Venezuela é logo ali”) mostra os perigos
de insistirmos em seguir certos caminhos.
Por último, a terceira parte expõe como
deve ser entendido o funcionamento do capitalismo e se compõe de sete
capítulos. O capítulo 10 (“Sucesso, essa ofensa pessoal”) destaca a necessidade
de o Brasil rever a forma com que encara certas características intrínsecas ao
sistema. O capítulo 11 (“O ciclo da vida”) descreve como as etapas da vida do
ser humano influenciam a sua capacidade de geração de poupança, como à luz
disso certas decisões devem ser pensadas no processo de desenvolvimento de uma
pessoa e como afetam a dinâmica econômica dos países. O capítulo 12 (“Um tal
Schumpeter”) explica as idéias do famoso economista Joseph Schumpeter. O
capítulo 13 (“Os incentivos, sempre eles”) destaca o papel que incentivos
adequados desempenham para o bom funcionamento do sistema. O capítulo 14
(“Darwin e as empresas”) enfatiza que o nascimento e a morte de empresas são parte
do dia-a-dia de uma economia capitalista. O capítulo 15 (“Histórias e modelos”)
estabelece um contraste entre processos de desenvolvimento que deram certo em
algumas Nações e a frustração de outras. O capítulo 16 (“O nome do jogo”) põe
luzes de néon na palavra-chave para entender o livro – e o capitalismo. Essa
palavra é “competição”.
Este é um livro de um autor engajado. Em
carta a Roberto Fernández Retamar, em 1967, um Julio Cortazar militante das
causas políticas, tratando da “situação do intelectual latino-americano
contemporâneo”, revela a sua conversão, de “escritor que considerava que a
realidade devia culminar em um livro”, em um “homem que considerava que os livros
deveriam culminar na realidade”. Parodiando Cortazar, em que pesem as
diferenças ideológicas, é justamente a tentativa de tentar influenciar a
realidade, mediante a construção de uma narrativa alternativa à vigente, que
orienta as páginas que o leitor lerá a seguir.
Cabe o registro de umas palavras de
agradecimento, neste espaço, para Tamires Freitas, que compensou minhas
deficiências flagrantes sobre o tema oferecendo uma colaboração fundamental na
escolha e tratamento das fotografias que acompanham este livro.
As chamadas “revistas do coração” e até
mesmo certo tipo de livros tratam de forma profunda temas inteiramente
superficiais. Este livro, por contraste, busca tratar de forma ligeira, em
linguagem acessível que induza o leitor a procurar por novas abordagens sobre
os assuntos tratados, temas de grande profundidade, tais como:
i)Que tipo de país queremos?
ii)Que papel deveríamos esperar do Estado?
iii)Qual deve ser a inserção do Brasil na
economia mundial?
Se, a partir da leitura destas páginas, o
leitor se interessar pelo aprofundamento dessas questões, o livro terá
alcançado seu objetivo.
Karl Popper disse certa vez que “a guerra
das idéias é uma das invenções mais importantes de toda a História, porque a
possibilidade de lutar com palavras constitui o fundamento de nossa
civilização”. Na guerra das idéias, cabe agora utilizar a arma da palavra.
Vamos então para o campo de batalha.
O Autor
Rio de Janeiro, março de 2015