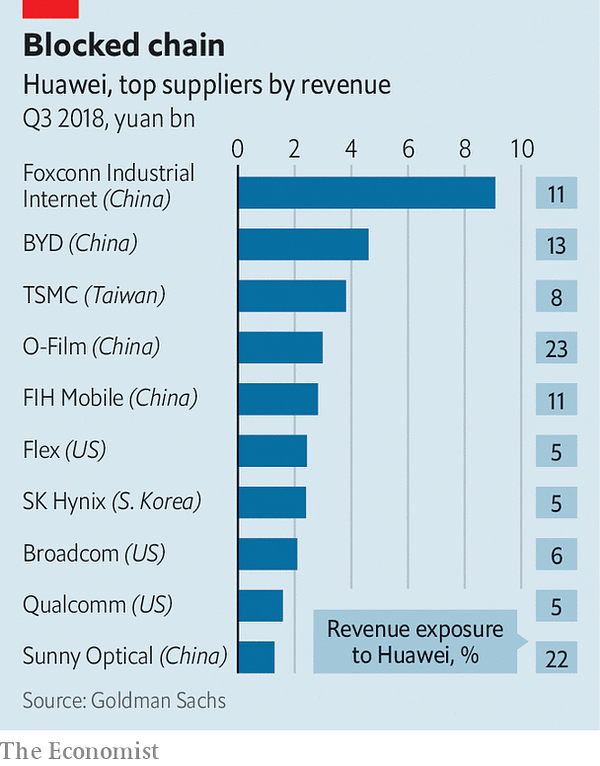O que eu não sabia, pelo menos até 2006, era que a China teve de suportar esse regime humilhante até a Segunda Guerra Mundial.
Fiz um registro, e umas observações, em meu primeiro blog, numa postagem que reproduzo abaixo.
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 25 de junho de 2019
QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2006
150) História recente do colonialismo e do imperialismo

Ao abrir hoje, 11 de janeiro de 2006, um de meus boletins eletrônicos de imprensa, percorrendo as notícias com o mesmo olhar vago de quem já anda saturado de informações, cheguei, finalmente, à seção de "aconteceu nesse dia". Sempre gosto de efemérides, dada minha atração especial pela história.
Mas o que li nesse this day in history?
Esta singela entrada, sem maiores explicações:
"Em 1943, Estados Unidos e Grã-Bretanha firmaram tratados para abandonar seus direitos extraterritoriais na China" (In 1943, the United States and Britain signed treaties relinquishing extraterritorial rights in China.)
Ou seja, exatamente 63 anos atrás, os EUA e o Reino Unido, então aliados da China na luta contra as potências do Eixo (Alemanha nazista, Itália mussoliniana e Japão militarista), davam finalmente por terminados os iníquos tratados desiguais que eles tinham extorquido do antigo regime imperial chinês em pleno século XIX. Em suma, pouco mais de duas gerações antes da nossa, a China era um país praticamente ocupado pelos principais países ocidentais, que ali dispunham de prerrogativas de, e se comportavam como, potências ocupantes.
O Japão já tinha entrado nessa brincadeira no final do século XIX, ao derrotar a China pelo controle de certos territórios (inclusive Taiwan), e novamente no início do século XX, ao derrotar novamente a China e a Rússia imperial, pelo controle do norte da China e pela tutela da Coréia (pouco depois convertida em simples colônia). Ele deu continuidade à sua política expansionista em 1931, invadindo e ocupando a Manchúria, e novamente em 1937, ao lançar-se à conquista de novos territórios chineses.
Bem antes dessa época, as grandes potências ocidentais já tinham extraído da China tratados e concessões iníquas, que representavam cessão de soberania e status de extraterritorialidade, que só vieram a termo, em 1943, em função das necessidades da guerra no Pacífico. Do contrário, é possível que a China permanecesse um país tutelado até praticamente os anos 1960, como ocorreu com a maior parte de outros territórios asiáticos e africanos.
Os contrastes entre essa situação humilhante e, de um lado, o antigo prestígio da China imperial dos tempos de Kublai Khan e de Marco Polo e, de outro, o novo respeito adquirido atualmente pela China no cenário internacional, em termos de poder econômico e possível desafio estratégico, não poderiam ser mais chocantes.
O interessante, porém, mais do que constatar a “perversidade” do colonialismo e do imperialismo contemporâneo, seria refletir sobre a marcha da história, aplicada ao caso chinês.
A ocupação e a humilhação da China não foram apenas o infeliz resultado da prepotência e da arrogância das potências colonialistas ocidentais. Elas foram, igualmente, o resultado da própria incapacidade da China de defender-se e de equiparar-se, econômica, tecnológica e militarmente às principais potências ocidentais.
E como isso foi possível, tendo em vista os precedentes chineses? De fato, até o século XVII, mais ou menos, a China detinha um dos melhores registros históricos em termos de inventividade humana (tendo oferecido ao mundo inovações fabulosas), uma das histórias políticas, artísticas e culturais mais longas do ponto de vista de sua continuidade, uma institucionalidade administrativa quase “weberiana”, enquanto Império unificado, bem como constituía a maior economia do mundo, pelo menos em termos de volume bruto.
Se as potências ocidentais, que tinham, em suas fases diferenciadas de modernização, aproveitado invenções chinesas geniais como a pólvora e a imprensa, puderam vencer, ocupar e “esquartejar” a China tão “facilmente” no decorrer do século XIX, foi porque a China deixou-se, de certo modo, dominar pela superioridade militar e tecnológica do Ocidente. Ou seja, ela já tinha entrado em decadência bem antes, parado de avançar na escala tecnológica e se convertido à introversão econômica.
Colonialismo e imperialismo nunca são atos (ou processos) unicamente unilaterais, pois eles dependem de determinado contexto econômico e político para se imporem e se “exercerem”.
Prova indireta disso pode ser oferecida pelas demandas atuais de certos grupos humanitários ou de intelectuais “imperialistas” para que de certos países, membros da ONU, enfrentando o caos político e um imenso sofrimento humano decorrente de seus Estados falidos, sejam colocados novamente sob “tutela internacional”, ou seja, que eles sejam recolonizados e submetidos a algum tipo de poder imperial.
A China atravessou seu “calvário” colonial de praticamente um século e meio de provações e humilhações. Macau e Hong-Kong, colonizadas pelos portugueses e pelos britânicos nos séculos XVI e XVIII, respectivamente, foram devolvidas à China apenas na segunda metade dos anos 1990. Taiwan configura um outro problema, dada sua população nativa, sua antiga ocupação japonesa, reconquista chinesa e nova ocupação pelas tropas “nacionalistas” do general Chiang Kai-Tchek, derrotado por Mao Tse-tung em 1949 na luta pela hegemonia política quando da reemergência da China enquanto potência independente.
Do ponto de vista político, Hong-Kong já não é mais independente, embora ainda tenha soberania econômica, enquanto território aduaneiro membro do GATT desde a origem. É possível que Hong-Kong exerça hoje certo “colonialismo” e “imperialismo” econômico sobre a China, uma vez que são os seus padrões econômicos, comerciais e financeiros, da mesma forma que os de Taiwan, que estão sendo adotados pela China continental e não o contrário. Como se vê, a dominação política e a “exploração” econômica nunca são partes de uma relação unicamente unidirecional, sendo antes uma interação bem mais complexa, que deita raízes na própria história.
Por isso é que eu gosto da história e é por isso que vou continuar lendo as páginas de efemérides nos jornais diários.
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 11 de janeiro de 2006, Blog 150.