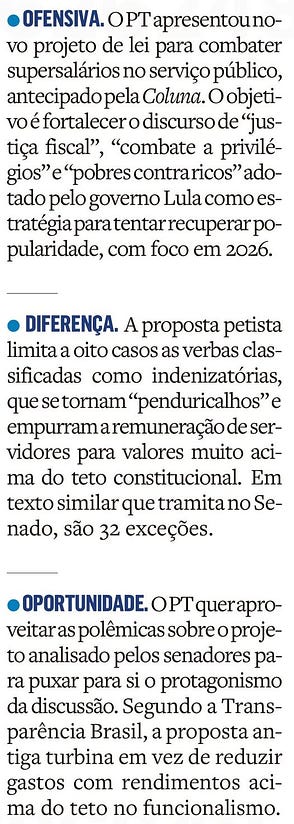Arko Advice sobre o tarifaço de Trump e as demais medidas de pressão econômica.
28/07/2025
RELATÓRIO TÉCNICO: MEDIDAS UNILATERAIS DOS EUA SOB TRUMP CONTRA O BRASIL
Introdução à Tarifa de 50% sobre Produtos Brasileiros
Em 9 de julho de 2025, o governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, anunciou a imposição unilateral de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, efetiva a partir de 1º de agosto de 2025. Essa medida representa um marco inédito nas relações bilaterais, sendo a tarifa mais elevada já aplicada por Washington contra Brasília. A decisão foi comunicada via carta de Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e divulgada em suas redes sociais.
De acordo com o comunicado da Casa Branca, a tarifa se aplica a todas as remessas brasileiras, somando-se a eventuais tarifas setoriais existentes. Ela abrange desde commodities agrícolas e minerais até manufaturados e itens de alta tecnologia. Trump justificou a ação citando “graves injustiças” no regime brasileiro, com ênfase em desequilíbrios comerciais e práticas desleais, além de questões políticas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à liberdade de expressão. Ele criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por ações contra Bolsonaro, chamando-as de “caça às bruxas”, e acusou o tribunal de censura ilegal contra plataformas americanas de mídia social, violando direitos de cidadãos e empresas dos EUA.
Comercialmente, Trump alegou uma relação “injusta”, ignorando dados que mostram déficits brasileiros com os EUA desde 2009. Em 2024, os EUA tiveram superávit de US$ 1 bilhão, com o Brasil como 18º fornecedor de importações americanas. Apesar disso, a medida integra a estratégia de Trump de tarifas mínimas de 15%, elevadas a 50% para países com “más relações”.
O Brasil foi enquadrado nesse patamar devido a tensões políticas, incluindo o processo eleitoral de 2022 e investigações do STF. Trump ordenou investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio, preparando possíveis ações na OMC.
Essa tarifa marca uma ruptura no comércio bilateral, misturando geopolítica e economia, e inicia um período de tensão entre os países.
Outras Medidas Unilaterais Possíveis
Além da tarifa anunciada, especula-se sobre outras ações unilaterais dos EUA contra o Brasil, ventiladas por aliados de Trump ou meios políticos.
• Sanções Econômicas e Pessoais: Washington pode aplicar a Global Magnitsky Act contra autoridades brasileiras, congelando bens e bloqueando transações por violações de direitos humanos ou corrupção. Aliados de Eduardo Bolsonaro sugerem uso contra ministros do STF. Já ocorreram revogações de vistos para Alexandre de Moraes e familiares, semelhantes a sanções contra Venezuela ou Rússia. Economicamente, há rumores de restrições a bancos públicos brasileiros ou elevação de tarifas a 100% em caso de retaliação, configurando embargo parcial.
• Restrições de Vistos e Imigração: O secretário de Estado Marco Rubio cancelou vistos de autoridades do STF como retaliação. Isso pode se estender a funcionários do governo Lula ou empresários. Restrições gerais a vistos brasileiros seriam extremas, afetando turismo e negócios, mas ecoam sanções a venezuelanos ou russos. Setores anti-imigração nos EUA poderiam defender deportações seletivas.
• Ações Diplomáticas: Cenários incluem expulsão de diplomatas brasileiros ou rebaixamento de representação, como recall de embaixadores. Fontes bolsonaristas mencionam expulsão de representantes em organismos como a CIDH. Isso degradaria relações, similar a confrontos com Rússia em 2018. O Departamento de Estado recusou contatos iniciais, sinalizando isolamento.
• Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias: Os EUA poderiam impor restrições a importações agrícolas brasileiras alegando riscos sanitários, como embargos a carnes ou frutas. Historicamente, vetos à carne bovina ocorreram de 2017 a 2020. Isso atuaria como tarifa encoberta, impactando o agronegócio.
• Restrições Tecnológicas: Especulações incluem bloqueio de GPS ou satélites sobre o Brasil, prejudicando navegação e agricultura. Restrições a semicondutores ou software, como contra China, afetariam indústria e defesa. Suspensão de cooperações com NASA é hipotética.
• Outras Opções: Sanções coordenadas com OTAN ou bloqueio na OCDE. Rumores de asilo a Bolsonaro ou apoio à oposição brasileira. Aliados de Trump afirmam que “todas as opções estão na mesa”. Essas medidas indicam escalada potencial, inibindo respostas brasileiras imediatas.
Cenários de Rompimento Diplomático
Analistas avaliam riscos de rompimento diplomático. Rumores bolsonaristas sugerem corte total após ações do STF contra Bolsonaro, vistas como “declaração de guerra”.
Rompimentos variam: parcial (recall de embaixadores) ou total (fechamento de embaixadas), como com Cuba (1961-2015) ou Irã. Inédito para Brasil-EUA, aliados tradicionais.
Fontes diplomáticas em Washington manifestaram surpresa com esses rumores, indicando que tal ruptura não fazia parte das discussões oficiais e seria vista como uma medida drástica e contraproducente.
História mostra atritos sem rompimento, como críticas de Carter à ditadura brasileira em 1977.
Interesses mútuos sugerem evitar ruptura, apesar de tensões.
Impacto Econômico nos Setores Brasileiros
A tarifa de 50% e sanções potenciais afetam setores chave.
• Agronegócio: 12% das exportações brasileiras vão aos EUA (soja, café, suco de laranja, carne). Tarifa torna produtos caros, levando a perdas. Barreiras sanitárias agravam. Queda de preços internos e redirecionamento para Ásia elevam custos.
• Energia: Petróleo representa 14% das exportações aos EUA. Tarifa força redirecionamento, reduzindo lucros da Petrobras e volatilizando preços domésticos.
• Tecnologia e Indústria: Embraer perde mercado em aviões (6,7% das exportações). Siderurgia (aço, alumínio) enfrenta suspensões de contratos. Projeções: perda de 44-120 mil empregos em SP, queda de 2,7% no PIB estadual.
• Macroeconomia Geral: Exportações aos EUA (US$ 40,3 bi em 2024) caem, pressionando câmbio (dólar a R$ 5,60) e bolsa. Investimentos postergados; diversificação reduz dependência. Choque pode desacelerar crescimento em 2025-2026, com medidas de emergência como créditos de R$ 100 mi no RS.
Respostas Brasileiras
O Brasil responde em frentes diplomática, comercial, legal e estratégica.
• Diplomáticas: Protestos formais e negociações. Lula criticou Trump; Alckmin conversou com Lutnick. Busca apoio no Mercosul, OMC e ONU.
• Comerciais: Sem retaliação imediata para evitar escalada. Plano de contingência: créditos, fundos de compensação, novos mercados (China, Ásia). Substituição de importações americanas.
• Legais: Disputa na OMC por violações. Leis internas contra conluio com estrangeiros. Denúncias em BRICS.
• Estratégicas: Aproximação com Europa, China; diversificação via Mercosul-UE. Reforço em defesa e unidade interna.
Exemplos Históricos
• Venezuela: Sanções desde 2017 (Trump expandiu), embargando petróleo. Colapso econômico, mas Maduro resiste com apoio russo-chinês.
• China: Guerra comercial 2018-2019: tarifas de 25% em US$ 360 bi. Acordo Fase 1 parcial; China busca autossuficiência.
• Cuba: Embargo desde 1962; enfraquece economia, mas regime persiste. Isolamento diplomático dos EUA.
• Rússia: Pós-2022: exclusão de SWIFT, embargo energético. Resiliência russa via Ásia, mas danos cumulativos.
• Turquia: 2018: tarifas dobradas por detenção de pastor. Queda da lira leva à liberação; Turquia diversifica.
Para maiores informações:
arko@arkoadvice.com.br