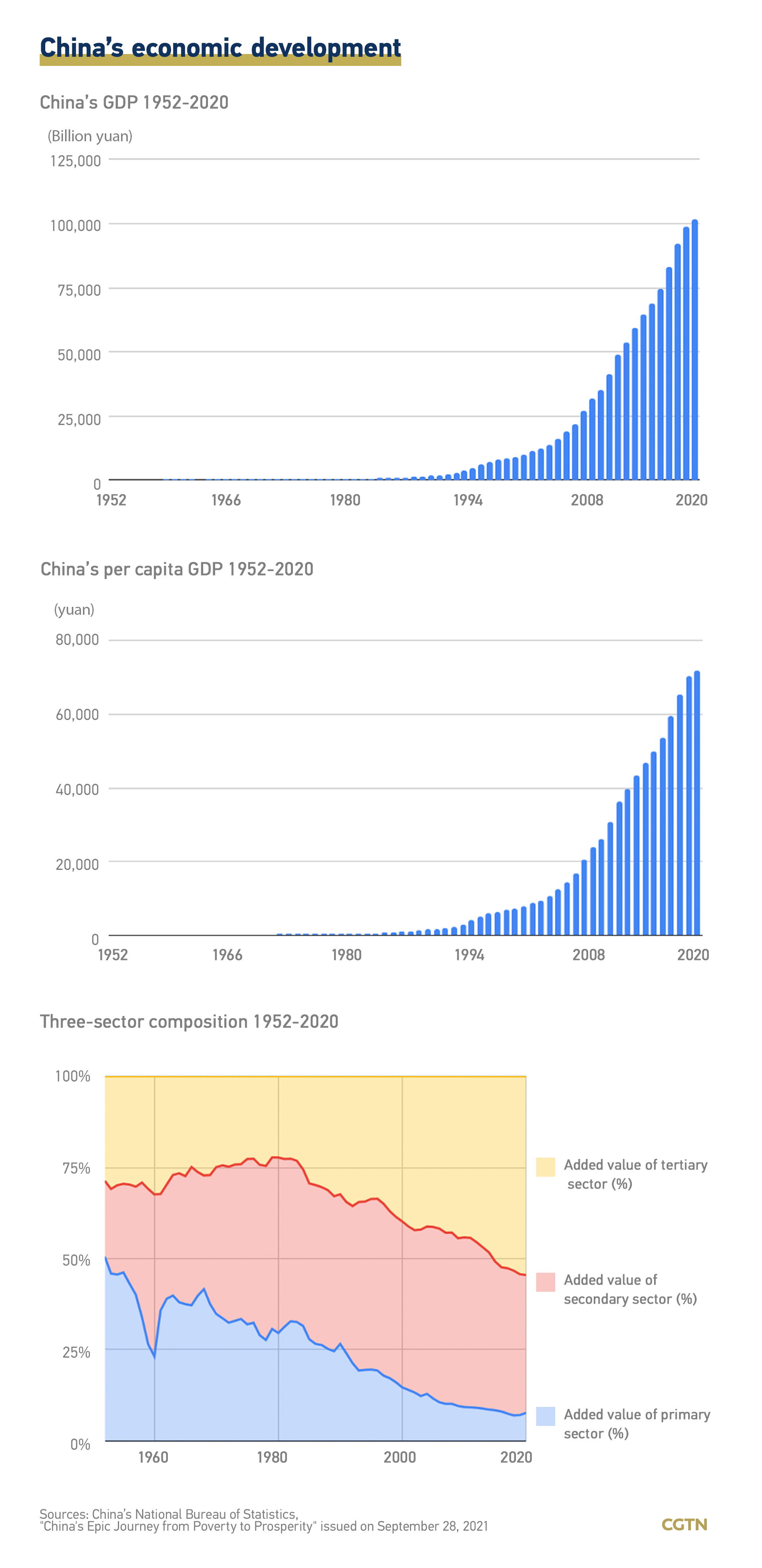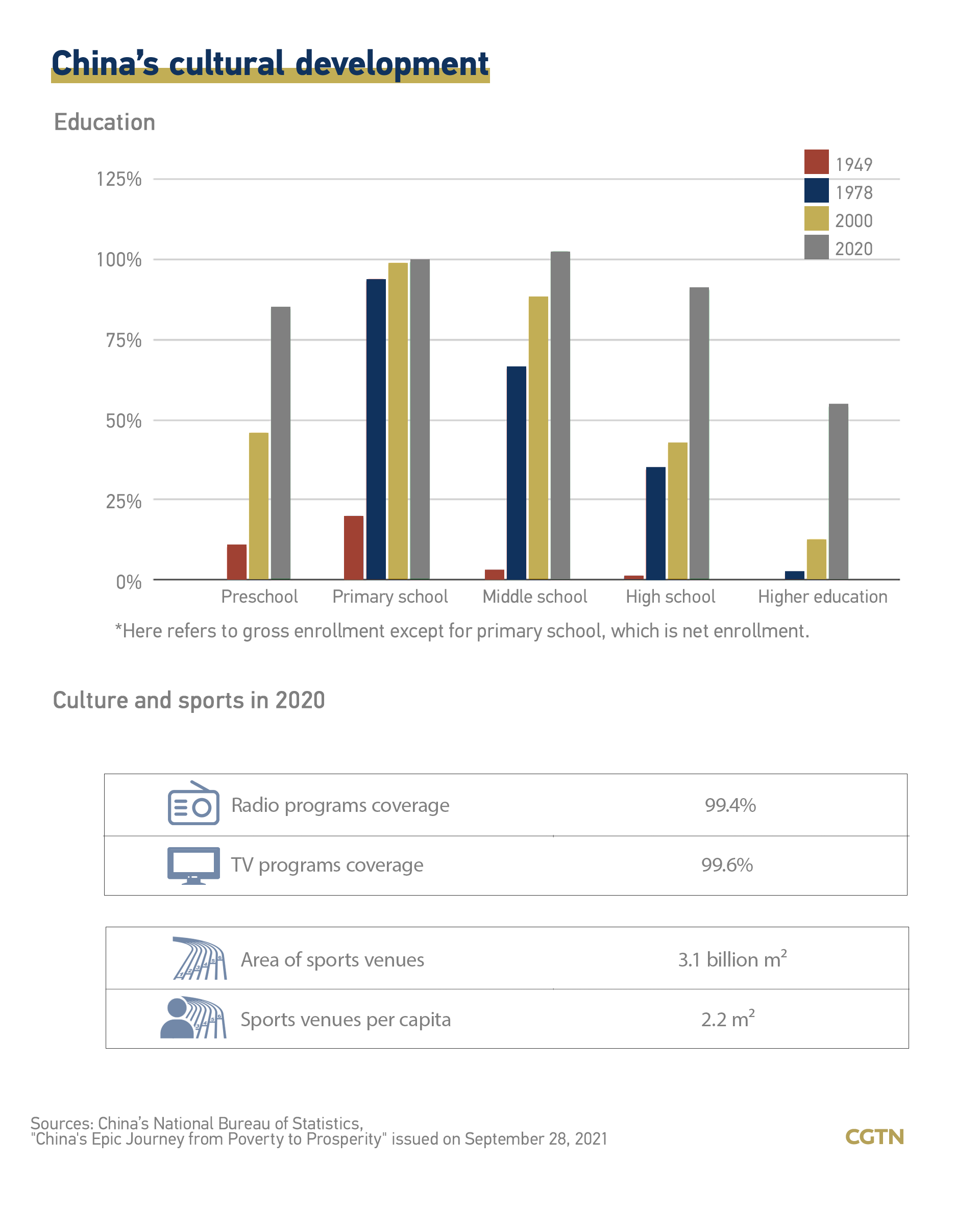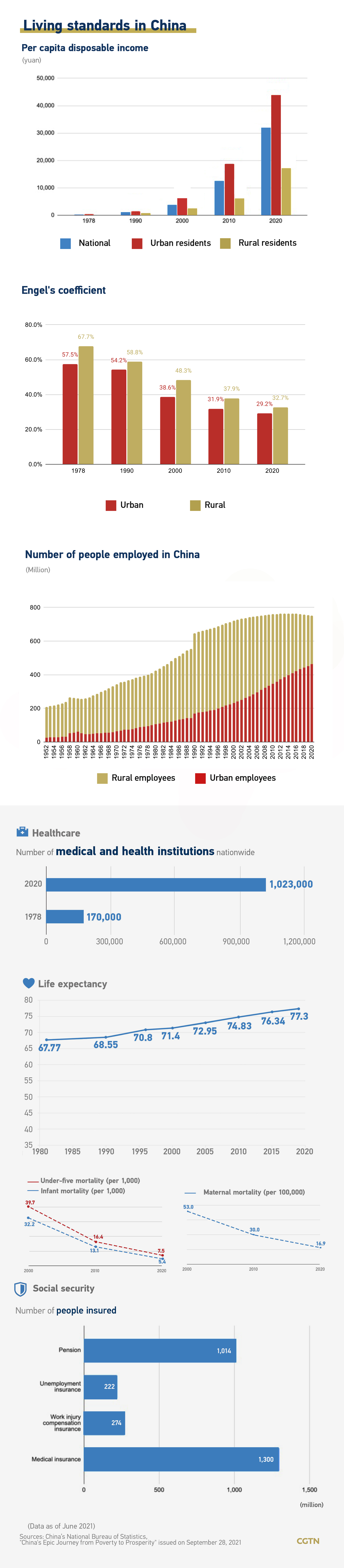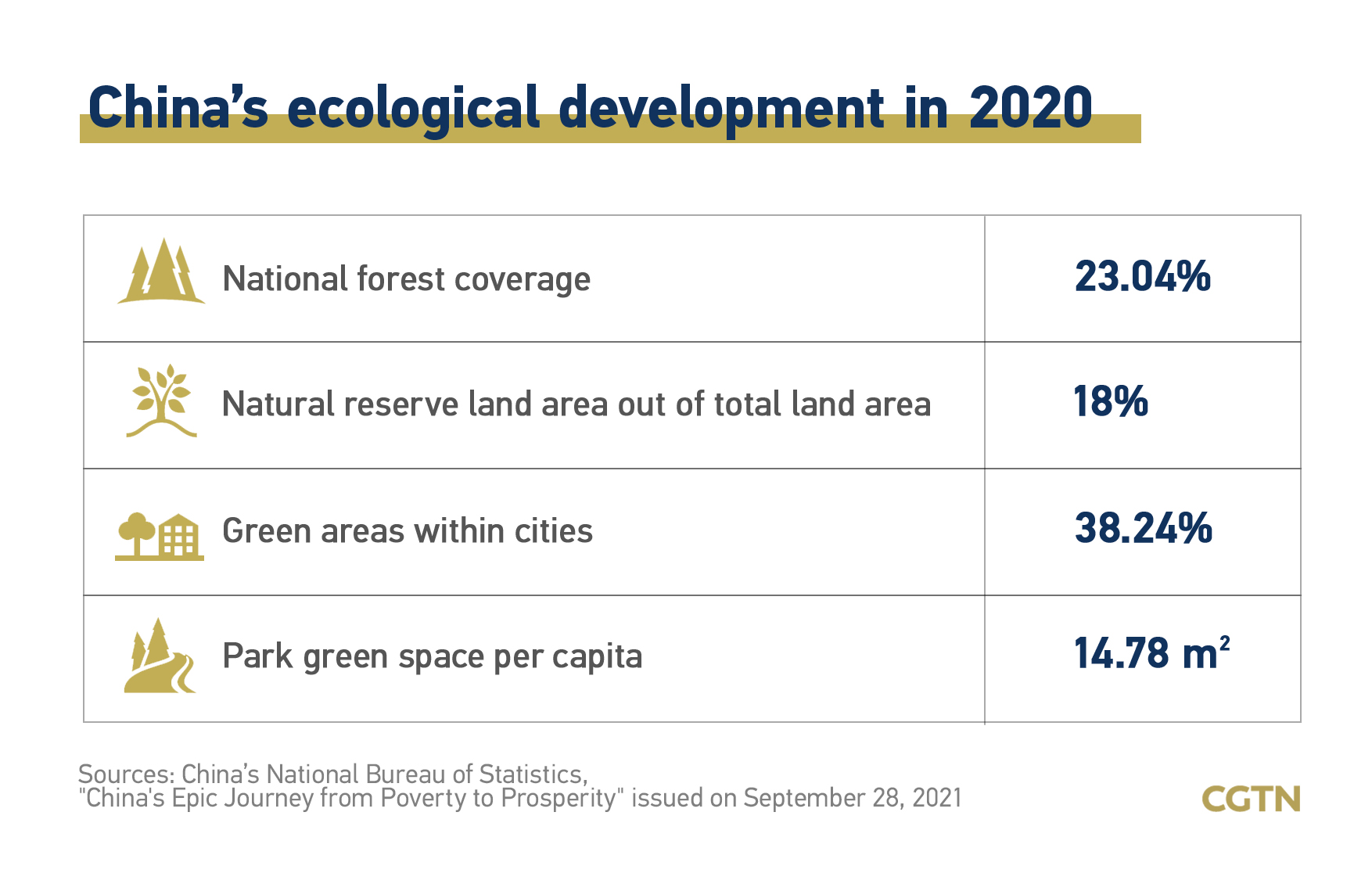Os novos desafios globais e o Itamaraty
Nos últimos anos o País não soube interpretar corretamente, segundo seus interesses, o sentido das mudanças
Rubens Barbosa, O Estado de S.Paulo
28 de setembro de 2021 | 03h00
O discurso do presidente Bolsonaro na ONU recoloca em pauta a função e as atribuições do Itamaraty. A competência e o conselho informado para responder aos desafios que o Brasil está enfrentando foram deixados de lado. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) perdeu o lugar que sempre teve como principal auxiliar do presidente na formulação e execução da política externa e de efetivo coordenador dos temas de interesse do Brasil na área externa.
O mundo atravessa um momento de grandes transformações nas áreas política, econômica e social. A geopolítica e a geoeconomia, que foram se modificando na última década, vão passar por uma série de ajustes com a saída dos EUA do Afeganistão. Qual o lugar dos EUA no mundo? Como a China, a nova superpotência comercial, tecnológica e militar, evoluirá? Como se desenvolverá o novo polo dinâmico de crescimento econômico e de comércio exterior? Qual o impacto dos rápidos avanços tecnológicos (5G e Inteligência Artificial)? Como a preocupação global sobre meio ambiente e mudança de clima será traduzida em medidas comerciais restritivas? Como o acirramento da competição global entre China e EUA pela hegemonia política no século 21 afetará os países? Qual o efeito sobre a globalização do reordenamento produtivo, das cadeias de produção, protecionismo, autonomia soberana, revolução energética, crise no multilateralismo? Como a regionalização afetará a geopolítica e a geoeconomia global (fortalecimento das potências regionais e dos acordos regionais)? Qual o futuro papel da América do Sul – continuará na periferia? Quais os riscos criados pelas novas ameaças (terrorismo, ataques cibernéticos, guerra no espaço)?
O Brasil, nos últimos dois anos, não soube interpretar corretamente, segundo seus interesses, o sentido dessas mudanças. Qual será o lugar do Brasil neste mundo que emerge? Como as grandes transformações econômica, comerciais, tecnológicas e geopolíticas e geoeconômicas poderão afetar o interesse nacional? Como o Brasil se posicionará no contexto hemisférico e regional? Como o Brasil deverá reagir com a ampliação da confrontação entre China e EUA? Como o Brasil poderá contribuir para o fortalecimento da governança global? Como ficarão as políticas em relação às negociações em fóruns multilaterais (o Brasil assume em 2023 lugar no Conselho de Segurança da ONU)? Como implementar os objetivos estratégicos e os interesses do Brasil nas áreas onde pretende ter influência, como América do Sul, Antártica e o Oceano Atlântico até a costa ocidental da África, como definido na Política Nacional de Defesa (quais as implicações militares e políticas do oferecimento de parceria global com a Otan)?
Nossos interesses imediatos do ponto de vista da projeção externa incluem, em especial, a mudança da percepção externa negativa sobre o País, a volta do protagonismo nas negociações sobre meio ambiente e mudança de clima, com uma nova política em relação à proteção da Amazônia, a definição de uma política proativa para a América do Sul, o aperfeiçoamento da inteligência e da promoção no comércio exterior, a reativação da participação do Brasil nos organismos multilaterais (políticos e econômico-comerciais) e posição equidistante no confronto EUA-China, definindo, em cada caso, o interesse nacional acima de considerações ideológicas ou geopolíticas).
O Itamaraty – instituição de Estado, dedicada ao serviço dos interesses permanentes do País – terá de adequar a política externa aos novos desafios internos e externos com dinamismo e inovação. Para operar neste novo cenário, o Itamaraty precisa mais uma vez se renovar, pois nos últimos dois anos deixou de gozar da unanimidade nacional, em razão de interferências indevidas em seu trabalho analítico e em seus processos decisórios. Internamente, terá de promover uma reforma estrutural para corrigir as distorções das mudanças ocorridas em 2019 e fortalecer com pessoal os departamentos e secretarias em Brasília e as embaixadas, onde se concentrarão muitos dos interesses comerciais brasileiros, como a Ásia, o Sudeste da Ásia, a América do Sul e os Brics. A nova gestão à frente do MRE – que busca restabelecer a normalidade e as prioridades nas atividades da Casa – formalizou na presidência da Asean o interesse do Brasil em tornar-se parceiro de diálogo setorial desta associação asiática, em razão do grande interesse comercial para o agronegócio nacional. A criação de mais postos no exterior deveria estar subordinada a essas prioridades.
Os desafios que o Brasil terá de enfrentar nos próximos anos forçarão uma mudança de atitude dos funcionários diplomáticos e do governo como um todo para atender às demandas dos novos tempos. A presença mais ativa e visível do Itamaraty será importante para a recuperação de seu papel de coordenação nas matérias relacionadas com a área externa. Será imperativo dialogar com a academia e a sociedade civil em geral, e, em especial, abandonar posturas defensivas e tendências partidárias e ideológicas que contribuíram para a perda de sua influência e para o isolamento do Brasil num mundo em crescente transformação.
A reconstrução do Itamaraty e da política externa deveria ser uma das prioridades para um novo governo em janeiro de 2023.
* MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, É PRESIDENTE DO IRICE
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,os-novos-desafios-globais-e-o-itamaraty,70003852533
Sobre o Brasil, as Nações Unidas e o multilateralismo
Democracia e Diplomacia
Colunista do UOL
28/09/2021 04h00
Por Cristina Soreanu Pecequilo*
De 2019 a 2021, assistir ao discurso brasileiro na sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) tornou-se um fato recorrente que apresenta um ciclo de expectativa, conformidade e frustração e/ou satisfação.
Além da curiosidade, a expectativa deriva da esperança de mudança de rumos em um cenário de crise, à medida que a relevância deste rito diplomático poderia gerar a contenção de rupturas. A conformidade é a percepção de que a retórica se manteve: os que esperavam mudança se frustram, e os que não desejavam alterações mantêm a satisfação.
Esta situação não é novidade. Desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), atravessando as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma Rousseff (2011-2016) e Michel Temer (2016/2018), a participação do Brasil na ONU e no sistema multilateral vem sofrendo de uma intensa polarização, à medida que a política externa é um retrato das divisões internas.
Tais divisões organizam-se em torno das disputas sobre o modelo social e de desenvolvimento: capitalismo de Estado x neoliberalismo, diversificação produtiva x reprimarização, secularismo x fundamentalismo, somente para citar algumas.
Em 2021, repetiu-se uma retórica multi nível, refletindo as diversas metas dos grupos de interesse que compõem a coalizão governamental. Três dimensões estiveram presentes: a político-social-cultural, a estratégica-diplomática e a econômica. Enquanto a primeira esteve associada aos temas da nacionalidade, soberania, negacionismo e conservadorismo, a estratégica-diplomática tendeu ao unilateralismo e às críticas, enquanto a terceira, a econômica, procurou descolar-se das demais.
Esta tática busca garantir os interesses brasileiros, principalmente dos setores exportadores de commodities, desconectar as parcerias de agendas radicais que possam prejudicar comércio e investimentos, e apresentar uma nação responsável diante do mundo. Enquanto isso, a realidade se impõe, em meio à pandemia e às instabilidades institucionais, pois não é possível apagar o passado, o presente e nem a sombra do futuro.
Estas múltiplas camadas retóricas não são exclusivas do Brasil à medida que outras nações, incluindo os Estados Unidos e a China, levam ao espaço da ONU, e de outras instituições, demandas associadas à pauta doméstica e seus objetivos estratégicos. Mais do que "falar à ONU e ao mundo", chefes de Estado e de governo dirigem-se a seus públicos internos e a seus adversários globais.
Este comportamento não se limita à abertura da AGNU, sendo uma ação sistemática que mina a cooperação. Cada vez mais a ONU e os alicerces do sistema multilateral construído no pós-Segunda Guerra Mundial em 1945 perdem espaço para instituições e alianças mais restritas, que permitem o exercício de interesses particulares com maior facilidade.
Esta dinâmica revela muito sobre a relação entre os Estados e o sistema multilateral, e a incompreensão sobre o que ele é e como funciona. Desde a sua fundação, este sistema alterna fases de consolidação, expansão e crise diretamente relacionadas aos compromissos assumidos por suas partes (os Estados membros).
Negociar é assumir a possibilidade de perder e ceder em nome do consenso, em um cálculo permanente de custos e benefícios, em um contexto que depende da convergência de interesses e princípios. Ainda assim, as falhas ou sucessos das organizações não são atribuídos a estes problemas de ação coletiva, mas sim a sua natureza: um instrumento de força para os poderosos, a voz dos fracos, uma soma fragmentada das partes ou entes autônomos que impõem sua vontade sobre as nações.
Destas percepções, a última justifica radicalismos, porém é a menos verdadeira. Raramente, ou quase nunca, uma organização é capaz de impor regimes ou embargos, a não ser que existam grandes potências envolvidas em uma relação assimétrica (vide o caso das tensões nucleares EUA e Irã). Predominam condicionalidades ou a condenação verbal.
O Brasil pode até ser citado como exemplo: independente das críticas recebidas sobre suas ações no campo ambiental e dos direitos humanos, o país retornará ao Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente em cadeira rotativa no biênio 2022/2023 e até 2022 é membro do Conselho de Direitos Humanos. Afinal, o que é fato ou fake no sistema multilateral?
Ele é a convergência de todas as outras avaliações: a voz dos fortes, dos fracos, e uma soma de partes, sustentado pelo pragmatismo e idealismo, que garantiu canais de cooperação diplomática permanente e participação. Evoluiu, reforçando valores, incorporando membros e temas à medida que o sistema internacional se transformava, com o processo de descolonização afro-asiática, a ascensão dos emergentes e do Sul, o regramento sobre direitos humanos, meio ambiente, armas de destruição em massa e desenvolvimento até chegar a iniciativas como a Agenda 2030 que combinam as diversas faces do empoderamento global.
O multilateralismo nunca foi para os fracos, muito pelo contrário, foi sempre o sistema dos fortes: seja dos que impunham seu poder, seja dos que, independentemente de seu poder relativo, foram ouvidos. Quanto mais sucesso teve, mais se aproximou de seus dilemas porque, devido à resistência a mudanças, barradas por seus membros, é incapaz de se atualizar e se encontra estagnado.
Por mais curioso que seja, o presidente Trump (2017-2021), associado de maneira simplória ao unilateralismo, tinha razão: é preciso repactuar o sistema multilateral, atualizando seus mecanismos de governança e representatividade. Certamente, não falamos da repactuação que o ex-presidente pensava, mas sim de um sistema multilateral mais inclusivo e que reflita as realidades geopolíticas e geoeconômicas de poder do século 21. Esse é um caminho possível e necessário com o qual o Brasil poderia contribuir como parte de sua reconstrução.
*Cristina Soreanu Pecequilo é professora de relações internacionais da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)
https://noticias.uol.com.br/colunas/democracia-e-diplomacia/2021/09/28/sobre-o-brasil-as-nacoes-unidas-e-o-multilateralismo.htm