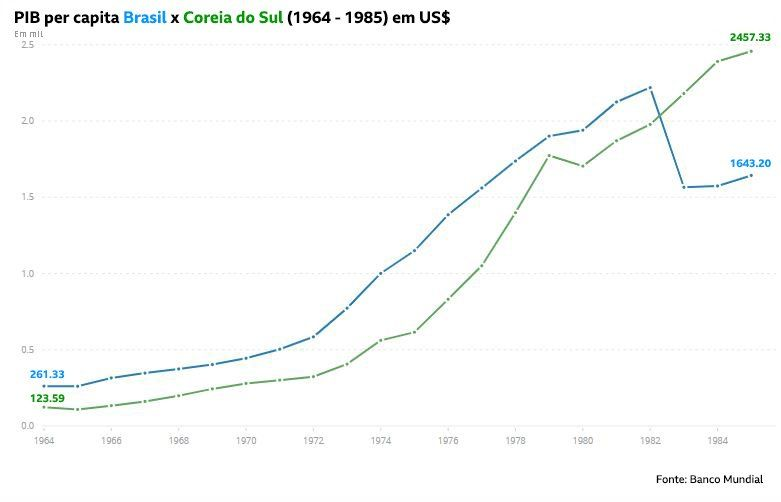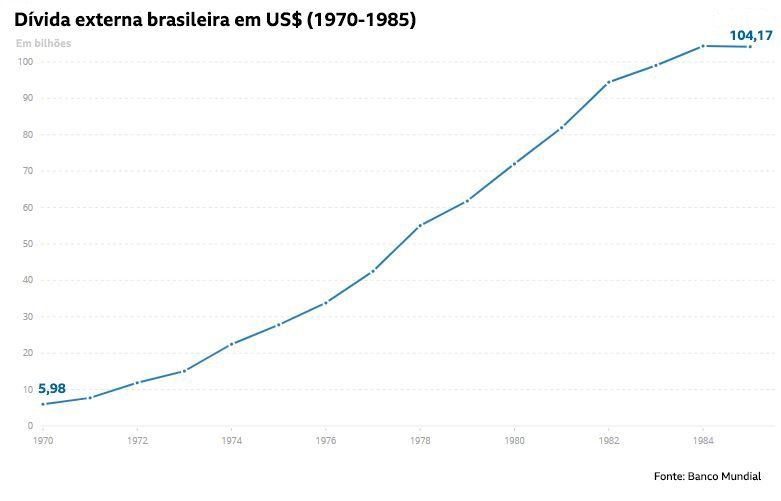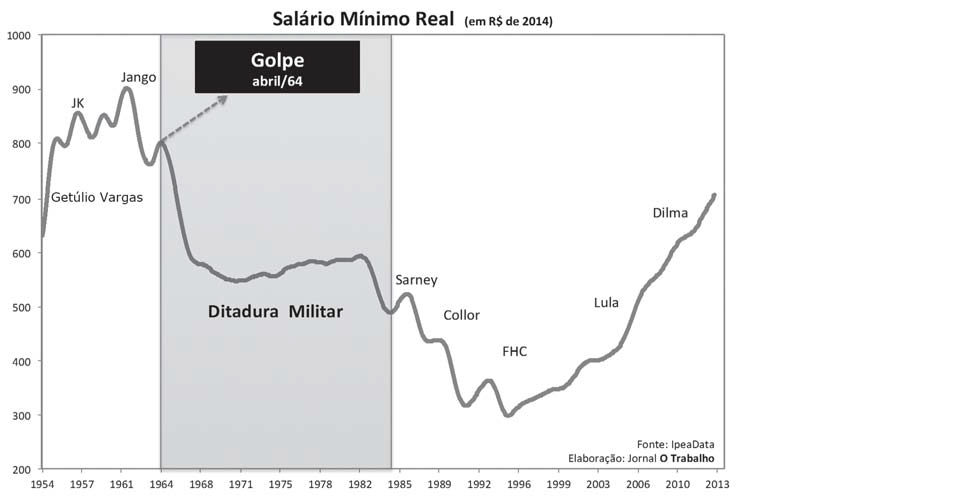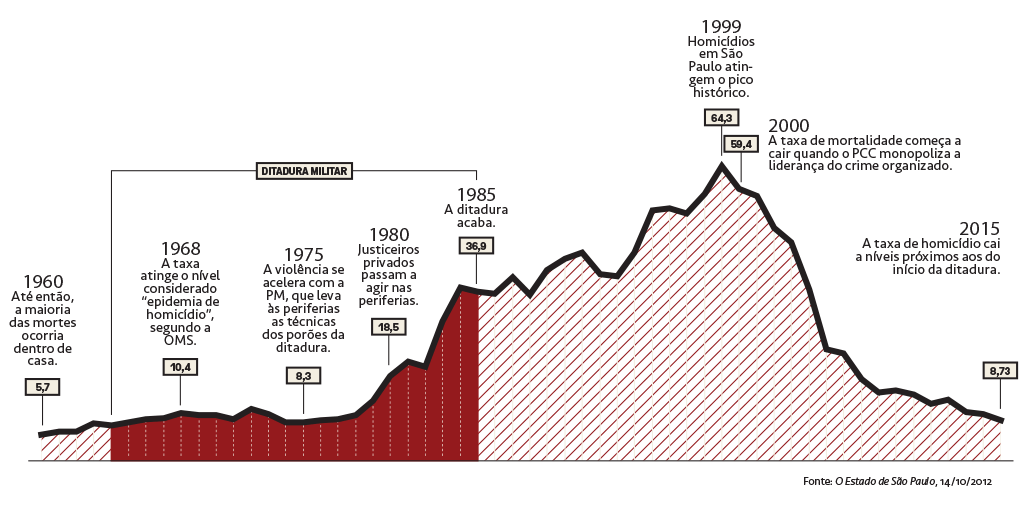"Henry Kissinger ignorou violações de direitos humanos, se aproximou de ditadura e colocou Brasil na posição de aliado principal dos EUA"
Matias Spektor, entrevista
Mundo | G1, 1/12/2023
Para Henry Kissinger, um dos mais influentes diplomatas da história dos Estados Unidos, morto aos 100 anos nesta quarta-feira (29), o Brasil ditatorial era um país a ser apoiado e fortalecido.
“Deveríamos ser capazes de trabalhar com mais frequência com eles [brasileiros] para avançar nossos interesses mútuos no hemisfério”, afirmou o então Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos em 1970, quando o Brasil enfrentava alguns dos anos mais duros do regime militar (1964-1985).
A frase está no livro “Kissinger e o Brasil”, de Matias Spektor, professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador visitante na Universidade de Princeton, nos EUA.
Naquele momento, os interesses em comum consistiam, principalmente, em evitar a manutenção e a proliferação de governos de esquerda na América do Sul.
“Quando Kissinger chega ao poder, em 1969 [como conselheiro do então presidente Richard Nixon], ele enxerga que o Brasil pode ser uma âncora de estabilidade para a América do Sul. Era o auge da guerra fria, vários países do continente pareciam estar indo para esquerda, mais especificamente Argentina, Uruguai e Chile. O Brasil era, então, a única ditadura de direita. Já havia denúncias de pau de arara, mas ele faz vista grossa”, diz Spektor, em entrevista ao g1.\
O diplomata americano não só ignorou as denúncias de violações de direitos humanos. Ele foi muito além: desenvolveu uma ótima relação pessoal com o presidente general Emílio Médici, apoiando o governo dele, assim como o programa nuclear brasileiro.
Também atuou para que fosse instituído um canal de comunicação secreto entre o governo americano e o brasileiro (que possibilitava a troca de informações sobre iniciativas dos dois países na América do Sul) e para que os Estados Unidos reconhecessem o Brasil como principal aliado no continente.
“Eles [os dois governos] fazem uma reunião secreta em 1971, na qual combinam que vão trabalhar juntos para impedir que governos de esquerda cheguem ao poder pela via eleitoral na América do Sul. Também combinam que, juntos, vão tentar desestabilizar o governo de Salvador Allende no Chile, que era um socialista”, conta Spektor.
Os esforços de Kissinger na relação com o aliado sul-americano podem ser resumidos na frase com que o então presidente Richard Nixon recebeu Médici em 1971: “Para onde o Brasil for, irá o resto da América Latina”. Era a expressão do desejo do governo americano de que o restante dos países do continente caminhassem para regimes autoritários e anticomunistas.
“E veja que foi o que aconteceu: em 1964, quando tem o golpe no Brasil, a única ditadura na América do Sul era o Paraguai. Em 1974, dez anos depois, os únicos dois países que não são ditaduras são a Colômbia e a Venezuela. O período Kissinger coincide com a transformação de uma América do Sul democrática para um América do Sul ditatorial”, explica Spektor.
Vista grossa e anuência tácita
Em 1974, o então diretor da CIA, a agência de inteligência do governo americano, enviou um telegrama a Kissinger, então secretario de Estado (posição equivalente a de ministro das Relações Exteriores), com o seguinte assunto: “Decisão do presidente brasileiro, Ernesto Geisel, de continuar com as execuções sumárias de subversivos perigosos, sob certas condições”.
O documento, descoberto por Spektor durante pesquisas em 2018, demonstra não apenas o envolvimento direto da cúpula do governo militar no assassinato de opositores, mas também o fato de que Kissinger, então uma das principais autoridades do governo americano, tinha pleno conhecimento das brutais ações repressivas cometidas pelo governo aliado.
“Ele era informado, sabia do que estava acontecendo e não deixava isso atrapalhar a relação. Estamos falando de uma região do mundo na qual os EUA tem mais autoridade. Se o governo americano tivesse dito: ‘parem de torturar’, isso teria tido um efeito”, diz Spektor.
“Se o chefe da diplomacia dá uma anuência tácita à tortura, isso faz toda diferença”.
A mudança de postura do governo americano só aconteceu após a vitória eleitoral, em 1976, de Jimmy Carter que, durante a campanha, afirma que a relação desenvolvida por Kissinger com o Brasil era um “tapa na cara dos americanos” -- àquela altura, o Congresso americano já havia começado uma investigação para apurar o papel dos EUA nas torturas na América Latina, o que, segundo Spektor, diminuiu o espaço político para que Kissinger continuasse apoiando os regimes autoritários.
Mesmo assim, a “anuência tácita” de Kissinger continuou tendo graves consequências. Um exemplo se deu durante a Operação Condor, atividades coordenadas das ditaduras sul-americanas, lideradas pelo Chile e pela Argentina, para perseguir e eliminar opositores a partir de meados da década de 1970.
Em setembro de 1976, descobrem que a Operação Condor pretendia assassinar opositores no exterior e preparam um documento aos líderes sul-americanos dizendo que os Estados Unidos não tolerariam algo assim. Kissinger não aprovou a mensagem e instruiu que mais nada fosse feito.
Cinco dias depois, um atentado matou, em Washington, o ex-ministro de Relações Exteriores do Chile, Orlando Letelier, durante o governo Allende, e uma colega americana.
“A partir daí o movimento de solidariedade ao Chile nos Estados Unidos torna impossível que Kissinger continue apoiando Pinochet [ditador no país sul-americano], diz Spektor.
O envolvimento do americano em ações violentas em outros países não acaba aí. Ele também autorizou bombardeios no Camboja, durante a Guerra do Vietnã, que deixaram centenas de milhares de mortos, e apoiou um massacre cometido pela Índia em Bangladesh.
Plano para o Brasil frustrado
A ideia de Kissinger de que os Estados Unidos pudessem, eventualmente, delegar funções para o Brasil na América do Sul e a visão dele de que o país pudesse assumir uma posição de liderança no continente foi frustrada ao longo dos anos.
Durante o governo de Ernesto Geisel (1974-1979), discordâncias em outras áreas começam a afetar a relação entre os dois países, especialmente na área comercial. Diferentemente do esperado pelos americanos, o Brasil não se alinhou automaticamente aos Estados Unidos em votações em fóruns multilaterais e na negociações de tratados internacionais.
“É uma relação que fica progressivamente tensa. O projeto que o Kissinger tinha em 1969 de fazer uma grande aproximação geopolítica com o Brasil afunda ao longo dos anos e termina fracassando”, explica Spektor.
Segundo o professor, o americano também começa a se frustrar ao perceber que o Brasil não queria assumir a função de intervir mais diretamente nos processos políticos e eleitorais dos outros países sul-americanos.
“Não pelo Brasil ser bonzinho, mas por achar que não tinha força pra desempenhar essa função em todo o continente”, diz. “O Brasil cumpre essa função no Uruguai, apoia o golpe de Pinochet, mas não foi a causa. Kissinger esperava mais”.
Depois de deixar o governo americano, em 1977, Kissinger manteve relações com o Brasil, mas como consultor de empresas americanas que faziam negócios em terras brasileiras e de firmas brasileiras que atuavam nos Estados Unidos.
Em 1981, ele esteve no Brasil e foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Brasília. Foi recebido por estudantes com uma chuva de ovos e tomates e saiu escoltado.
SAIBA MAIS: